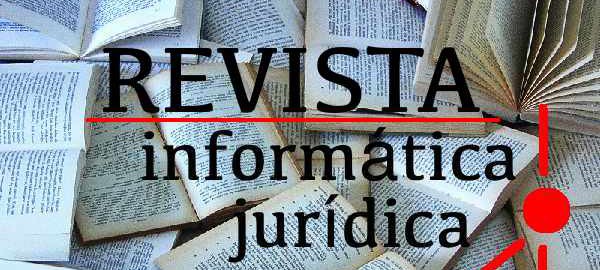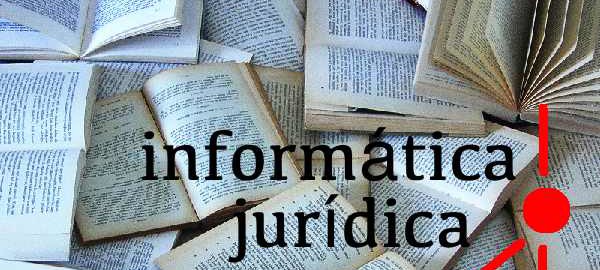Todas las entradas de Demócrito Reinaldo Filho
China’s Cyber Security Law (CSL)
China’s Cyber Security Law (CSL), Passed November 6, 2016. Effective June 1, 2017
Chapter I.- General Provisions
Article 1
This Law is formulated in order to: ensure cybersecurity; safeguard cyberspace sovereignty and national security, and social and public interests; protect the lawful rights and interests of citizens, legal persons, and other organizations; and promote the healthy development of the informatization of the economy and society.
Article 2
This Law is applicable to the construction, operation, maintenance, and use of networks, as well as to cybersecurity supervision and management within the mainland territory of the People’s Republic of China.
Article 3
The State persists in equally stressing cybersecurity and informatization development, and abides by the principles of active use, scientific development, management in accordance with law, and ensuring security. The State advances the construction of network infrastructure and interconnectivity, encourages the innovation and application of network technology, supports the cultivation of qualified cybersecurity personnel, establishes a complete system to safeguard cybersecurity, and raises capacity to protect cybersecurity.
Article 4
The State formulates and continuously improves cybersecurity strategy, clarifies the fundamental requirements and primary goals of ensuring cybersecurity, and puts forward cybersecurity policies, work tasks, and procedures for key sectors.
Article 5
The State takes measures for monitoring, preventing, and handling cybersecurity risks and threats arising both within and without the mainland territory of the People’s Republic of China. The State protects critical information infrastructure against attacks, intrusions, interference, and destruction; the State punishes unlawful and criminal cyber activities in accordance with the law, preserving the security and order of cyberspace.
Article 6
The State advocates sincere, honest, healthy and civilized online conduct; it promotes the dissemination of core socialist values, adopts measures to raise the entire society’s awareness and level of cybersecurity, and formulates a good environment for the entire society to jointly participate in advancing cybersecurity.
Article 7
The State actively carries out international exchanges and cooperation in the areas of cyberspace governance, research and development of network technologies, formulation of standards, attacking cybercrime and illegality, and other such areas; it promotes constructing a peaceful, secure, open, and cooperative cyberspace, and establishing a multilateral, democratic, and transparent Internet governance system.
Article 8
State cybersecurity and informatization departments are responsible for comprehensively planning and coordinating cybersecurity efforts and related supervision and management efforts. The State Council departments for telecommunications, public security, and other relevant organs, are responsible for cybersecurity protection, supervision, and management efforts within the scope of their responsibilities, in accordance with the provisions of this Law and relevant laws and administrative regulations.
Cybersecurity protection, supervision, and management duties for relevant departments in people’s governments at the county level or above will be determined by relevant national regulations.
Article 9
Network operators carrying out business and service activities must follow laws and administrative regulations, respect social morality, abide by commercial ethics, be honest and credible, perform obligations to protect cybersecurity, accept supervision from the government and public, and bear social responsibility.
Article 10
The construction and operation of networks, or the provision of services through networks, shall be done: in accordance with the provisions of laws and administrative regulations, and with the mandatory requirements of national standards; adopting technical measures and other necessary measures to safeguard cybersecurity and operational stability; effectively responding to cybersecurity incidents; preventing cybercrimes and unlawful activity; and preserving the integrity, secrecy, and usability of online data.
Article 11
Relevant Internet industry organizations, according to their Articles of Association, shall strengthen industry self-discipline, formulate cybersecurity norms of behavior, guide their members in strengthening cybersecurity protection according to the law, raise the level of cybersecurity protection, and stimulate the healthy development of the industry.
Article 12
The State protects the rights of citizens, legal persons, and other organizations to use networks in accordance with the law; it promotes widespread network access, raises the level of network services, provides secure and convenient network services to society, and guarantees the lawful, orderly, and free circulation of network information.
Any person and organization using networks shall abide by the Constitution and laws, observe public order, and respect social morality; they must not endanger cybersecurity, and must not use the Internet to engage in activities endangering national security, national honor, and national interests; they must not incite subversion of national sovereignty, overturn the socialist system, incite separatism, break national unity, advocate terrorism or extremism, advocate ethnic hatred and ethnic discrimination, disseminate violent, obscene, or sexual information, create or disseminate false information to disrupt the economic or social order, or information that infringes on the reputation, privacy, intellectual property or other lawful rights and interests of others, and other such acts.
Article 13
The State encourages research and development of network products and services conducive to the healthy upbringing of minors; the State will lawfully punish the use of networks to engage in activities that endanger the psychological and physical well-being of minors; and the State will provide a safe and healthy network environment for minors.
Article 14
All individuals and organizations have the right to report conduct endangering cybersecurity to cybersecurity and informatization, telecommunications, public security, and other departments. Departments receiving reports shall promptly process them in accordance with law; where matters do not fall within the responsibilities of that department, they shall promptly transfer them to the department empowered to handle them.
Relevant departments shall preserve the confidentiality of the informants’ information and protect the lawful rights and interests of informants.
Chapter II.- The Support and Promotion of Cybersecurity
Article 15
The State establishes and improves a system of cybersecurity standards. State Council standardization administrative departments and other relevant State Council departments, on the basis of their individual responsibilities, shall organize the formulation and timely revision of relevant national and industry standards for cybersecurity management, as well as for the security of network products, services, and operations.
The State supports enterprises, research institutions, schools of higher learning, and network-related industry organizations to participate in the formulation of national and industry standards for cybersecurity.
Article 16
The State Council and people’s governments of provinces, autonomous regions, and directly-governed municipalities shall: do comprehensive planning; expand investment; support key cybersecurity technology industries and programs; support cybersecurity technology research and development, application, and popularization; promote secure and trustworthy network products and services; protect intellectual property rights for network technologies; and support research and development institutions, schools of higher learning, etc., to participate in State cybersecurity technology innovation programs.
Article 17
The State advances the establishment of socialized service systems for cybersecurity, encouraging relevant enterprises and institutions to carry out cybersecurity certifications, testing, risk assessment, and other such security services.
Article 18
The State encourages the development of network data security protection and utilization technologies, advancing the opening of public data resources, and promoting technical innovation and economic and social development.
The State supports innovative methods of cybersecurity management, utilizing new network technologies to enhance the level of cybersecurity protection.
Article 19
All levels of people’s governments and their relevant departments shall organize and carry out regular cybersecurity publicity and education, and guide and stimulate relevant units in properly carrying out cybersecurity publicity and education work.
The mass media shall conduct targeted cybersecurity publicity and education aimed at the public.
Article 20
The State supports enterprises and education or training institutions, such as schools of higher learning and vocational schools, in carrying out cybersecurity-related education and training, and it employs multiple methods to cultivate qualified personnel in cybersecurity and promote the interaction of cybersecurity professionals.
Chapter III.- Network Operations Security
Section 1.- Ordinary Provisions
Article 21
The State implements a cybersecurity multi-level protection system [MLPS]. Network operators shall perform the following security protection duties according to the requirements of the cybersecurity multi-level protection system to ensure the network is free from interference, damage, or unauthorized access, and to prevent network data leaks, theft, or falsification:
(1) Formulate internal security management systems and operating rules, determine persons who are responsible for cybersecurity, and implement cybersecurity protection responsibility;
(2) Adopt technical measures to prevent computer viruses, cyber attacks, network intrusions, and other actions endangering cybersecurity;
(3) Adopt technical measures for monitoring and recording network operational statuses and cybersecurity incidents, and follow provisions to store network logs for at least six months;
(4) Adopt measures such as data classification, backup of important data, and encryption;
(5) Other obligations provided by law or administrative regulations.
Article 22
Network products and services shall comply with the relevant national and mandatory requirements. Providers of network products and services must not install malicious programs; when discovering that their products and services have security flaws or vulnerabilities, they shall immediately adopt remedial measures, and follow provisions to promptly inform users and report to the competent departments.
Providers of network products and services shall provide security maintenance for their products and services, and they must not terminate the provision of security maintenance during the time limits or period agreed on with clients.
If a network product or service has the function of collecting user information, its provider shall clearly indicate this and obtain consent from the user; and if this involves a user’s personal information, the provider shall also comply with the provisions of this law and relevant laws and administrative regulations on the protection of personal information.
Article 23
Critical network equipment and specialized cybersecurity products shall follow national standards and mandatory requirements, and be security certified by a qualified establishment or meet the requirements of a security inspection, before being sold or provided. The state cybersecurity and informatization departments, together with the relevant departments of the State Council, will formulate and release a catalog of critical network equipment and specialized cybersecurity products, and promote reciprocal recognition of security certifications and security inspection results to avoid duplicative certifications and inspections.
Article 24
Network operators handling network access and domain name registration services for users, handling stationary or mobile phone network access, or providing users with information publication or instant messaging services, shall require users to provide real identity information when signing agreements with users or confirming the provision of services. Where users do not provide real identity information, network operators must not provide them with relevant services.
The State implements a network identity credibility strategy and supports research and development of secure and convenient electronic identity authentication technologies, promoting reciprocal acceptance among different electronic identity authentication methods.
Article 25
Network operators shall formulate emergency response plans for cybersecurity incidents and promptly address system vulnerabilities, computer viruses, cyber attacks, network intrusions, and other such cybersecurity risks. When cybersecurity incidents occur, network operators should immediately initiate an emergency response plan, adopt corresponding remedial measures, and report to the relevant competent departments in accordance with relevant provisions.
Article 26
Those carrying out cybersecurity certification, testing, risk assessment, or other such activities—or publicly publishing cybersecurity information such as system vulnerabilities, computer viruses, network attacks, or network incursions—shall comply with relevant national provisions.
Article 27
Individuals and organizations must not engage in illegal intrusion into the networks of other parties, disrupt the normal functioning of the networks of other parties, or steal network data or engage in other activities endangering cybersecurity; they must not provide programs, or tools specially used in network intrusions, that disrupt normal network functions and protection measures, steal network data, or engage in other acts endangering cybersecurity; and where they clearly are aware that others will engage in actions that endanger cybersecurity, they must not provide help such as technical support, advertisement and promotion, or payment of expenses.
Article 28
Network operators shall provide technical support and assistance to public security organs and national security organs that are safeguarding national security and investigating criminal activities in accordance with the law.
Article 29
The State supports cooperation between network operators in areas such as the gathering, analysis, reporting, and emergency handling of cybersecurity information, increasing the security safeguarding capacity of network operators.
Relevant industrial organizations are to establish and complete mechanisms for standardization and coordination of cybersecurity for their industry, strengthen their analysis and assessment of cybersecurity, and periodically conduct risk warnings, support, and coordination for members in responding to cybersecurity risks.
Article 30
Information obtained by cybersecurity and informatization departments and relevant departments performing cybersecurity protection duties can only be used as necessary for the protection of cybersecurity, and must not be used in other ways.
Section 2.- Operations Security for Critical Information Infrastructure
Article 31
The State implements key protection on the basis of the cybersecurity multi-level protection system for public communication and information services, power, traffic, water resources, finance, public service, e-government, and other critical information infrastructure which—if destroyed, suffering a loss of function, or experiencing leakage of data—might seriously endanger national security, national welfare, the people’s livelihood, or the public interest. The State Council will formulate the specific scope and security protection measures for critical information infrastructure.
The State encourages operators of networks outside the [designated] critical information infrastructure systems to voluntarily participate in the critical information infrastructure protection system.
Article 32
In accordance with the duties and division of labor provided by the State Council, departments responsible for security protection work for critical information infrastructure are to separately compile and organize security implementation plans for their industry’s or sector’s critical information infrastructure, and to guide and supervise security protection efforts for critical information infrastructure operations.
Article 33
Those constructing critical information infrastructure shall ensure that it has the capability to support business stability and sustained operations, and ensure the synchronous planning, synchronous establishment, and synchronous application of security technical measures.
Article 34
In addition to the provisions of Article 21 of this Law, critical information infrastructure operators shall also perform the following security protection duties:
(1) Set up specialized security management bodies and persons responsible for security management, and conduct security background checks on those responsible persons and personnel in critical positions;
(2) Periodically conduct cybersecurity education, technical training, and skills evaluations for employees;
(3) Conduct disaster recovery backups of important systems and databases;
(4) Formulate emergency response plans for cybersecurity incidents, and periodically organize drills;
(5) Other duties provided by law or administrative regulations.
Article 35
Critical information infrastructure operators purchasing network products and services that might impact national security shall undergo a national security review organized by the State cybersecurity and informatization departments and relevant departments of the State Council.
Article 36
Critical information infrastructure operators purchasing network products and services shall follow relevant provisions and sign a security and confidentiality agreement with the provider, clarifying duties and responsibilities for security and confidentiality.
Article 37
Critical information infrastructure operators that gather or produce personal information or important data during operations within the mainland territory of the People’s Republic of China, shall store it within mainland China. Where due to business requirements it is truly necessary to provide it outside the mainland, they shall follow the measures jointly formulated by the State cybersecurity and informatization departments and the relevant departments of the State Council to conduct a security assessment; where laws and administrative regulations provide otherwise, follow those provisions.
Article 38
At least once a year, critical information infrastructure operators shall conduct an inspection and assessment of their networks’ security and risks that might exist, either on their own or through retaining a cybersecurity services organization; CII operators should submit a cybersecurity report on the circumstances of the inspection and assessment as well as improvement measures, to be sent to the relevant department responsible for critical information infrastructure security protection efforts.
Article 39
State cybersecurity and informatization departments shall coordinate relevant departments in employing the following measures for critical information infrastructure security protection:
(1) Conduct spot testing of critical information infrastructure security risks, put forward improvement measures, and when necessary they can retain a cybersecurity services organization to conduct testing and assessment of cybersecurity risks;
(2) Periodically organize critical information infrastructure operators to conduct emergency cybersecurity response drills, increasing the level, coordination, and capacity of responses to cybersecurity incidents.
(3) Promote cybersecurity information sharing among relevant departments, critical information infrastructure operators, and also relevant research institutions and cybersecurity services organizations.
(4) Provide technical support and assistance for cybersecurity emergency management and recovery, etc.
Chapter IV.- Network Information Security
Article 40
Network operators shall strictly maintain the confidentiality of user information they collect, and establish and complete user information protection systems.
Article 41
Network operators collecting and using personal information shall abide by the principles of legality, propriety, and necessity; they shall publish rules for collection and use, explicitly stating the purposes, means, and scope for collecting or using information, and obtain the consent of the persons whose data is gathered.
Network operators must not gather personal information unrelated to the services they provide; must not violate the provisions of laws, administrative regulations or agreements between the parties to gather or use personal information; and shall follow the provisions of laws, administrative regulations, and agreements with users to process personal information they have stored.
Article 42
Network operators must not disclose, tamper with, or destroy personal information they gather; and, absent the consent of the person whose information was collected, must not provide personal information to others. However, this is the case with the exception that information can be provided if after processing there is no way to identify a specific individual, and the identity cannot be recovered.
Network operators shall adopt technical measures and other necessary measures to ensure the security of personal information they gather and to prevent personal information from leaking, being destroyed, or lost. When the leak, destruction, or loss of personal information occurs, or might have occured, remedial measures shall be immediately taken, and provisions followed to promptly inform users and to make a report to the competent departments in accordance with regulations.
Article 43
Where individuals discover that network operators have violated the provisions of laws, administrative regulations, or agreements between the parties to gather or use their personal information, they have the right to demand the network operators delete their personal information; where discovering that personal information gathered or stored by network operators has errors, they have the right to demand the network operators make corrections. Network operators shall employ measures for deletions and corrections.
Article 44
Individuals or organizations must not steal or use other illegal methods to acquire personal information, and must not unlawfully sell or unlawfully provide others with personal information.
Article 45
Departments lawfully having cybersecurity supervision and management duties, and their staffs, must keep strictly confidential personal information, private information, and commercial secrets that they learn of in performing their duties, and they must not leak, sell, or unlawfully provide it to others.
Article 46
All individuals and organizations shall be responsible for their use of websites and must not establish websites or communications groups for use in perpetrating fraud, imparting criminal methods, the creation or sale of prohibited or controlled items, or other unlawful activities, and websites must not be exploited to publish information related to perpetrating fraud, the creation or sale of prohibited or controlled items, or other unlawful activities.
Article 47
Network operators shall strengthen management of information published by users and, upon discovering information that the law or administrative regulations prohibits the publication or transmission of, they shall immediately stop transmission of that information, employ handling measures such as deleting the information, prevent the information from spreading, save relevant records, and report to the relevant competent departments.
Article 48
Electronic information sent, or application software provided by any individual or organization, must not install malicious programs, and must not contain information that laws and administrative regulations prohibit the publication or transmission of.
Electronic information distribution service providers, and application software download service providers, shall perform security management duties; where they know that their users have engaged in conduct provided for in the preceding paragraph, they shall: employ measures such as stopping provision of services and removal of information or malicious programs; store relevant records; and report to the relevant competent departments.
Article 49
Network operators shall establish network information security complaint and reporting systems, publicly disclose information such as the methods for making complaints or reports, and promptly accept and handle complaints and reports relevant to network information security.
Network operators shall cooperate with cybersecurity and informatization departments and relevant departments in conducting implementation of supervision and inspections in accordance with the law.
Article 50
State cybersecurity and informatization departments and relevant departments will perform network information security supervision and management responsibilities in accordance with law; and where they discover the publication or transmission of information which is prohibited by laws or administrative regulations, shall request that network operators stop transmission, employ disposition measures such as deletion, and store relevant records; for information described above that comes from outside the mainland People’s Republic of China, they shall notify the relevant organization to adopt technical measures and other necessary measures to block transmission.
Chapter V.- Monitoring, Early Warning, and Emergency Response
Article 51:
The State will establish a cybersecurity monitoring, early warning, and information communication system. The State cybersecurity and informatization departments shall do overall coordination of relevant departments to strengthen collection, analysis, and reporting efforts for cybersecurity information, and follow regulations for the unified release of cybersecurity monitoring and early warning information.
Article 52
Departments responsible for critical information infrastructure security protection efforts shall establish and complete cybersecurity monitoring, early warning, and information reporting systems for their respective industry or sector, and report cybersecurity monitoring and early warning information in accordance with regulations.
Article 53
State cybersecurity and informatization departments will coordinate with relevant departments to establish and complete mechanisms for cybersecurity risk assessment and emergency response efforts, formulate cybersecurity incident emergency response plans, and periodically organize drills.
Departments responsible for critical information infrastructure security protection efforts shall formulate cybersecurity incident emergency response plans for their respective industry or sector, and periodically organize drills.
Cybersecurity incident emergency response plans shall rank cybersecurity incidents on the basis of factors such as the degree of damage after the incident occurs and the scope of impact, and provide corresponding emergency response handling measures.
Article 54
When the risk of cybersecurity incidents increases, the relevant departments of people’s governments at the provincial level and above shall follow the scope of authority and procedures provided, and employ the following measures on the basis of the characteristics of the cybersecurity risk and the damage it might cause:
(1) Require that relevant departments, institutions, and personnel promptly gather and report relevant information, and strengthen monitoring of the occurrence of cybersecurity risks;
(2) Organize relevant departments, institutions, and specialist personnel to conduct analysis and assessment of information on the cybersecurity risk, and predict the likelihood of incident occurrence, the scope of impact, and the level of damage;
(3) Issue cybersecurity risk warnings to the public, and publish measures for avoiding or reducing damage.
Article 55
When a cybersecurity incident occurs, the cybersecurity incident emergency response plan shall be immediately initiated, an evaluation and assessment of the cybersecurity incident shall be conducted, network operators shall be requested to adopt technical and other necessary measures, potential security risks shall be removed, the threat shall be prevented from expanding, and warnings relevant to the public shall be promptly published.
Article 56
Where, while performing cybersecurity supervision and management duties, relevant departments of people’s governments at the provincial level or above discover that networks have a relatively large security risk or the occurrence of a security incident, they may call in the legal representative or responsible party for the operator of that network to conduct interviews in accordance with the scope of authority and procedures provided. Network operators shall follow requirements to employ procedures, make corrections, and eliminate hidden dangers.
Article 57
Where sudden emergencies or production security accidents occur as a result of cybersecurity incidents, they shall be handled in accordance with the provisions the “Emergency Response Law of the People’s Republic of China,” the “Production Safety Law of the People’s Republic of China,” and other relevant laws and administrative regulations.
Article 58
To fulfill the need to protect national security and the social public order, and to respond to the requirements of major security incidents within the society, it is possible, as stipulated or approved by the State Council, to take temporary measures regarding network communications in a specially designated region, such as limiting such communications.
Chapter VI.- Legal Responsibility
Article 59
Where network operators do not perform cybersecurity protection duties provided for in Articles 21 and 25 of this Law, the competent departments will order corrections and give warnings; where corrections are refused or it leads to harm to cybersecurity or other such consequences, a fine of between RMB 10,000 and 100,000 shall be levied; and the directly responsible management personnel shall be fined between RMB 5,000 and 50,000.
Where critical information infrastructure operators do not perform cybersecurity protection duties as provided for in Articles 33, 34, 36, and 38 of this Law, the competent departments will order corrections and give warnings; where corrections are refused or it leads to harm to cybersecurity or other such consequences, a fine of between RMB 100,000 and 1,000,000 shall be levied; and the directly responsible management personnel shall be fined between RMB 10,000 and 100,000.
Article 60
Where Article 22 Paragraphs 1 or 2 or Article 48 Paragraph 1 of this Law are violated by any of the following conduct, the relevant competent departments shall order corrections and give warnings; where corrections are refused or it causes harm to cybersecurity or other consequences, a fine of between RMB 50,000 and 500,000 shall be levied; and the persons who are directly in charge shall be fined between RMB 10,000 and 100,000:
(1) Installing malicious programs;
(2) Failure to immediately take remedial measures for security flaws or vulnerabilities that exist in products or services, or not informing users and reporting to the competent departments in accordance with regulations;
(3) Unauthorized ending of the provision of security maintenance for their products or services.
Article 61
Network operators violating Article 24 Paragraph 1 of this Law in failing to require users to provide real identity information or providing relevant services to users who do not provide real identity information, are ordered to make corrections by the relevant competent department; where corrections are refused or the circumstances are serious, a fine of between RMB 50,000 and 500,000 shall be levied, and the relevant competent department may order a temporary suspension of operations, a suspension of business for corrections, closing down of websites, cancellation of relevant operations permits, or cancellation of business licenses; persons who are directly in charge and other directly responsible personnel shall be fined between RMB 10,000 and 100,000.
Article 62
Where Article 26 of this Law is violated in carrying out cybersecurity certifications, testing, or risk assessments, or publishing cybersecurity information such as system vulnerabilities, computer viruses, cyber attacks, or network incursions, corrections are to be ordered and a warning given; where corrections are refused or the circumstances are serious, a fine of between RMB 10,000 and 100,000 shall be imposed, and the relevant competent department may order a temporary suspension of operations, a suspension of business for corrections, closing down of websites, cancellation of relevant operations permits, or cancellation of business licenses; persons who are directly in charge and other directly responsible personnel shall be fined between RMB 5,000 and 50,000.
Article 63
Where Article 27 of this Law is violated in engaging in activities harming cybersecurity, or by providing specialized software or tools used in engaging in activities harming cybersecurity, or by providing others engaging in activities harming cybersecurity with assistance such as technical support, advertising and promotions, or payment of expenses, and where this does not constitute a crime, public security organizations shall confiscate unlawful gains and impose up to 5 days detention, and may levy a fine of between RMB 50,000 and 500,000; and where circumstances are serious, shall impose between 5 and 15 days detention, and may levy a fine of between 100,000 and 1,000,000 RMB.
Where units have engaged in the conduct of the preceding paragraph, public security organizations shall confiscate unlawful gains and levy a fine of between RMB 100,000 and 1,000,000, and the directly responsible persons in charge and other directly responsible personnel shall be fined in accordance with the preceding paragraph.
Where Article 27 of this Law is violated, persons who receive public security administrative sanctions must not engage in cybersecurity management or key network operations positions for 5 years; those receiving criminal punishments will be subject to a lifetime ban on engaging in work in cybersecurity management and key network operations positions.
Article 64
Network operators, and network product or service providers violating Article 22 Paragraph 3 or Articles 41-43 of this Law by infringing on personal information that is protected in accordance with law, shall be ordered to make corrections by the relevant competent department and may, either independently or concurrently, be given warnings, be subject to confiscation of unlawful gains, and/or be fined between 1 to 10 times the amount of unlawful gains; where there are no unlawful gains, the fine shall be up to RMB 1,000,000, and a fine of between RMB 10,000 and 100,000 shall be given to persons who are directly in charge and other directly responsible personnel; where the circumstances are serious, the relevant competent department may order a temporary suspension of operations, a suspension of business for corrections, closing down of websites, cancellation of relevant operations permits, or cancellation of business licenses.
Where Article 44 of this Law is violated in stealing or using other illegal means to obtain, illegally sell, or illegally provide others with personal information, and this does not constitute a crime, public security organizations shall confiscate unlawful gains and levy a fine of between 1 and 10 times the amount of unlawful gains, and where there are no unlawful gains, levy a fine of up to RMB 1,000,000.
Article 65
Where critical information infrastructure operators violate Article 35 of this Law by using network products or services that have not had security inspections or did not pass security inspections, the relevant competent department shall order the usage to stop and levy a fine in the amount of 1 to 10 times the purchase price; the persons who are directly in charge and other directly responsible personnel shall be fined between RMB 10,000 and 100,000.
Article 66
Where critical information infrastructure operators violate Article 37 of this Law by storing network data outside the mainland territory, or provide network data to those outside of the mainland territory, the relevant competent department: shall order corrective measures, provide warning, confiscate unlawful gains, and levy fines between RMB 50,000 and 500,000; and may order a temporary suspension of operations, a suspension of business for corrective measures, closing down of websites, revocation of relevant operations permits, or cancellation of business licenses. Persons who are directly in charge and other directly responsible personnel shall be fined between RMB 10,000 and 100,000.
Article 67
Where Article 46 of this Law is violated by establishing a website or communications group used for the commission of illegal or criminal activities, or the network is used to publish information related to the commission of illegal or criminal activities, but a crime has not been committed, public security organizations shall impose up to 5 days detention and may levy a fine of between RMB 10,000 and 15,000; and where circumstances are serious, they may impose between 5 and 15 days detention, and may give a fine of between 50,000 and 500,000 RMB. They may also close websites and communications groups used for illegal or criminal activities.
Where units have engaged in conduct covered by the preceding paragraph, a fine of between RMB 100,000 and 500,000 shall be levied by public security organizations, and the principal responsible managers and other directly responsible personnel shall be fined in accordance with the preceding paragraph.
Article 68
Where network operators violate Article 47 of this Law by failing to stop the transmission of information for which transmission and publication are prohibited by laws or administrative regulations, failing to employ disposition measures such as deletion or failing to preserve relevant records, the relevant competent department shall order correction, provide warning, and confiscate unlawful gains; where correction is refused or circumstances are serious, fines between RMB 100,000 and 500,000 shall be imposed, and a temporary suspension of operations, a suspension of business to conduct correction, closing down of websites, cancellation of relevant operations permits, or cancellation of business licenses may be ordered; and persons who are directly in charge and other directly responsible personnel are fined between RMB 10,000 and 100,000.
Where electronic information service providers and application software download service providers do not perform their security management duties provided for in Paragraph 2 of Article 48 of this Law, punishment shall be in accordance with the provisions of the preceding paragraph.
Article 69
Network operators violating the provisions of this Law, who exhibit any of the following conduct, will be ordered to make corrections by the relevant competent departments; where corrections are refused or the circumstances are serious, a fine of between RMB 50,000 and 500,000 shall be imposed, and directly responsible management personnel and other directly responsible personnel are to be fined between RMB 10,000 and 100,000:
(1) Not following the requirements of relevant departments to adopt disposition measures such as stopping dissemination or deleting information for which laws or administrative regulations prohibit publication or dissemination;
(2) Refusal or obstruction of the competent departments in their lawful supervision and inspection;
(3) Refusing to provide technical support and assistance to public security organs and state security organs.
Article 70
Publication or transmission of information prohibited by Article 12 Paragraph 2 of this Law or other laws or administrative regulations shall be punished in accordance with the provisions of the relevant laws and administrative regulations.
Article 71
When there is conduct violating the provisions of this Law, it shall be recorded in credit files and made public in accordance with relevant laws and administrative regulations.
Article 72
Where state organization government affairs network operators do not perform cybersecurity protection duties as provided by this Law, the organization at the level above or relevant organizations will order corrections; sanctions will be levied on the directly responsible managers and other directly responsible personnel.
Article 73
Where cybersecurity and informatization and other relevant departments violate the provisions of Article 30 of this Law by using personal information acquired while performing cybersecurity protection duties for other purposes, the directly responsible persons in charge and other directly responsible personnel shall be given sanctions.
Where cybersecurity and informatization departments and other relevant departments’ personnel neglect their duties, abuse their authority, show favoritism, and it does not constitute a crime, sanctions will be imposed in accordance with law.
Article 74
Where violations of the provisions of this Law cause harm to others, civil liability is borne in accordance with law.
Where provisions of this Law are violated, constituting a violation of public order management, public order administrative sanctions will be imposed in accordance with law; where a crime is constituted, criminal responsibility will be pursued in accordance with law.
Article 75
Where foreign institutions, organizations, or individuals engage in attacks, intrusions, interference, damage, or other activities the endanger the critical information infrastructure of the People’s Republic of China, and cause serious consequences, legal responsibility is to be pursued in accordance with the law; public security departments under the State Council and relevant departments may also decide to freeze institutional, organization, or individual assets or take other necessary punitive measures.
Chapter VII.- Supplementary Provisions
Article 76
The language below has the following meanings in this law:
(1) “Network” [网络, also “cyber”] refers to a system comprised of computers or other information terminals and related equipment that follows certain rules and procedures for information gathering, storage, transmission, exchange, and processing.
(2) “Cybersecurity” [网络安全, also “network security”] refers to taking the necessary measures to prevent cyber attacks, intrusions, interference, destruction, and unlawful use, as well as unexpected accidents, to place networks in a state of stable and reliable operation, as well as ensuring the capacity for network data to be complete, confidential, and usable.
(3) “Network operators” [网络运营者] refers to network owners, managers, and network service providers.
(4) “Network data” [网络数据] refers to all kinds of electronic data collected, stored, transmitted, processed, and produced through networks.
(5) “Personal information” [个人信息] refers to all kinds of information, recorded electronically or through other means, that taken alone or together with other information, is sufficient to identify a natural person’s identity, including but not limited to natural persons’ full names, birth dates, national identification numbers, personal biometric information, addresses, telephone numbers, and so forth.
Article 77
Protection of the operational security of networks that store or process information touching on national secrets shall follow this Law and shall also uphold the provisions of laws and administrative regulations pertaining to secrecy protection.
Article 78
The security protection rules for military networks are formulated by the Central Military Commission.
Article 79
This Law shall enter into effect June 1, 2017.
A figura do juiz das garantias e as novas exigências para a decretação da prisão preventiva. Avanços ou retrocessos?
Demócrito Reinaldo Filho
Desembargador do TJPE
Quando a imprensa começou a divulgar, há umas duas semanas atrás, que o congresso havia “desidratado” o chamado “Pacote Anticrime” do Ministro Sérgio Moro, eu pensei que esse processo de desintegração da proposta legislativa que pretendia facilitar o combate à criminalidade no país, principalmente da criminalidade organizada, tivesse se resumido à exclusão de alguns institutos novos, propostos dentro do pacote legislativo, a exemplo da parte que pretendia ampliar o conceito de legítima defesa para integrantes das forças de segurança.
No entanto, ao examinar de maneira aligeirada alguns dos dispositivos da Lei n. 13.964/19, na qual se transformou o projeto de lei do pacote anticrime (PL 10372/18), fiquei com a impressão de que os parlamentares atuaram para impedir o surgimento de novos “Sérgios Moro” e a disseminação de novas operações policiais no modelo da “Lava Jato”. O papel da comissão especial criada pela Câmara dos Deputados para apreciar as propostas do Ministro da Justiça não se limitou à exclusão do texto de dispositivos considerados excessivos. Ao dar uma nova roupagem, e de inspiração completamente diferente, à iniciativa preconizada pelo Ministro da Justiça, o parlamento pode ter criado empecilhos para que a persecução criminal seja exercida de maneira célere e segura.
A Lei n. 13.964/19 criou a figura do “Juiz das Garantias”, que vai atuar na fase da investigação policial, sendo o responsável pelo “controle da legalidade” e a “salvaguarda dos direitos individuais” nessa etapa (art. 3º.-B inserido no CPP). Ao Juiz das Garantias competirá, dentre outras funções, receber a comunicação da prisão ou auto da prisão em flagrante, decidir sobre requerimentos de prisão provisória ou outra medida cautelar, produção antecipada de provas, prorrogação do prazo do inquérito, interceptação telefônica e telemática, quebra de sigilo fiscal e bancário e busca e apreensão domiciliar, além de julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia (incs. I a XVIII do art. 3º.-B). Sua atividade cessa com o recebimento da denúncia ou queixa (art. 3º.-C inserido no CPP).
A criação da figura do “Juiz das Garantias”, embora o nome adotado possa induzir a que se esteja avançando no sentido de se criar um sistema de freios à potencialidade punitiva do Estado, é de duvidosa eficácia. Conquanto se justifique a sua criação como a ampliação, no sistema processual brasileiro, de um dos princípios basilares do garantismo penal – que é a separação entre a figura do julgador e a do acusador (princípio acusatório ou da separação entre juiz e acusação) -, o fato é que tal iniciativa surge em contraposição à ideia de atuação de um Juiz proativo, na busca da autoria de fatos criminosos, que defere medidas de colheita da prova (ainda na fase do inquérito), em colaboração com a polícia e o órgão ministerial, tal como atuou o então Juiz Sérgio Moro nas investigações da operação Lava Jato. Por outro lado, a nova Lei também dificulta o recurso a um dos instrumentos mais utilizados pelo Juiz e outros integrantes da operação Lava Jato, que foi a prisão preventiva de acusados da prática de crimes contra a Administração Pública. O Juiz Sérgio Moro se notabilizou pela defesa da tese de que a corrupção sistêmica, que produz elevados prejuízos ao patrimônio público, constitui situação que autoriza a segregação cautelar, para manutenção da “ordem pública”. Para preservar a ordem pública, em um quadro de corrupção sistêmica e de reiteração delitiva, justifica-se a prisão preventiva, defendia o então Juiz em suas decisões. Agora, com a nova Lei, nem o Juiz que vai realizar o julgamento de um caso pode ser o mesmo que, ainda na fase do inquérito, participa da colheita da prova, nem a existência de corrupção sistêmica será suficiente, por si só, para que um Juiz decrete uma prisão preventiva. É que a nova Lei também alterou a redação dos arts. 282, 311 e 312 do Código de Processo Penal, restringindo acentuadamente as situações de cabimento da prisão preventiva.
Além de duvidosa constitucionalidade, já que essa nova categoria funcional não está prevista na estrutura do Poder Judiciário desenhada na Constituição Federal (no art. 92 e seguintes), a figura do Juiz das Garantias pode resultar em prejuízos à jurisdição. A proibição expressa de que juízes tomem iniciativas na fase de investigação criminal (art. 3º.-A do CPP), que ficam reservadas exclusivamente ao Juiz das Garantias, pode comprometer a celeridade do processo penal. O Juiz das Garantias que vai atuar na fase da investigação, sendo o responsável pelo “controle da legalidade” nessa etapa (art. 3º.-B do CPP), vai realizar um trabalho processual desconexo do que vai ser iniciado na fase seguinte.
Com efeito, a nova Lei não apenas instituiu duas figuras judiciais no processo penal – uma controlando a atividade investigativa e realizando a colheita de provas cuja antecipação se exija no âmbito do inquérito policial, e outra realizando a posterior instrução e julgamento do processo -, mas também dois processos judiciais para propiciar a persecução de um mesmo delito ou ação criminosa. Os autos do processo em que atua o Juiz das Garantias não serão os mesmos em que atuará o Juiz julgador, na etapa seguinte (de instrução e julgamento). A Lei n. 13.964/19 estabelece que “os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos para apensamento em apartado” (art. 3º.-C, § 3º inserido no CPP). Portanto, de um modo geral a produção processual realizada na fase da investigação pelo Juiz das Garantias, que se encerra com o recebimento da denúncia ou queixa (art. 3º.-C), não será reaproveitada no processo a ser conduzido pelo Juiz julgador. Só “provas irrepetíveis” e produzidas antecipadamente é que poderão integrar o processo na fase seguinte. A consequência é que muito do trabalho processual produzido numa fase anterior tem que ser repetido, não podendo ser aproveitado na seguinte.
Tudo isso está sendo instituído no processo penal brasileiro com a finalidade de se garantir maior isenção do Juiz que vai realizar o julgamento, que não deve ser contaminado pelo trabalho do Juiz que controla ou participa da atividade investigativa. Trata-se de uma lógica de difícil convencimento e ainda não testada na prática. O resultado, todavia, pode ser uma maior lentidão do processo penal, com aumento da possibilidade de extinção da punibilidade de crimes pela prescrição. Fracionar o processo penal poderá ser contraproducente, na medida em que o juiz que participa de alguns atos ainda na fase investigativa, decidindo, p. ex., sobre requerimentos de interceptação telefônica e telemática, quebra de sigilo fiscal ou bancário, busca e apreensão e outras medidas, passa a conhecer previamente os detalhes do processo, facilitando as tarefas processuais seguintes, inclusive a de julgar. O Juiz que já vem participando do processo encontra-se mais habilitado do que qualquer outro para prosseguir nele, até o julgamento final. A participação do Juiz na adoção de algumas medidas cautelares, ainda na fase da investigação policial, não o torna parcial ou mais “punitivista”.
O Juiz das Garantias poderá não ser uma realidade imediata no processo penal brasileiro, pelo menos a curto prazo. Os tribunais terão dificuldades para implantá-lo num primeiro momento, não somente por conta dos custos para sua implementação e operacionalização. Não se sabe ainda se haverá necessidade de abertura de concurso para preencher mais cargos no Judiciário ou se apenas divisão de trabalho entre os atuais juízes. A Lei n. 13.964/19 estabelece que “nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados” (art. 3º.-D, § únic., inserido no CPP). Também prevê que “o juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, Estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal” (art. 3º.-E). Ou seja, ainda demorará algum tempo até os tribunais se adaptarem à nova Lei.
Já as restrições impostas à prisão preventiva passarão a valer imediatamente, com a entrada da lei em vigor no próximo dia 23 de janeiro (30 dias após sua publicação, art. 20). E esse é o ponto mais preocupante. Depois da entrada em vigor da Lei 13.964/19 a decretação de prisão preventiva será um ato realmente excepcional e de grande esforço argumentativo para o Juiz.
Em primeiro lugar, a nova Lei retira a possibilidade de o Juiz decretar a prisão preventiva de ofício, isto é, por sua própria iniciativa. A antiga redação do art. 311 do CPP admitia a “prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”. A nova redação eliminou a expressão “de ofício, se no curso da ação penal”, deixando permanecer somente a prisão preventiva “a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.” Além disso, a Lei 13.964/19 criou o requisito adicional da situação de “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Antes, a prisão preventiva poderia ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei penal, desde que existente prova do crime e indício suficiente de autoria. Agora, é necessário que esteja presente o “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado” (nova redação do art. 312 do CPP). Ainda, o § 2º. acrescentado ao art. 311 exige que, na fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva, o Juiz deve apontar o “receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (exigência repetida no § 1º. do art. 315).
Com a exigência desses requisitos adicionais pela nova Lei, dificilmente os juízes terão como justificar a prisão preventiva de investigados por crimes de corrupção ou praticados contra a Administração Pública. Em regra esses crimes somente são descobertos após longas e demoradas investigações, muitas vezes quando os investigados já têm deixado a função pública que os permitiu violar o dever funcional e causar dano ao erário. A exigência de que uma prisão preventiva somente seja decretada em face de “fatos novos ou contemporâneos” e que a liberdade do investigado gere uma situação de “perigo” para a sociedade certamente vai dificultar seu uso nos processos em que sejam investigados crimes de corrupção.
Corruptos e agentes públicos que se valem da função para assaltar os cofres públicos talvez nunca mais tenham que enfrentar a cadeia. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal tomada no começo de novembro deste ano, impedindo a prisão de condenados em segunda instância (exigindo, para tanto, o trânsito em julgado da sentença condenatória), imaginou-se que os juízes, então, passariam a usar o expediente da prisão preventiva com mais frequência, para compensar o impedimento da execução provisória da pena. Todavia, a edição da Lei n. 13.964/19, com severas restrições para o uso da prisão preventiva, torna a segregação cautelar expediente ainda mais excepcional. Como os processos criminais se eternizam, podendo levar décadas para serem concluídos, com decisão final transitada em julgado, os agentes públicos corruptos não enfrentarão cadeia porque não podem mais cumprir pena antecipadamente. Por outro lado, dificilmente terão que enfrentar prisão na forma de medida cautelar, porque a liberdade deles não gera uma situação de “perigo” social ou porque seus crimes só são descobertos tempos depois de praticados.
A prisão cautelar doravante será medida de dificílima utilização não somente em relação a crimes de corrupção, mas para reprimir toda e qualquer infração penal. A Lei n. 13.964/19 ainda criou outras exigências para sua utilização, pois agora o Juiz não somente terá que justificar a necessidade da segregação preventiva, mas também esclarecer que não cabe, no caso em que está atuando, sua substituição por outras medidas cautelares de natureza diversa (nova redação do § 6º. do art. 282 do CPP). Outras exigências de fundamentação para a decisão que decreta a prisão preventiva ainda foram criadas nos incisos do § 2º. acrescentado ao art. 315 do Código de Processo Penal. Com a entrada em vigor da nova Lei, não será considerado fundamentado o decreto judicial de prisão preventiva que:
a) limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
b) empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
c) invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
d) não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
e) limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e
f) deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Todas essas novas exigências e restrições à utilização da medida cautelar de prisão preventiva foram adotadas sem ser feita qualquer distinção em relação à natureza dos crimes. Independentemente da gravidade do crime, os requisitos para a prisão preventiva são sempre os mesmos.
Tudo o que não precisávamos nessa quadra histórica em que o país está vivendo, era de mais garantias processuais para os investigados ou processados criminalmente. Já temos uma Constituição “garantista”, que assegura os princípios do contraditório e da ampla defesa. Os magistrados já atuam de forma a controlar a legalidade do procedimento inquisitivo e salvaguardar os direitos e garantias fundamentais. O que estávamos necessitando era de uma maior efetividade para o direito penal e processual brasileiros, de forma a combater a crescente violência que assola a nossa sociedade e de frear a corrupção dos agentes públicos. Embora o instituto do Juiz das Garantias e as novas exigências para prisão preventiva tenham concepção teórica respeitável, a sua instituição nesse momento parece ser inoportuna e pode provocar efeitos práticos indesejados.
Recife, 28.12.19
A Lei Francesa que proíbe análise preditiva de decisões judiciais: menos transparência pode significar mais risco ao arbítrio
A LEI FRANCESA QUE PROÍBE ANÁLISE PREDITIVA DE DECISÕES JUDICIAIS – menos transparência pode significar mais risco ao arbítrio
Demócrito Reinaldo Filho
Desembargador do TJPE
Ferramentas de análise preditiva permitem que empresas usem dados para prever cenários e identificar tendências, o que proporciona a tomada de melhores decisões para seus negócios. Utilizando técnicas de machine learning (aprendizado de máquina) e uma grande quantidade de dados, identificam padrões nos dados que possibilitam antever mudanças no mercado, novos hábitos de consumo e quais estratégias usar sob determinadas circunstâncias.
A análise preditiva já é uma realidade no mercado profissional jurídico, onde empresas especializadas (legaltechs) utilizam as tecnologias da informação e desenvolvem aplicativos para prever comportamentos ou identificar tendências e padrões nas decisões judiciais. Esses programas permitem a extração de grandes quantidades de textos de sentenças e decisões judiciais, classificando-as em categorias jurídico-analíticas, de modo a proceder à análise preditiva. Com base em um grande acervo de dados de decisões pretéritas, o sistema é capaz de predizer decisões futuras. É uma área promissora, pois facilita a pesquisa da informação jurisprudencial e a entender os fatores que levam os juízes a tomar determinadas decisões.
Na última semana, porém, uma lei aprovada na França parece ter limitado esse florescente setor, pois proíbe a publicação de estatísticas sobre decisões judiciais. A lei prevê pena prisional de até cinco anos para quem descumprir seus ditames. A nova legislação foi resultado de uma alteração no art. 33 da Lei de Reforma da Justiça francesa[1] e impede que se revele publicamente o padrão de comportamento dos juízes, por meio da seguinte redação:
«Os dados de magistrados e membros do Judiciário não podem ser reutilizados com o propósito ou efeito de avaliar, analisar, comparar ou prever suas práticas profissionais reais ou potenciais».[2]
A justificativa apresentada para a vedação dos tratamentos de dados ligados à identidade dos magistrados é de que a construção de perfis individualizados poderia levar ao controle sobre suas decisões, prejudicando o funcionamento da Justiça. O profiling (perfilamento) permitiria às partes escolher estratégias de litigância em função das características individuais dos magistrados. Além disso, a comparação entre magistrados, como eles decidem uma mesma matéria, também é vista como ameaça à independência dos juízes.
Esse tipo de proibição é único no mundo; não se tem notícia de restrição à comparação de padrões judiciais em outro país.
Muito embora a Lei francesa tenha como alvo as legaltechs, que oferecem soluções de litigância estratégica, os seus efeitos podem ser prejudiciais à sociedade como um todo. É certo que não impede a publicação da jurisprudência de maneira global. Os dados tornam-se públicos, mas sem que haja a comparação individual entre os magistrados ou como eles decidem determinados assuntos. Mesmo assim a restrição é um retrocesso, pois o estudo de como os juízes decidem casos é importante do ponto de vista processual e para assegurar a transparência de como esses representantes do Poder Público exercem suas funções.
Quanto mais transparência no atuar dos magistrados, maior será a garantia de imparcialidade e de adequação das decisões judiciais. Não é sem sentido que em praticamente todos os países civilizados se erigiu como garantias fundamentais dos cidadãos a publicidade das decisões judiciais e o dever dos magistrados de fundamentá-las. A publicidade dos atos judiciais, aliada à necessidade de fundamentação adequada ao sistema jurídico vigente, funciona como meio de controle social sobre a atividade judicante, para evitar abusos e atitudes arbitrárias. Não se controla uma decisão judicial em relação ao modo como o juiz deve decidir ou qual opção deve seguir na solução de um caso. Mas em tornando-a pública, acessível a todos os interessados, bem como impondo ao magistrado o dever de fundamentar sua decisão com base na prova dos autos e no direito aplicável, evita-se o arbítrio judicial.
A análise dos padrões decisórios dos juízes, de como eles decidem certos casos, com a finalidade de prever comportamentos ou identificar tendências, não parece que possa ser utilizada como instrumento para pressionar o Poder Judiciário ou seus integrantes. A análise judicial preditiva pode aumentar a eficiência na aplicação do direito. Classificar sentenças e decisões judiciais em função dos fatores que as determinaram pode auxiliar na melhoria da performance judiciária. Do ponto de vista processual, pode fornecer tendências na resolução das lides, já que indica a argumentação adequada ou a probabilidade de ganho ou perda de um processo.
Os advogados e profissionais do direito sempre produziram estatísticas e análises do comportamento dos juízes, utilizando algum sistema de processamento manual. A grande diferença para o cenário atual é que hoje contamos com o poder computacional e o grande volume de dados. O avanço da tecnologia permitiu que os dados sejam convertidos em previsões futuras com mais facilidade e acurácia. A análise judicial preditiva na atualidade é decorrente do termo conhecido como Big Data, ou seja, as ferramentas de análise trabalham com grandes volumes de dados (decisões pretéritas) para predizer tendências futuras. As bancas de advocacia contratam empresas com tecnologia para analisar milhares de decisões por segundo, o que torna possível a construção de modelos estatísticos de comportamento judicial em relação a determinadas matérias, bem como estabelecer a probabilidade de sucesso de uma iniciativa processual específica. Com tais recursos, as firmas de advocacia otimizam suas estratégias forenses.
O banimento da publicação de informações estatísticas sobre a atuação dos juízes, como fez a lei francesa, não parece ser a forma correta de se regular a atividade das legaltechs. Esconder como os juízes pensam e decidem a respeito de determinados assuntos não é medida democrática e não contribui para o aperfeiçoamento do aparato judiciário. Um sistema legal deve ser aberto, transparente e sempre possível de escrutínio público. É claro que pode haver certas restrições em relação a informações sobre as partes e fatos do processo, mas as decisões dos juízes têm que se constituir em dados abertos ao público. Não permitir que uma decisão (ou conjunto de decisões) seja escrutinada em todos os seus aspectos, inclusive proibindo o acesso à identidade do agente que produziu a decisão, é que pode se transformar em uma espécie de censura, ferindo garantias fundamentais dos jurisdicionados.
Recife, 08.06.19.
[1] LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
[2] O texto da Lei pode ser acessado em: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/3/23/2019-222/jo/article_33
A nova Lei Alemã que obriga provedores de Redes Sociais a remover conteúdo publicado por usuários. Um modelo para o Brasil?
A NOVA LEI ALEMÃ QUE OBRIGA PROVEDORES DE REDES SOCIAIS A REMOVER CONTEÚDO PUBLICADO POR USUÁRIOS – Um modelo para o Brasil?
Demócrito Reinaldo Filho
Desembargador do TJPE
Entrou em vigor no dia 1º. de janeiro deste ano, na Alemanha, a lei que obriga os controladores de plataformas e serviços de redes sociais a fazer a remoção de conteúdo ilícito ou ofensivo, sempre que receberem reclamação por alguém que se sinta ofendido por informação postada por um terceiro[1]. A Lei recebeu o título de “Netzwerkdurchsetzungsgesetz “ (em tradução livre: “Lei de Aplicação na Internet”), mas ficou conhecida simplesmente por “NetzDG”, e já havia sido aprovada desde junho do ano passado, mas só entrou em vigor este ano para que os provedores se adaptassem às suas exigências.
A Lei obriga os provedores de redes sociais a adotarem um sistema de “notice and takedown”, ou seja, eles são obrigados a instalar um sistema de gerenciamento de denúncias e queixas a respeito de publicações com conteúdo ilícito ou ofensivo. Em caso de conteúdo “visivelmente ilícito”, o provedor tem que decidir sobre a remoção (ou não) em 24 horas; em se tratando de informação não claramente ilegal, a remoção pode ser feita em até 07 dias (e, em alguns casos, até além desse prazo). Os provedores também estão obrigados a produzir relatório anual detalhando o número das postagens excluídas e por quais motivos. Em caso de violações aos termos da Lei, as empresas que prestam serviços de redes sociais podem ser multadas em até 50 milhões de euros, dependendo da gravidade da infração. A Lei só vale para provedores que tenham acima de 2 milhões de usuários e estão expressamente excluídos de sua abrangência os aplicativos de envio de mensagens instantâneas (a ex. do Whatsapp), assim como os jornais e veículos de comunicação na versão online. Cidadãos podem denunciar violações da Lei ao Departamento Federal de Justiça da Alemanha (BfJ) [2]. Ainda, com o objetivo de torná-la eficaz em relação a provedor que não tenha presença física ou subsidiária situada em território alemão, a Lei obriga que indique um representante, a quem podem ser dirigidas as reclamações dos usuários ou pedidos de informação do órgão governamental (o BfJ).
O fato de a Alemanha ter sido um dos primeiros países a regular a obrigação dos provedores de remover conteúdo ilegal pode ser explicado pela história desse país. A Alemanha é um país traumatizado com questões de discriminação racial desde a época do nazismo e tem uma política de constante policiamento contra o “discurso do ódio” (hate speech). Tem leis que proíbem a qualquer pessoa negar a existência do Holocausto[3]. Além disso, autoridades do governo alemão já vinham reclamando que os provedores de redes sociais não estavam tomando as medidas necessárias para combater a difusão do conteúdo racista e difamatório compartilhado na Internet[4]. Obviamente que também apressou a edição da Lei a eclosão do escândalo das chamadas fake news, quando se ficou sabendo que a legitimidade da eleição de Donald Trump para o governo dos EUA poderia ter sido afetada por notícias fabricadas por agentes russos, comprovando que a difusão massificada de material informacional falso pode inclusive afetar os regimes democráticos.
Os provedores já começaram a se estruturar para se adaptar à nova Lei. O Google já criou um formulário online para receber denúncias, enquanto o Twitter adicionou uma opção à sua função de denúncia já existente. O Facebook informou que contratou centenas de novos funcionários na Alemanha para conseguir lidar com as denúncias no país a tempo de atender as exigências da “NetzDG” [5].
O processo de adaptação à nova Lei não veio no entanto despido de críticas. A nova legislação recebeu muita resistência, particularmente da legenda populista de direita AfD, que classificou a “NetzDG” como uma «lei de censura». Parlamentar e uma das principais figuras públicas da legenda nacionalista, Beatrix von Storch teve suas contas no Twitter e Facebook temporariamente suspensas depois de criticar felicitações de Ano Novo feitas em árabe pela polícia de Colônia[6]. A suspensão das contas deu margem a que outro líder da AfD, Alexander Gauland, saísse com o discurso populista de que a aprovação da Lei significava o “fim da liberdade de opinião” e que ela instituía “métodos da Stasi”, em referência à notória polícia política da antiga Alemanha Oriental[7]. As críticas não partiram apenas da extrema-direita alemã. Organizações de jornalistas, como a Repórteres Sem Fronteiras (RSF), e ativistas da internet levantaram objeções à “NetzDG”, alegando que a Lei “privatiza” o controle sobre o fluxo das comunicações, já que deixa para as empresas privadas (os provedores) a tarefa de excluir e bloquear conteúdos, ao invés desse controle ser feito pelo Judiciário[8]. Atribuindo esse poder com exclusividade aos provedores, será difícil descobrir por quais motivos postagens foram excluídas, argumentam. Além disso, existe a preocupação de que a Lei quebre a neutralidade do Governo, já que dá poderes de fiscalização ao Departamento Federal de Justiça da Alemanha (BfJ)[9].
Essas críticas, no entanto, não procedem. Primeiro porque não há qualquer risco à liberdade de expressão na Internet. Todas as empresas jornalísticas e veículos de comunicação em versões online, ou seja, a mídia tradicional, constituída por profissionais do jornalismo, que já exerce controle editorial prévio sobre o conteúdo que publica, não é alcançada pela Lei[10]. O legislador teve o cuidado de excluir também do alcance da Lei os sistemas e aplicativos de mensagens eletrônicas (como Whatsapp e Telegram)[11], já que a comunicação nesses sistemas não é feita “para o público em geral”, mas limitada a indivíduos e usuários específicos que se comunicam de forma privada. Como se observa, todos os outros subespaços da rede mundial de comunicação foram preservados e provedores de outros serviços não foram onerados com a obrigação de gerenciamento do conteúdo informacional que circula em seus sistemas. A Lei foi precisa em limitar sua abrangência às redes sociais, assim entendidas as “plataformas” ou sistemas informáticos que permitem a publicação de conteúdo de forma instantânea e pelos próprios usuários sem qualquer tipo de controle. Só isso já seria suficiente para afastar qualquer alegativa de que poderá haver “censura” na rede ou diminuição dos espaços para a livre circulação de ideias e pensamentos.
O que o legislador da “NetzDG” pretendeu foi atribuir ao provedor de rede social um mínimo de responsabilidade editorial pelo que é publicado em seu sistema. Os controladores de plataformas de redes sociais não fazem uma checagem eficaz da identidade de seus usuários, permitindo que pessoas mal intencionadas se favoreçam dessa “anonimização” para cometer toda sorte de crimes e atentados contra direitos de outrem. Por outro lado, os provedores receberam imunização por qualquer tipo de conteúdo gerado pelos seus usuários. Foram beneficiados em diversos países, como aconteceu aqui no Brasil[12], por leis que os isentam de responsabilidade pelo que é publicado pelos usuários. Isso gera um ambiente propício para a lesão de direitos e propagação de crimes sem que haja qualquer tipo de reparação para as vítimas. Os editores diretos da publicação ilícita ficam encobertos pela “anonimização” que os sistemas conferem e o provedor, por sua vez, fica indiferente a tudo isso, sem ânimo para tomar qualquer iniciativa para reprimir a propagação do ilícito, ciente de que não pode ser responsabilizado. A Lei alemã altera essa realidade, ao atribuir obrigação ao provedor para que faça a análise do conteúdo postado por um usuário do seu sistema (plataforma), sempre que receber uma reclamação.
A Lei “NetzDG” criou o que eu chamo de “controle editorial postergado”, ou seja, não se exige do provedor que faça uma varredura ou monitoramento prévio sobre o conteúdo das mensagens e informações que são postadas por seus usuários em sua plataforma. Trata-se de um controle editorial diferido para um momento posterior, que só é exercido se o provedor for instigado por meio de uma denúncia. O provedor só realiza o exame da ilicitude do conteúdo publicado por um terceiro (usuário da plataforma) se outra pessoa, ofendida com a publicação, fizer uma reclamação formal. A partir daí é que o provedor toma a iniciativa de analisar a natureza da informação publicada e, verificando que se trata de conteúdo ilícito ou potencialmente nocivo à reputação ou honra da pessoa queixosa, pode remover a publicação ou deixá-la como está (assumindo, nesse caso, a responsabilidade pelas consequências).
O gerenciamento de reclamações, verdadeiro controle editorial posterior, não compromete o modelo de “redes sociais” criado pelas empresas de tecnologia da Internet. As redes sociais não morrerão por isso. Desse modo se preserva o funcionamento delas, não se embotando a inovação tecnológica, mas também não se permite que a difusão da informação nesses espaços de convivência virtual se faça de uma maneira completamente irresponsável, comprometendo outros direitos e princípios democráticos. Por outro lado, não há que se ter preocupação quanto ao rigor ou excesso com que os controladores das plataformas venham a realizar o gerenciamento das reclamações. Poderá ocorrer de alguma publicação não ter um conteúdo ilícito aparente e, ainda assim, o controlador do sistema optar por deletá-la. Isso pode acontecer eventualmente, da mesma forma que um jornal ou qualquer outro veículo de comunicação faz suas escolhas editoriais. Para evitar a responsabilização solidária, o provedor da rede social pode, sim, ser muito cauteloso e optar por deletar ou bloquear determinado conteúdo que tenha uma carga mínima de ilicitude ou pouca aparência de ilegalidade. Mas é assim mesmo que deve funcionar. Trata-se do seu exercício, agora imposto pela lei, do controle editorial posterior sobre a informação postada pelos usuários em sua plataforma (rede social).
Também é errado pensar que a “NetzDG” dá mais poder às empresas gigantes da Internet; muito pelo contrário, está se criando novas obrigações para elas, tanto que resistiram (e ainda resistem) a leis dessa natureza. O ofendido por uma publicação não bloqueada poderá sempre recorrer ao Judiciário para pedir a remoção do conteúdo não retirado pelo provedor ou sua condenação pelos danos causados. Acredito, por fim, que a designação de uma agência governamental para fiscalizar o cumprimento da Lei e aplicar multas em caso de sua inobservância não implicará em algum tipo de intervenção ou influência estatal no modo como os provedores vão fazer a análise das reclamações. O Departamento Federal de Justiça da Alemanha (BfJ), órgão governamental encarregado de supervisionar a aplicação da Lei, não vai realizar censura de conteúdo ou de qualquer forma se sobrepor ao provedor no exame da ilegalidade de alguma postagem feita por usuário da rede social. A fiscalização ficará limitada a verificar se o provedor disponibiliza formulário ou algum mecanismo para receber reclamações, se faz gerenciamento e análise dessas reclamações dentro dos prazos previstos, se comunica às partes interessadas a decisão tomada (em relação à remoção ou não do conteúdo) etc. Ademais, a Subseção 5 da Seção 4 da Lei prevê que “se a autoridade administrativa desejar basear sua decisão sobre o fato de os conteúdos não removidos ou não bloqueados serem ilegais” ela “deve primeiro obter uma decisão judicial estabelecendo a ilegalidade da decisão” (antes tomada pelo provedor)[13]. O Judiciário, como se vê, fica sempre com a última palavra sobre a questão da remoção do conteúdo.
Como se observa, a Lei nos seus aspectos gerais é boa e pode servir como modelo para o Brasil. Na minha opinião, no entanto, a “NetzDG” ainda é muito tímida e conservadora, pois poderia ter avançado mais na regulação de certos aspectos. Os pontos negativos residem no estabelecimento de prazos longos para análise e remoção de certos conteúdos e na limitação do seu âmbito a provedores com mais de 2 milhões de usuários. A Lei confere o prazo de 07 dias para análise e (sendo o caso) remoção de conteúdo que não seja “obviamente ilegal”, prazo esse que pode ser elastecido mais ainda se “a decisão quanto à ilegalidade do conteúdo depende da falsidade da declaração de um fato ou de outras circunstâncias factuais”[14] ou se “a rede social transfere a decisão sobre a ilegalidade” a um órgão auto-regulatório[15]. Ora, esperar tanto tempo por uma decisão e, ao depois verificar a ilicitude do conteúdo, terá sido inútil, pois os efeitos lesivos da publicação já terão se espraiado. O certo seria estabelecer a obrigatoriedade de o provedor tomar toda e qualquer decisão dentro de 24 após receber a queixa. Se tem dúvida quanto à natureza da publicação, então que remova o material até que complete a análise; uma vez completada, pode, se for o caso, restabelecê-la. O prazo de 24 horas já vinha sendo considerado como razoável para o provedor fazer a remoção de uma publicação pela jurisprudência de diversos países, inclusive no Brasil[16]. Quanto à questão do alcance da Lei, é certo que o editor da “NetzDG” pretendeu focar nos grandes provedores de redes sociais (como Facebook, Twitter, Google, YouTube, Snapchat e Instagram), ao limitar sua aplicação aos provedores com mais de 2 milhões de usuários. Mas ao limitar seu alcance deixou os menores sem qualquer tipo de obrigação, o que não é conveniente. A Lei deveria ser mais abrangente e alcançar qualquer tipo de sistema informático que possibilite a publicação instantânea de material informacional diretamente pelos usuários.
Como disse, a Lei alemã é boa e pode servir perfeitamente como um paradigma legislativo, desde que aperfeiçoada. Acredito até que nem precisamos de uma lei tão detalhista quanto a germânica. O que precisamos mesmo é revogar imediatamente o famigerado art. 19 do “Marco Civil da Internet” (Lei n. 12.965/14), que atribuiu uma imunidade absoluta aos provedores de serviços na rede mundial de comunicação, impedindo que se lhes atribua qualquer tipo de controle editorial, ainda que postergado[17]. A simples revogação desse dispositivo já seria suficiente para que os provedores passassem a realizar um gerenciamento de reclamações e queixas em relação a publicações em suas plataformas, como ocorria antes de sua vigência. Antes dele, valia a jurisprudência do STJ no sentido de que, uma vez notificado pela parte interessada, o provedor tem que retirar o conteúdo em 24 horas, sob pena de ser responsabilizado solidariamente.
Recife, 12 de janeiro de 2018.
[1] Ver notícia publicada em 02.01.18 no Estado de São Paulo sobre a entrada em vigor da Lei “NetzDG”, acessível em: http://link.estadao.com.br/noticias/geral,na-alemanha-entra-em-vigor-lei-que-multa-redes-sociais-por-discurso-de-odio,70002136202
[2] O texto da “NetzDG” pode ser acessado em: https://www.buzer.de/s1.htm?g=NetzDG&f=1
[3] Como ficou conhecida a perseguição e o extermínio sistemático, burocraticamente organizado e patrocinado pelo governo nazista, de aproximadamente seis milhões de judeus.
[4] Desde o início do ano passado o Ministro da Justiça germânico, Heiko Maas, vinha alertando que as redes sociais não estavam fazendo o suficiente para apagar todo o conteúdo racista e difamatório partilhado na Internet. Ver notícia publicada em 14.03.17, acessível em: https://www.publico.pt/2017/03/14/tecnologia/noticia/alemanha-aperta-o-cerco-as-redes-sociais-por-causa-das-noticias-falsas-1765165
[5] Ver a notícia já citada e publicada no Estado de SP em 02.01.18.
[6] Ver notícia publicada no portal Terra, em 02.01.18, acessível em:
[7] Ver notícia publicada na versão em inglês da revista Der Spiegel, em 04.01.18, acessível em: http://www.spiegel.de/international/germany/german-populists-take-on-twitter-and-the-judiciary-a-1186233.html
[8] Conforme notícia publicada no site da Deutsche Welle (DW), em 02.01.18 , acessível em: http://www.dw.com/pt-br/lei-contra-discurso-de-%C3%B3dio-na-internet-entra-em-vigor-na-alemanha/a-41996447
[9] Ver notícia publicada no site da ANJ, em 02.01.18, acessível em: http://www.anj.org.br/site/associe-se/73-jornal-anj-online/4393-na-alemanha-lei-contra-odio-nas-redes-estreia-com-criticas-de-censura-e-desconfianca.html
[10] O legislador teve a preocupação de excluir expressamente os jornais e veículos noticiosos na Internet de seu alcance. No artigo primeiro da Seção 1, que trata do âmbito de aplicação da Lei, está dito que “Plataformas com ofertas editoriais jornalísticas, que são da responsabilidade do prestador de serviços, não são consideradas redes sociais na acepção desta Lei” – na redação original em alemão: Plattformen mit journalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten, die vom Diensteanbieter selbst verantwortet werden, gelten nicht als soziale Netzwerke im Sinne dieses Gesetzes.
[11] No mesmo artigo primeiro da Seção 1, também fica expresso que os aplicativos de mensagens não são considerados como redes sociais, para fins de aplicação da Lei, nos seguintes termos: “O mesmo se aplica às plataformas destinadas a comunicação individual ou à distribuição de conteúdo específico” – na redação original em alemão: Das Gleiche gilt für Plattformen, die zur Individualkommunikation oder zur Verbreitung spezifischer Inhalte bestimmt sind.
[12] O art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/14) conferiu uma imunidade absoluta aos “provedores de aplicações”, com uma extensão que não é encontrada em qualquer outro país. No Brasil, o provedor não precisa tomar qualquer providência em relação a uma publicação de conteúdo ilícito, ainda que notificado pelo ofendido. Tem o direito de ficar completamente inerte, até que receba uma ordem judicial determinando a remoção do material ilícito.
[13] A disposição citada no original do texto da Lei, escrita em alemão: (5) Will die Verwaltungsbehörde ihre Entscheidung darauf stützen, dass nicht entfernte oder nicht gesperrte Inhalte rechtswidrig im Sinne des § 1 Absatz 3 sind, so soll sie über die Rechtswidrigkeit vorab eine gerichtliche Entscheidung herbeiführen.
[14] A Lei prevê que, nessas hipóteses em que a análise da legalidade do conteúdo publicado depende da verificação de certas circunstâncias de fato, o provedor pode dar ao usuário que fez a publicação oportunidade para que responda à queixa antes de proferir qualquer decisão.
[15] A Lei prevê que os provedores podem se associar e criar um órgão auto-regulatório, com a finalidade de fazer a análise de conteúdos informacionais, para melhor amparar decisões de remoção ou bloqueio do acesso.
[16] Antes da aprovação do famigerado art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/14), a jurisprudência do STJ era assente no sentido de que o provedor tinha o dever de remover a publicação denunciada como ofensiva ou ilícita em 24 horas, sob pena de ser responsabilizado solidariamente a reparar eventual lesão causada. Nesse sentido: REsp 1.406.448/RJ, julgado em 15/10/2013 (DJe 21/10/2013),
[17] O art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/14) retirou do provedor qualquer obrigação de fazer análise do conteúdo de uma publicação, ainda que notificado pela pessoa ofendida. Seu texto garante ao provedor que somente deverá agir para remover conteúdo ilícito quando receber uma ordem judicial. A sua redação é a seguinte: “Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.”
O trecho vetado da “Reforma Eleitoral” que obrigava a suspenção de contéudo inserido por usuário anônimo em redes sociais – a necessidade de ponderação entre a liberdade de expressão e outros direitos e garantias individuais
O TRECHO VETADO DA “REFORMA ELEITORAL” QUE OBRIGAVA A SUSPENSÃO DE CONTEÚDO INSERIDO POR USUÁRIO ANÔNIMO EM REDES SOCIAIS – a necessidade de ponderação entre a liberdade de expressão e outros direitos e garantias individuais
Demócrito Reinaldo Filho
Desembargador do TJPE
No final do mês de setembro deste ano, a presença de crianças em uma performance protagonizada por um homem nu deu início a uma grande polêmica nas redes sociais. Fotos e vídeos registrados no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) mostraram uma garotinha tocando as mãos e os pés de um artista, que estava nu e deitado imóvel no chão. Em outra imagem que circulou na Internet, quatro meninas apareciam de mãos dadas com o artista. As críticas se multiplicaram e a direção do museu se apressou em dizer que as crianças estavam acompanhadas dos pais e que a apresentação aconteceu uma única vez e que não seria repetida[1].
A direção do museu errou ao não ter evitado a entrada de crianças na sala onde estava sendo realizada esse tipo de apresentação artística. Embora a performance pudesse não ter qualquer conteúdo ou inspiração erótica, uma criança pode não compreender ou discernir adequadamente sobre sua natureza. A criança, como pessoa humana em processo de desenvolvimento, tem direito à informação e à cultura, bem como acesso a espetáculos artísticos, desde que se respeite sua condição peculiar (art. 71 do ECA).
O que me impressionou, no entanto, foi a contrarreação a essa indignação inicial das pessoas ao contato das crianças com a performance perpetrada pelo homem nu. Algumas vozes alardearam que se estava fazendo uma “censura” à arte. Ora, ninguém quis proibir ou recriminou a performance do homem nu em si, apenas o seu contato com crianças se entendeu inapropriado.
Guardadas as devidas proporções, fenômeno semelhante aconteceu em relação a um ponto da “Reforma Eleitoral”. No Projeto de Lei da Câmara n° 110, de 2017, que modifica a Lei 9.504/1997 (Lei Eleitoral) no artigo 57-B, havia sido incluído um parágrafo (§ 6º.) que atribuía aos provedores de serviços na Internet a obrigação de suspensão de conteúdo ofensivo falso ou que incitasse o ódio contra candidato, partido ou coligação. De logo, vozes se levantaram e passaram a bradar que a medida legislativa instituía a censura na Internet. Mesmo setores da imprensa tradicional ecoaram esse discurso[2]. A ANJ (Associação Nacional de Jornais), a ABERT (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão), a ANER (Associação Nacional de Editores de Revistas) e a ABI (Associação Brasileira de Imprensa) se pronunciaram contra a medida. O Comitê Gestor da Internet (o CGI.br) também publicou nota, pedindo o veto do dispositivo, o que terminou ocorrendo.
Acredito que a reação foi exagerada e num tom alarmista. Chegaram a pronunciar que “o Brasil não vive o fantasma de práticas tão explícitas de censura desde o fim da ditadura militar”[3] e que a medida legislativa representava “grave ameaça ao regime democrático”[4]. A reação foi tanta e tão desmedida que até o deputado que havia proposto a medida, Dep. Áureo Ribeiro (SD-RJ), se assustou e ele mesmo solicitou ao Presidente Temer que vetasse o artigo atacado[5].
Realmente, houve uma dose de exagero. Os órgãos tradicionais da imprensa brasileira ficaram preocupados sem razão com uma certa “insegurança jurídica” na redação do dispositivo, mas o fato é que o artigo de lei vetado não se dirigia a eles de nenhuma maneira, pois só teria aplicação limitada a redes sociais e sites e aplicativos que oferecem sistemas e plataformas para publicação de conteúdo informacional pelos usuários, sem qualquer tipo de controle editorial prévio. A regra visava a permitir que, uma vez notificados, esses sites e aplicativos retirassem, no prazo de 24 horas, conteúdo informacional ofensivo de caráter falso ou que incitasse o ódio, apenas para verificação da identidade do usuário que fez a postagem do material informacional dessa natureza. Tinha espectro limitado à propaganda eleitoral na Internet, que já é regulada por lei (Lei n. 9.504/97), alcançando, portanto, somente candidatos e partidos devidamente registrados e durante período certo.
Para se constatar o seu alcance, observe-se a redação do dispositivo vetado:
“Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
& 6º A denúncia de discurso de ódio, disseminação de informações falsas ou ofensa em desfavor de partido, coligação, candidato ou de habilitado conforme o art. 5o C, feito pelo usuário de aplicativo ou rede social na Internet, por meio do canal disponibilizado para esse fim no próprio provedor, implicará a suspensão, em no máximo vinte e quatro horas, da publicação denunciada até que o provedor certifique-se da identificação pessoal do usuário que a publicou, sem fornecimento de qualquer dado do denunciado ao denunciante, salvo por ordem judicial”;
Como se pode notar, a regra se dirigia apenas aos sites e aplicativos que permitem a publicação instantânea pelos usuários de conteúdo informacional. São essas plataformas e redes sociais que oferecem mecanismos de publicação por qualquer pessoa e que não fazem a checagem de modo efetivo da identidade dos utentes de seus serviços on line. Isso é perigoso e precisa de regulamentação apropriada porque permite que qualquer pessoa, escondendo sua identidade real, possa se utilizar desses sistemas informáticos para difamar outros indivíduos e cometer crimes. O dispositivo vetado (§ 6º. do art. 57-B) nem sequer determinava a remoção pura e simples de conteúdo, mas tão-somente a suspensão “da publicação denunciada até que o provedor certifique-se da identificação pessoal do usuário que a publicou”. Ou seja, não se estava criando um sistema de “notice and takedown”[6], mas apenas uma suspensão temporária para fins de checagem da identidade do intermediário da comunicação informática (usuário da plataforma) responsável pela inserção da notícia ou informação denunciada como ofensiva ou odiosa. Uma vez o provedor se certificando que a informação não havia sido postada por nenhuma espécie de “troll”[7], ele poderia com toda a segurança retorná-la, para o mesmo local e endereço originalmente posta. A eliminação da publicação só seria adotada em caso de não comprovação da identidade da pessoa que a realizou.
Nessas circunstâncias, não me pareceu que a proposta legislativa tivesse qualquer caráter de “censura”; muito pelo contrário, era de espectro bastante limitado e nem sequer impunha qualquer tipo de remoção de conteúdo, frise-se. Tudo indica que a intenção era combater a disseminação do chamado “discurso do ódio” (hate speech) e sobretudo a difusão de informação falsa na rede mundial de comunicação, em redes sociais e blogs de discussão, durante o período da propaganda eleitoral[8]. Na verdade, o se pretendia não era estabelecer uma espécie de “filtro” à livre disseminação de ideias e informações, mas tão-somente impedir a utilização de identidade falsa na rede com o objetivo de influir no processo eleitoral. É sempre bom lembrar que nossa Constituição impôs limites à liberdade de expressão, ao vedar o anonimato (art. 5º., IV).
O problema com as fake news, espalhadas comumente em redes sociais e outras plataformas de difusão de conteúdo produzido livremente, é um assunto que gera preocupação de todos os governos de países desenvolvidos, que buscam também formas de combater a incitação ao ódio, propaganda de terrorismo, propaganda extremista de cunho racial (como neo-nazismo), disseminação de pornografia infantil, entre outros males. Diferentemente de anos atrás, ganha corpo o sentimento de que os provedores têm que atuar de forma ativa na remoção desse tipo de conteúdo. Sobretudo a partir do início deste ano, deputados do parlamento da União Europeia convergem no sentido que se deve impor multas aos provedores quando não tomem providências na remoção de material visivelmente ilícito[9]. Durante muitos anos se observou uma espécie de “laissez-faire” regulatório, mas agora as autoridades de diversos países clamam por um esforço de atualização da legislação, para fazer face ao problema dos conteúdos ilegais. A Alemanha já aprovou lei que permite multar as plataformas da Internet que não retirarem conteúdo de hate speech em 24 horas[10]. A União Européia caminha no mesmo sentido, tendo sugerido a aprovação de legislação semelhante em todos os países integrantes do bloco[11].
Tem-se em mente que o princípio da liberdade de expressão e o direito à informação continua como pedra de toque dos sistemas democráticos e a Internet deve manter sua característica de uma rede aberta e descentralizada, mas que se deve buscar um equilíbrio e proporcionalidade na preservação de outros direitos e garantias de proteção da personalidade humana. Os provedores de serviços e controladores de “plataformas” na Internet devem ser obrigados a construir sistemas mais bem adaptados para remover material visivelmente ilícito, a exemplo de propaganda terrorista, abuso sexual de crianças, discurso do ódio e coisas do gênero.
Se tivesse sido aprovada a emenda do Dep. Áureo Ribeiro, no futuro poderíamos evitar aqui no Brasil problema de interferência no processo eleitoral semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos. Como se sabe, russos criaram contas falsas no Google, Facebook e Twitter e, por meio delas, publicaram notícias falsas e compraram publicidade, para influenciar as eleições norte-americanas do ano passado[12].
Por isso tudo, minha estranheza diante de tão acirrado movimento contra a proposta de inserção do § 6º. no art. 57-B da Lei 9.504/1997. É certo que a emenda do Dep. Áureo Ribeiro foi feita de última hora, sem permitir um maior amadurecimento da proposta, o que gerou desconfiança sobre ela. Teria sido muito mais produtivo se tivesse sido feita com bastante antecedência, para permitir debate mais aprofundado e racional, com todos os esclarecimentos à sociedade. Mas mesmo assim, a reação contra ela foi demasiadamente exagerada.
Em outubro do próximo ano teremos eleições gerais no Brasil, incluindo a de Presidente da República. Vamos torcer para que o pleito não perca sua legitimidade, tornando-se uma guerra de “manipulação eleitoral digital”, travada entre trolls e hackers com as armas da comunicação falsa (fake news).
Recife, 11.10.17
[1] Ver notícia publicada no Correio Braziliense, em 29.09.17, acessível em: http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2017/09/29/internas_polbraeco,630101/interacao-de-criancas-com-homem-nu-no-mam-em-sao-paulo-gera-polemica.shtml
[2] A Folha de São Paulo publicou uma matéria correta, destacando trechos do texto legal e dos pontos de vista a favor e contra. Mas o título da reportagem, no entanto, já era preconceituoso contra o projeto de lei, pois falava em “censura” de conteúdo. Ver a matéria, publicada sob o título “Reforma política permite censura de conteúdo mesmo sem ordem judicial”, em 05.10.17, acessível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/10/1924626-emenda-em-reforma-politica-obriga-suspensao-de-publicacao-apos-denuncia.shtml
[3] Ver notícia publicada em: https://porta23.blogosfera.uol.com.br/2017/10/06/comite-gestor-recomenda-veto-ao-artigo-da-lei-eleitoral-que-censura-a-rede/?cmpid=copiaecola
[4] Ver a matéria, publicada sob o título “Reforma política permite censura de conteúdo mesmo sem ordem judicial”, em 05.10.17, acessível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/10/1924626-emenda-em-reforma-politica-obriga-suspensao-de-publicacao-apos-denuncia.shtml.
[5] Ver notícia publicada no site da Agência Brasil, em 06.10.17, acessível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-10/temer-sanciona-fundo-eleitoral-mas-veta-censura-na-internet-e-limite-de
[6] “Notice and takedown” quer significar que o provedor de serviços na Internet não será responsabilizado pela publicação do conteúdo se, uma vez notificado pelo legítimo autor, removê-lo imediatamente.
[7] Um troll, na gíria da internet, designa uma pessoa cujo comportamento tende sistematicamente a desestabilizar uma discussão e a provocar e enfurecer as pessoas nela envolvidas. A intenção é provocar emocionalmente os membros de uma comunidade através de mensagens controversas ou discriminatórias. Com isso, ele consegue interromper uma discussão sadia e causa conflitos entre os participantes, fazendo com que o objetivo principal do tópico saia de foco. O troll atua em lugares onde existe uma grande concentração de pessoas envolvidas em algum debate potencialmente polêmico. Ele age em comunidades do Facebook, listas de discussão, fóruns, blogs e chats. Ele atua com perfis falsos (fakes) e percorre a rede semeando a discórdia dentro das comunidades.
[8] Essa de fato era a intenção do Deputado
Áureo Ribeiro, pois em reportagem da Folha de São Paulo, ele disse, referindo-se à emenda de sua autoria: “o trecho obrigará que redes sociais, como o Facebook, por exemplo, façam uma verificação sobre a autoria de comentários feitos nas redes de candidatos”. Ele argumentava que trechos caluniosos seriam submetidos à análise da rede social, que teria um prazo de 24 horas para verificar se o perfil é verdadeiro ou falso. A eliminação das postagens, segundo ele, só ocorreria se não ficasse provada a autenticidade do autor. “É um crime fazer comentários com perfis falsos. Isso pode mudar o resultado de uma eleição. A diferença é que queremos agilidade, porque se ficar comprovado que o autor não é verdadeiro, aí já passou o resultado das eleições”, disse o Deputado.
[9] Ver notícia publicada no jornal inglês “The Guardian”, em 01.05.17, acessível em: https://www.theguardian.com/media/2017/may/01/social-media-firms-should-be-fined-for-extremist-content-say-mps-google-youtube-facebook?CMP=share_btn_fb
[10] Ver notícia publicada no jornal inglês “The Independent”, em 20.12.16, acessível em: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/facebook-fake-news-article-fine-germany-fake-news-article-thomas-oppermann-sdp-chairman-a7484166.html
[11] Ver notícia publicada em 28.09.17, acessível em: http://www.euractiv.com/section/freedom-of-thought/news/tougher-eu-hate-speech-guidelines-urge-tech-giants-to-prevent-digital-wild-west/
[12] Ver notícia publicada em 10.10.17, acessível em: https://eco.pt/2017/10/10/google-facebook-e-twitter-alvos-de-anuncios-russos-para-influenciar-eleicoes-norte-americanas/
Code is not law
CODE IS NOT LAW – A empresa que controla o Whatsapp precisa se submeter ao império das leis nacionais
Demócrito Reinaldo Filho
Juiz de Direito
Em meados do ano de 1999, o jusfilósofo norte-americano Lawrence Lessig lançou o seu celebrado “Code and Others Laws of Cyberspace”[1]. Nesse livro, o festejado pensador da Internet, naquela época ainda em seus primórdios, propunha uma teoria de que a lei do ciberespaço seria o “código” (code) de computador, ou seja, o conjunto de softwares e aplicações que formam a “arquitetura”[2] da rede mundial de comunicação. Para ele, as relações sociais ocorridas dentro desse espaço de comunicação[3], formado pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores[4], seriam reguladas por normas próprias para esse ambiente, decorrentes do modo como os softwares funcionam formando a “arquitetura” da rede. Ou seja, para Lessig o código do ciberespaço (a sua arquitetura) seria a lei desse ambiente ou espaço de comunicação, uma compilação de regras de conduta social aceitas pelos participantes. A Lei de origem estatal (os códigos de leis), inclusive por suas limitações de eficácia territorial, não teria validade nesse espaço desmaterializado. Ele reconhece o “código” (code), assim entendido o conjunto de softwares e o hardware que lhe dão a forma e existência (arquitetura), como o novo agente regulador para as relações sociais travadas no ciberespaço. As constituições, leis, estatutos e outros códigos jurídicos não teriam validade nesse espaço de comunicação.
Como se observa, parte da concepção de Lessig se fundamentava na relativização do conceito de Constituição como norma fundamental do ordenamento jurídico. O que quer que defina a arquitetura do ciberespaço (forças de mercado, p. ex.), acaba por criar uma norma fundamental, uma verdadeira “Constituição”, que submete todos os outros envolvidos e participantes desse espaço de comunicação. “Code is Law”, bradava o eminente professor.
Na infância da Internet, a teoria de Lessig parecia fazer mais sentido, quando se imaginava que os Governos e as nações soberanas não teriam um papel regulador sobre o ciberespaço. Ganhava força o apelo a códigos e normas não estatais que poderiam resolver as relações em comunidades de pessoas formadas na Internet, a chamada “netiquette”, conjunto de princípios éticos próprios do ambiente virtual. Isso se explicava porque no início a “geografia” da rede era bem diferente de como a conhecemos hoje. Antes, sites criados por adolescentes e gerenciados dos quartos de suas casas eram os mais visitados. O comércio eletrônico ainda não havia invadido a rede, que somente com o tempo se tornou um meio para as pessoas realizarem quase tudo. Com o avanço da rede mundial de comunicações na vida das pessoas, cresceu sua importância e a necessidade de uma melhor regulação. Logo se observou que as leis criadas para regular as relações nos ambientes físicos também tinham aplicação nos ambientes virtuais. Os governos dos países foram, pouco a pouco, adaptando suas leis para fazer face às peculiaridades das relações sociais nos ambientes virtuais. Entidades e órgãos internacionais estabeleceram convenções e normas para padronizar a aplicação da lei estatal nesses ambientes.
A teoria do “code” como a lei (ou Constituição) do ciberespaço ficou relegada, assim, a discussões de fundo acadêmico. São as leis de origem estatal, porque elaboradas democraticamente como expressão da “soberania” dos países que regulam as relações sociais de seus cidadãos na Internet ou em qualquer rede de comunicação. Empresas ou quem quer que desenvolva códigos (softwares) para funcionamento de aplicações na Internet não têm legitimidade para impor normas de conduta, ainda que limitadas às interações sociais nesse espaço de comunicação.
O novo capítulo do conflito entre a Justiça brasileira e a empresa que controla o aplicativo Whatsapp[5] parece uma tentativa da imposição da força do código (software) sobre a lei estatal, retroagindo à pré-história da Internet. Não se trata de um conflito entre privacidade dos usuários do aplicativo e o interesse pela segurança pública e necessidade de investigação de crimes. É uma discussão mais ampla e mais profunda, em torno da legitimação para regular as relações sociais na rede mundial de comunicação.
Como se sabe, a juíza Daniela Barbosa Assunção de Souza, da 2ª. Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias-RJ, ordenou no dia de ontem (19.07.16) a suspensão do Whatsapp em todo o país[6]. Na decisão, a juíza esclareceu que o bloqueio do serviço foi determinado porque o Facebook, proprietário da empresa que controla o Whatsapp, se negou a atender a uma requisição judicial para entrega de dados necessários à investigação de crimes praticados por uma quadrilha em Duque de Caxias[7]. Após receber a primeira notificação, o representante do Facebook informou por email, em inglês, que o WhatsApp não copia ou arquiva mensagens compartilhadas entre seus usuários. Além disso, fez cinco perguntas sobre a investigação em andamento[8] e não cumpriu a decisão, razão porque a juíza determinou o bloqueio do aplicativo. O bloqueio só durou poucas horas, pois a decisão da juíza terminou sendo suspensa pelo Sr. Ministro Ricardo Lewandowiski, Presidente do STF, que concedeu liminar requerida pelo PPS (Partido Socialista Brasileiro)[9].
Em sua decisão, a magistrada ressalta que as empresas de tecnologia, no que tange a questões envolvendo o processamento de dados de brasileiros, sujeitam-se às leis brasileiras (art. 21 do novo CPC[10] e art. 11 do Marco Civil[11]). Em seguida, esclarece que o Facebook não pode se escusar de cumprir a ordem alegando que não tem poderes sobre o Whatsapp, pois é notório que adquiriu a empresa que desenvolveu esse aplicativo[12]. A juíza ainda afastou o argumento da empresa controladora do Whatsapp de que não tem meios técnicos para cumprir a ordem judicial, mostrando que peritos da polícia federal e da polícia civil afirmam ser possível o cumprimento. Esclarece que, ainda que o Whatsapp utilize sistema de encriptação de ponta-a-ponta, não armazenando as mensagens e arquivos trocados pelos usuários em seu servidor, isso não seria empecilho para o cumprimento da ordem judicial, pois “não solicitou em momento algum o envio de mensagens pretéritas nem o armazenamento de dados”, mas tão somente “a desabilitação da chave de criptografia, com a interceptação do fluxo de dados, com o desvio em tempo real em uma das formas sugeridas pelo MP, além do encaminhamento das mensagens já recebidas pelo usuário e ainda não criptografadas, ou seja, as mensagens trocadas deverão ser desviadas em tempo real (na forma que se dá com a interceptação de conversações telefônicas), antes de implementada a criptografia”. Lembrou o comportamento da Google em caso semelhante, quando essa empresa afirmou ser impossível o cumprimento de ordem para entrega de informações, mas logo depois voltou atrás e prestou as mesmas informações. E concluiu que a alegativa de impossibilidade técnica no caso era só uma repetição dessa mesma estratégia[13].
A magistrada não se satisfez em examinar os aspectos técnico-jurídicos do caso, mostrando ter sensibilidade e preocupação com os impactos sociais de sua decisão e reflexos sobre os usuários[14], mas ressaltando que os valores e interesses que buscava preservar superam qualquer incômodo ou impedimento transitório à utilização do aplicativo. Muito mais importante é a preservação da ordem jurídica, pois uma empresa de tecnologia não pode desenvolver um sistema de comunicação e atuar no mercado, obtendo lucro, sem querer se submeter ao cumprimento de decisões judiciais, pois os prejuízos sociais decorrentes do impedimento à investigação de crimes graves são ainda maiores, indicou a juíza[15].
Além de demonstrar que foi a recalcitrância da empresa, em virtude do seu comportamento de não querer cumprir solicitações anteriores, que a levou a tomar a medida extrema de suspensão do serviço[16], a magistrada não pôde deixar de registrar que a controladora do Whatsapp dispensa total desprezo para a Justiça do nosso país, “como uma ‘republiqueta’ com a qual parece estar acostumada a tratar”, porquanto ao invés de cumprir sua ordem de interceptação a empresa enviou um questionário para a própria magistrada responder, ainda por cima na língua inglesa. A juíza define como um contrassenso a empresa alegar empecilhos de ordem técnica para cumprir a ordem judicial e, ao mesmo tempo, submetê-la ao questionamento como condição prévia para eventual cumprimento.
Em conclusão, além de muito bem fundamentada, sem deixar qualquer aspecto do caso sem apreciação e resposta, e ser proporcional à gravidade da situação, a decisão da magistrada expõe o que realmente está por detrás da recusa insistente da empresa Facebook Brasil em não cumprir ordens dos juízes brasileiros. Ela não quer se submeter à jurisdição nacional, porque certamente encobre outros interesses em jogo. É falsa a impressão de que essa empresa de tecnologia, pelo menos nesse caso, esteja realmente impregnada do sentimento legítimo de proteção da privacidade dos seus usuários.
O caso “Justiça brasileira x Whatsapp-Facebook” não é muito diferente do “FBI x Apple”, quando em março deste ano a agência federal de investigação americana (FBI) pediu que a Apple criasse uma chave para contornar o sistema de criptografia do iPhone do suspeito de atos de terrorismo em San Bernadino[17]. O que a Apple alegou à época, e o Whatsapp agora, é que abrir uma brecha na criptografia dos sistemas poderia prejudicar a privacidade de seus usuários, já que as comunicações, assim, poderiam ser interceptadas por hackers ou governos totalitários. Muitos desconfiam que essa defesa repentina da privacidade é uma forma de marketing ou estratégia de algum modo articulada para melhorar a imagem das empresas gigantes de TI, abaladas com a revelação do escândalo denunciado por Edward Snowden como colaboradoras do esquema massivo de vigilância executado pela NSA[18]. Por conta dessa denúncia, as empresas norte-americanas de TI perderam bilhões de dólares na prestação de serviços de hospedagem em nuvem. Empresas de outros países, desconfiadas de que seus dados podem ser repassados ao Governo americano, preferiram contratar empresas de seus próprios países, que armazenem os dados em servidores localizados fora do território dos Estados Unidos. Assim, ao se apresentarem agora como paladinas da defesa da privacidade, as empresas de TI do Vale do Silício podem estar tentando recuperar a confiança que perderam com a revelação do caso Snowden[19].
Mas em momento algum, pelo menos no caso da Justiça brasileira, foi requerido que o Facebook ou a empresa que desenvolve o Whatsapp revele o seu segredo tecnológico de criptografia da comunicação gerada por meio do aplicativo. O que a Justiça quer é que essa empresa ajuste o seu sistema, para funcionar de modo a que possa fornecer as informações (interceptação do conteúdo das mensagens), quando solicitada para fins de investigação criminal, mediante autorização judicial.
Não se trata de um conflito entre privacidade dos usuários do aplicativo e o interesse pela segurança pública, como estampado hoje na capa dos principais jornais brasileiros. Esse conflito, na verdade, é somente aparente e utilizado de uma maneira distorcida para encobrir um indisfarçável propósito das empresas de tecnologia: elas não querem se submeter à jurisdição dos países soberanos.
A bem da verdade, nem todo mundo acredita que o Whatsapp não armazene as mensagens que são enviadas pelos seus usuários[20]. Somente uma perícia técnica nos servidores poderia constatar isso, mas a empresa nunca aceitaria por conta de segredos tecnológicos que busca preservar. Mesmo aceitando tal perícia, sempre haveria a possibilidade de a empresa armazenar os dados em um servidor não declarado, em localidade não conhecida. Mas o que ela pode fazer, isso não há dúvida, é ajustar ou calibrar o seu sistema para que cumpra as requisições da Justiça. Isso tem que ser feito pela simples razão de que precisa ajustar sua atividade à ordem jurídica do Brasil, se quer fazer negócio com os cidadãos residentes no nosso país.
A possibilidade de interceptação, mediante ordem judicial, do fluxo das comunicações (inclusive telemáticas), está prevista na própria Constituição, no seu art. 5o., XII, que estabelece a quebra do sigilo para fins de investigação criminal e instrução processual penal. A Lei n. 9296/96 regulamentou esse artigo da Constituição. Os arts. 7º., II, e 10, § 1º., do Marco Civil da Internet no Brasil (Lei n. 12.965/14) também reproduzem a regra constitucional. Se a criptografia de “ponta-a-ponta” do aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp não permite a interceptação do fluxo das comunicações (para fins de investigação criminal), como sustenta a empresa, trata-se de um sistema informático ilegal, em desconformidade com as nossas leis. A atividade de empresa que dissemina e explora comercialmente esse tipo de sistema, obtendo lucro, está evidentemente no espectro da ilegalidade[21]. Isso sem contar os nefastos efeitos sociais que produz, ao favorecer o crime organizado e gerar danos à sociedade, enfraquecendo o combate à pornografia infantil, ao tráfico de drogas, ao terrorismo e outros crimes graves.
Não podemos admitir mudar as nossas leis ou negar eficácia à Constituição apenas para preservar o modelo de negócios do Whatsapp. Muito mais importante é a preservação da ordem jurídica, da afirmação da nossa soberania[22]. As empresas de tecnologia da informação, por mais que possam proporcionar benefícios e facilitação na realização de tarefas humanas, não podem pretender estar acima da lei. Cresceram com a expansão do comércio eletrônico na Internet e se transformaram em corporações gigantescas, dotadas de poder político e econômico incomparáveis. Mas falta-lhes legitimidade para regular a sociedade, como poder originário na criação da norma fundamental. Não é o código de computador o agente regulador de nossa sociedade, pois “CODE IS NOT LAW”.
Recife, 20.07.16
[1] Um sumário e excertos da obra podem ser encontrados no seguinte endereço: http://code-is-law.org/
[2] O termo arquitetura se refere à forma como um sistema, composto por programas (softwares) e dispositivos (hardware), se organiza ou se estrutura.
[3] Larry Lessig advertia que o ciberespaço (cyberspace) não se confunde com a rede Internet, sendo aquele uma experiência mais rica, de imersão, na qual os participantes acreditam viver em uma comunidade, onde muitos deles chegam a confundir suas vidas com suas existências no ciberespaço.
[4] É assim que Pierre Lèvy define o ciberespaço, como “o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores” (LÈVY, Pierre. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço: 2ª. Ed. São Paulo. Loyola, 1999)..
[5] Essa não é a primeira vez que a empresa que controla o aplicativo Whatsapp se recusa a cumprir determinações da Justiça brasileira. No Piauí, em fevereiro do ano passado, um caso parecido ocorreu quando o Juiz de Direito Luís Moura Carvalho, da Central de Inquéritos de Teresina, determinou o bloqueio do WhatsApp no Brasil. Em dezembro de 2015, a Juíza de Direito Sandra Regina Nostre Marques, da 1ª vara Criminal de São Bernardo do Campo/SP, determinou também o bloqueio do aplicativo. Em maio deste ano, o Juiz Marcelo Montalvão, da Comarca de Lagartos-SE, determinou o bloqueio do WhatsApp por 72 horas em todo país. Em todos esses casos, o bloqueio havia sido decretado como forma de forçar a empresa que controla o Whasapp a entregar informações necessárias a investigações criminais. As decisões de bloqueio terminaram sendo suspensas nos tribunais.
[6] Ver notícia publicada no site Globo.com, em 19.07.16, acessível em: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/07/whatsapp-deve-ser-bloqueado-decide-justica-do-rio.html
[7] Ver íntegra da decisão em: http://grupocienciascriminais.blogspot.com.br/2016/07/veja-o-texto-completo-da-decisao-que.html
[8] Ver notícia publicada no site Migalhas, em 19.07.16, acessível em: http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI242570,41046-Juiza+do+RJ+bloqueia+WhatsApp+em+todo+o+pais
[9] Ver notícia publicada no site Globo.com, em 19.07.16, acessível em: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/07/stf-suspende-decisao-da-justica-do-rio-que-bloqueou-whatsapp.html
[10] “Art. 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que:
I – o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil;
II – no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;
III – o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil.
Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso I, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal.
[11] Lei 12.965/14: Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros.
- 1o O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao conteúdo das comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil.
- 2o O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil.
- 3o Os provedores de conexão e de aplicações de internet deverão prestar, na forma da regulamentação, informações que permitam a verificação quanto ao cumprimento da legislação brasileira referente à coleta, à guarda, ao armazenamento ou ao tratamento de dados, bem como quanto ao respeito à privacidade e ao sigilo de comunicações.
- 4o Decreto regulamentará o procedimento para apuração de infrações ao disposto neste artigo.”
[12] Como cita a juíza, os meios de comunicação noticiaram amplamente a aquisição bilionária da empresa WhatsApp Inc. pela Facebook, ficando assim nítida uma estratégia traçada para se furtar ao cumprimento da legislação brasileira, quando a Facebook Brasil alega que não detém «poderes sobre o aplicativo». Isso porque, sabendo-se que a Whatsapp Inc. é sedida nos Estados Unidos, aceitar a escusa do Facebook equivaleria a tornar essas empresas “sempre intocáveis, sem jamais se sujeitar às Leis do País”.
[13] “A falta ou a negativa de informação por parte da empresa, deixando de atender a uma determinação judicial, impede aos órgãos de persecução de apurarem os ilícitos e alcançarem os autores dos crimes praticados, constituindo-se a recusa no fornecimento dos dados mera estratégia da empresa a fim de procrastinar e até descumprir a ordem judicial, sob o pálio de impossibilidades técnicas.”
[14] O aplicativo Whatsapp possui mais de 1 (um) bilhão de usuários em todo mundo, sendo certo que o «BRASIL é o segundo país com maior número de usuários atrás apenas da África do Sul. Segundo relatório divulgado pela entidade, 76% dos assinantes móveis no Brasil fazem uso regular do Whatsapp, que é o comunicador instantâneo mais popular no País».
[15] “Como se conclui, não pode um serviço de comunicação de tamanho alcance, ser oferecido a mais de 100 (cem) milhões de brasileiros sem, no entanto, se submeter às Leis do País, descumprindo decisões judiciais e obstruindo investigações criminais em diversas unidades da Federação.
Qualquer empresa que se instale no País fornecendo determinado serviço, deverá estar apta a cumprir as decisões judiciais que, porventura, recaiam sobre esta, sob pena de cancelamento do próprio serviço, ainda mais, quando se trata de atividade que envolve lucros vultosos, não sendo crível que seus representantes não sejam capazes de se aparelhar para o devido cumprimento das decisões judiciais.
(…)
Assim, embora se diga, no âmbito geral, que a suspensão dos serviços do aplicativo Whatsapp causa transtorno aos seus milhões de usuários, é necessário enxergar justamente o oposto, pois as investigações criminais onde atuam a Polícia Judiciária, o Ministério Público e o Poder Judiciário, visam atender, justamente, à população como um todo, tão carente nos dias atuais de uma melhoria na sua qualidade de vida e nos níveis de insegurança social, onde índices de criminalidade vêm crescendo assustadoramente, visando uma diminuição na impunidade que assola nosso País, atendendo, assim, seus reclames por segurança pública e Justiça.
(…)
O prejuízo maior, assim, quando o Facebook do Brasil descumpre uma ordem judicial, é da sociedade, ante a impunidade gerada pela negativa em fornecer informações que serão fundamentais para a consecução das investigações e, posteriormente, para robustecer o processo criminal de provas que sejam úteis à formação da convicção das partes e do juiz.
Aqueles na sociedade que reclamam a simples ausência de um aplicativo, como se não nos fosse mais possível viver sem tal facilidade, como se outros similares não pudessem ser utilizados, como se outros meios de comunicação não existissem, deveriam lembrar que a maior vítima dos crimes ora investigados é a própria Sociedade, sendo certo que a todo o momento novas vítimas são feitas e novos crimes são cometidos sem que a Justiça possa impedir os fatos ou punir os responsáveis.
[16] Parece que mesmo as sanções pecuniárias em forma de multas não assustam ou induzem a empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. a cumprir com a decisão judicial. A multa é sempre passível de questionamentos, podendo ser reduzida ou mesmo eliminada, além de que sua cobrança é feita através de um processo judicial (execução), sempre lento e sujeito a diversos percalços. Sempre há a possibilidade de um outro juiz, em outro grau de jurisdição, entender pela desnecessidade da multa e extinguir a cobrança. Para a juíza Daniela Barbosa, o bloqueio do serviço é a única suspensão temida pelo Facebook, dono do Whatsapp. Ela esclarece que deu ordem para o bloqueio porque notificou anteriormente três vezes a empresa controladora do Whatsapp para prestar as informações requeridas, com imposição de multa, mas suas decisões foram descumpridas reiteradamente. Ela também, pela experiência que teve no caso, alega que nem mesmo a ameaça de iniciar procedimento para processar os executivos do Facebook por crime de descumprimento de decisão judicial (art. 330 do CP) é suficiente. “Eles não temem a punição dos executivos, porque o crime de desobediência é de baixo potencial ofensivo. Eles só temem a suspensão”, diz a juíza. Ver notícia da Revista Época, publicada no dia 19.07.16, acessível em: http://epoca.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2016/07/os-criminosos-tem-no-whatsapp-um-porto-seguro-diz-juiza-que-decretou-o-bloqueio.html
[17] Ver notícia sobre o caso no site do jornal New York Times, acessível em: http://www.nytimes.com/interactive/2016/03/03/technology/apple-iphone-fbi-fight-explained.html?_r=0
[18] National Security Agency, que vem a ser uma das agências de inteligência dos EUA.
[19] Essa pelo menos é a opinião de Rodrigo Fragola, especialista em segurança da informação e presidente da Aker Security Solutions. Diz ele, sobre o comportamento do Whatsapp em relação à Justiça brasileira: “É bom frisar que as empresas não são paladinas dos direitos. A questão é: quem opera com sistemas na nuvem, como Facebook, Apple, Amazon et., depende de confiabilidade da segurança de suas plataformas. Elas querem é chamar atenção para passar a imagem de que estão fazendo de tudo para proteger a privacidade dos usuários e tentar aliviar a pressão do governo” (em reportagem no Jornal do Commercio, do dia 20.07.16).
[20] Ler, a respeito, o artigo “Por qual razão uma empresa de US$ 22 bilhões não tem back-up?”, da advogada especializada em Direito Digital Ana Paula Siqueira Lazzareschi de Mesquita, publicado no site Convergência Digital em 03.05.16, acessível em: http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=42311&sid=15
[21] Pelo que se tem notícia, o Ministério Público Federal já abriu investigação para examinar a legalidade da criptografia de ponta-a-ponta do Whatsapp. Ver notícia em: http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=42323&sid=4
[22] A juíza tocou nesse aspecto de preservação da soberania nacional, quando disse: “Não há, assim, como se tolerar que as autoridades judiciais deste país, frequentemente à frente de investigações criminais de grande monta, estejam sujeitas a tamanho descaso. Trata-se de uma afronta ao sistema judiciário nacional e muito mais do que isso, uma afronta ao próprio Estado Nacional.”
A remoção dos resultados de pesquisa dos motores de busca
A remoção dos resultados de pesquisa (indexação) dos motores de busca na internet (1ª. Parte)
A repercussão da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia
A espionagem elecrônica
A espionagem elecrônica
a resposta do Governo americano e das empresas de tecnologia
A Diretiva Europeia sobre proteção de dados pessoais
A Diretiva Europeia sobre proteção de dados pessoais
uma análise de seus aspectos gerais
Da possibilidade de penhora de saldos de contas bancárias de origem salarial
DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS DE ORIGEM SALARIAL
– Interpretação do inc. IV do art. 649 do CPC em face da alteração promovida pela Lei n. 11.382, de 6.12.06
Sumario
- Introdução.
- O fundamento para a impenhorabilidade salarial prevista no inc. IV do art. 649 do CPC.
- Posicionamento da doutrina.
- A penhora salarial em face das alterações promovidas pela Lei n. 11.382, de 6.12.06 – o veto ao parágrafo 3º do art. 649.
- Necessidade de interpretação compatível com a regra do inc. X do art. 649.
- Conclusões.
- Referências
1. Introdução
Não sobrevive qualquer dúvida quanto à possibilidade de penhora de valores depositados em conta bancária, tendo em vista que essa constrição patrimonial, por si só, não viola o princípio da menor onerosidade previsto no art. 620 do CPC, já que este não se sobrepõe a outros que informam o processo de execução, especificamente aquele inserido no art. 612, que consagra a maior utilidade da execução para o credor e impede que seja realizada por meios ineficientes à solução do crédito exeqüendo. O próprio Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe a missão institucional de uniformizar a interpretação da legislação federal em nosso país, já operou a compatibilização entre os diversos princípios que informam o processo de execução, concluindo pela possibilidade de a penhora recair em dinheiro existente em conta-bancária (1). Ademais, com o advento da Lei 11.382, de 6.12.06, que modificou a redação do inc. I do art. 655, essa discussão ficou superada, já que o dispositivo prevê expressamente a possibilidade de penhora de dinheiro em espécie «ou em depósito ou aplicação em instituição financeira»(2) , inclusive podendo o Juiz valer-se de meios eletrônicos para determinar a indisponibilidade do numerário (penhora on line, art. 655-A). A controvérsia persiste em saber se é possível a penhora de saldo em conta bancária quando proveniente de salário.
No presente trabalho, defendemos essa possibilidade, alertando para o fato de que os magistrados brasileiros não têm emprestado a correta interpretação ao inc. IV do art. 649 do CPC, quando atribuem uma impenhorabilidade absoluta a toda e qualquer verba de origem salarial, criando uma demasiada proteção ao devedor, em detrimento da própria efetividade do processo de execução.
Procuraremos demonstrar que, a despeito do veto presidencial ao parágrafo 3º do inc. IV do art. 649 (na redação que lhe tentou imprimir a Lei 11.382, de 6.12.06) (3), remunerações e parcelas salariais que perdem o caráter alimentar, quando lhe são atribuídas outras finalidades estranhas à subsistência do beneficiado (assalariado), passam a compor o complexo de bens sujeitos à expropriação.
Em suma, o objetivo do presente trabalho consiste na demonstração de ser inaceitável o entendimento de que verbas de origem salarial fiquem isentas inteiramente de excussão patrimonial, por mais elevadas que sejam. A grande maioria da população brasileira é formada de assalariados, incluídos os empregados dos setores público e privado, que em geral só têm os rendimentos do trabalho assalariado como única fonte de renda. Outra boa parte da população é formada de trabalhadores autônomos e profissionais liberais, que também têm no fruto do trabalho a sua origem patrimonial. Impedir que as contas e depósitos bancários dessas pessoas sejam passíveis de penhora equivale a, na prática, tornar ineficaz contra elas processo de execução para o pagamento de dívidas. Com efeito, se não se puder penhorar os rendimentos dessa categoria de pessoas físicas, certamente não sobra quase nenhum outro bem de valor que integre o seu conjunto patrimonial, sabendo-se que a impenhorabilidade prevista no próprio art. 649 do CPC e em outras leis processuais é muito mais abrangente e alcança muitos outros bens, tais como móveis que guarnecem a residência do executado (inc. II), máquinas e utensílios destinados ao exercício da profissão (inc. V), materiais para obras em andamento (VII), a pequena propriedade rural e o imóvel destinado à residência familiar (Lei 8.009/90).
É preciso, portanto, buscar um justo equilíbro entre a regra da impenhorabilidade salarial e remuneratória (prevista no inc. IV do art. 649 do CPC) e a necessidade de se garantir a satisfação do direito de crédito do exeqüente. Não é admissível que o devedor assalariado continue a preservar suas aplicações e depósitos bancários, sem sofrer qualquer diminuição em seu patrimônio, apesar de não pagar aos credores as dívidas que contraiu. A interpretação que eleva a um patamar máximo a imunidade executória de verbas de origem salarial além de ser injusta para o credor, produz efeitos sociais extremamente maléficos, na medida em que, criando uma demasiada proteção processual ao devedor, gera um sentimento de ineficiência da máquina judiciária e estimula o calote de dívidas.
Antes de fechar o presente trabalho com a conclusão de que verbas de origem salarial e remuneratória são passíveis de penhora, quando perdem a natureza alimentar, iniciaremos analisando o fundamento da impenhorabilidade salarial e a necessidade de sua compatibilização com a efetividade do processo de execução, passando depois pelo exame das interpretações doutrinárias em torno do inc. IV do art. 649 e finalizando com a demonstração de que as mudanças trazidas pela Lei 11.382 tão-somente evidenciam essa conclusão.
2- O fundamento para a impenhorabilidade salarial prevista no inc. IV do art. 649 do CPC
O legislador, ao instituir o Código de Processo Civil em janeiro de 1973, estava preocupado em criar mecanismos para atenuar o impacto do processo executório sobre as condições de subsistência do devedor e sua família. Preocupou-se, portanto, em preservar uma dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de execução pudesse representar uma ameaça à sua subsistência. Esse é o fundamento para a impenhorabilidade prevista não somente no inc. IV do art. 649, mas também para as outras situações de imunidade executória delineadas nos outros incisos do mesmo artigo. A justificativa para a impenhorabilidade salarial reside justamente na natureza alimentar de tal verba, considerado que a penhora realizada de forma integral compromete a subsistência do devedor e aniquila a manutenção de sua dignidade material. Toda pessoa tem direito a uma existência digna, e aí se compreende um mínimo de condições materiais para que possa se desenvolver. À pessoa humana devem ser garantidas condições mínimas de habitação, alimentação, vestuário e saúde, condições que se entendem indesjungíveis da própria subsistência digna. Daí se justifica a proteção patrimonial parcial do devedor, para que não perca essas condições de subsistência e desenvolvimento material. A imunidade patrimonial de certos bens, pode-se afirmar em conclusão, resulta da «humanização do processo de execução».
Desde o direito romano se notam os primeiros sinais da preocupação do legislador com a preservação do mínimo suficiente para a subsistência do devedor. Nos primórdios da execução forçada, o devedor respondia com o próprio corpo (com a possibilidade inclusive de sua morte); depois, passou-se ao sistema da escravização temporária até evoluir para a execução patrimonial. Da violenta execução pessoal, a satisfação do crédito passou a ser perseguida por meio da execução sobre o patrimônio do devedor. A própria execução patrimonial também sofreu uma evolução, pois se no seu nascedouro admitia a expropriação da totalidade do patrimônio do devedor, posteriormente começou a admitir restrições em relação ao valor da dívida e a determinados bens. «A impenhorabilidade de bens é a última das medidas no trajeto percorrido pela ‘humanização da execução»(4) .
A preservação das parcelas salariais do devedor, assim como as outras regras de impenhorabilidade de determinados bens, tem, portanto, esse caráter de preservação da dignidade material da pessoa do devedor, através da manutenção de um patrimônio minimamente necessário para a sua sobrevivência digna. Foi a concepção da necessidade de manutenção das condições mínimas de dignidade material do devedor que levou o legislador do Código de 73 a criar a regra da impenhorabilidade remuneratória disposta no inc. IV do art. 649. Registre-se, no entanto, que mesmo na origem da criação dessa regra, o ideal pretendido pelo legislador foi o de estabelecer um equilíbrio justo entre a necessidade de satisfação do direito do exeqüente e a preservação da dignidade material do executado. A preocupação foi a de evitar que o processo de execução possa levar o devedor a um estado de extrema dificuldade em sua sobrevivência, daí o impedimento quanto à expropriação de determinados bens. O instituto da impenhorabilidade sempre teve essa nota característica, de manter com o devedor apenas o mínimo necessário para sua sobrevivência digna.
Ocorre, entretanto, que a parcela do patrimônio a ser preservada deve ser «efetivamente o mínimo necessário à sobrevivência digna, e não a manutenção do padrão de vida do devedor, muitas vezes impossível de ser mantido quando diante da obrigatoriedade de honrar seu compromisso»(5) . Se o fundamento da regra da impenhorabilidade pressupõe que se evitem sacrifícios patrimoniais exagerados, por outro lado não pretendeu exageros de liberalização. A norma deve ser interpretada dentro de um indispensável plano de equilíbrio entre a concepção humanitária da preservação das condições mínimas de dignidade material do devedor com a necessidade também relevante de se garantir a efetividade da tutela jurisdicional executiva.
3- Posicionamento da doutrina
Em sua redação original, atribuída pelo legislador do Código de 1973 (ao editar a Lei 5.869, de 11.01.73), o inciso IV do artigo 649 do CPC foi assim disposto:
«Art. 649. São absolutamente impenhoráveis:
IV – os vencimentos dos magistrados, dos professores e dos funcionários públicos, o soldo e os salários, salvo para pagamento de prestação alimentícia (6);
Mesmo diante dessa literal disposição do caput e do inciso IV do art. 649, que somente abria exceção para penhorabilidade de vencimentos e salários para efeito de pagamento de pensão alimentícia, a doutrina brasileira, por meio dos seus mais ilustres processualistas, logo apressou-se em explicar a natureza do instituto, no sentido de que a impenhorabilidade salarial somente deve ser concebida nos limites de eventual comprometimento da renda mensal necessária à subsistência do devedor e de sua família. A proteção contra a penhora implicaria proibição de se penhorar antecipadamente essas verbas, ainda em poder da fonte pagadora, porque aí poderia restar comprometida a própria subsistência do devedor (assalariado).
Dentre os doutrinadores que externaram essa compreensão do instituto, destacavam-se ERNANE FIDELIS DOS SANTOS, que prelecionou:
«Assim, a impenhorabilidade só se verifica quando vencimento, soldo ou salário estiverem ainda em poder da fonte pagadora. Muito comum é o pagamento de salários, soldos e vencimentos por via bancária. A partir do depósito, a importância perde tal característica, transformando-se em simples numerário, e, em conseqüência, penhorável»(7) .
No mesmo sentido JOSÉ DA SILVA PACHECO, com o esclarecimento de que se o salário é depositado em conta bancária ou investido em atividade financeira, pode ser penhorado:
«A impenhorabilidade não abrange o produto indireto do trabalho. Assim, se o salário, o vencimento já recebido é depositado em banco, ou investido em outra atividade empresarial ou financeira, nada há que impeça a penhora»(8) .
CELSO NEVES também era de opinião que a impenhorabilidade salarial significa apenas a impossibilidade de subordinar antecipadamente os vencimentos e salários à execução, não havendo qualquer impedimento quanto à penhora de dinheiro não utilizado e, por isso, integrado ao patrimônio ativo do devedor:
«Não diz o texto que o dinheiro resultante de vencimentos, soldos e salários seja impenhorável. Antes, assenta a impenhorabilidade dessas contraprestações de serviços no sentido inequívoco de não subordiná-las, antecipadamente, à execução. Depois de percebidas, passam a integrar o patrimônio ativo de quem as recebe e se aí forem encontradas, como dinheiro ou convertidas em outros bens, são penhoráveis».
Já LEONARDO GRECO fazia uma conjugação entre o inc. II e o inc. IV do art. 649, para estabelecer um lapso temporal determinante da natureza alimentar das verbas salariais (9). Para ele, somente seriam impenhoráveis os salários e vencimentos auferidos no mês e efetivamente gastos naquele mesmo mês. Ultrapassado esse marco temporal, os valores remanescentes, não utilizados pelo beneficiário, perderiam sua natureza alimentar, podendo ser objeto de constrição judicial. A não utilização do salário dentro desse prazo significaria que o devedor não necessitou dos valores para a sua subsistência e de sua família. Dizia o citado jurista:
«Tal como a lei estabelece o limite de um mês para os alimentos e combustíveis (inciso II), aqui também esse limite se impõe. Até a percepção da remuneração do mês seguinte, toda a remuneração mensal é impenhorável e pode ser consumida pelo devedor, para manter padrão de vida compatível com o produto de seu trabalho. Mas a parte da remuneração que não for utilizada em cada mês, por exceder as necessidades de sustento suas e de sua família, será penhorável como qualquer outro bem de seu patrimônio» (10).
CANDIDO DINAMARCO tinha posição um pouco diferente dos juristas anteriormente citados. Para ele, não bastava que os valores salariais não fossem gastos pelo devedor no mês de recebimento, devendo ser examinado, em cada caso, e dentro de um critério de razoabilidade, quanto do patrimônio do devedor adquirido com o fruto do seu trabalho pode ser penhorado sem ameaçar a subsistência do devedor e de sua família (11).
«São de alguma freqüência as dúvidas sobre a penhorabilidade de aplicações ou depósitos bancários oriundos de vencimentos, soldos ou salários, as quais devem ser resolvidas segundo um critério de razoabilidade e levando em conta os fundamentos que levam a lei a estabelecer impenhorabilidades. Enquanto esses valores forem de monta apenas suficiente para prover ao sustento durante um tempo razoável, eles são impenhoráveis porque privar deles o trabalhador seria privá-lo do próprio sustento; mas quando os valores se avultam a ponto de se converterem em verdadeiro patrimônio, é natural que se submetam à penhora e execução, tanto quanto o patrimônio mobiliário ou imobiliário adquirido com o fruto do trabalho (cada caso comportará um exame segundo as circunstâncias e as necessidades do devedor e sua família)» (12).
Esse posicionamento de Candido Dinamarco era coerente, como ele próprio expressa, com os fundamentos que levam a lei a estabelecer as situações de impenhorabilidade. Com efeito, no inc. VII do mesmo artigo 649, a lei processual original previa que as pensões e proventos somente seriam impenhoráveis «quando destinados ao sustento do devedor ou de sua família»(13) . Ora, seria uma discriminação injustificada em relação a pensões e proventos, se estes não gozassem do mesmo grau de impenhorabilidade dos salários e vencimentos, dado que essas diversas remunerações têm natureza semelhante.
Bem, se a impenhorabilidade somente se refere à impossibilidade de se condicionar antecipadamente à execução verbas salariais ainda a receber, como externaram Ernane Fidelis dos Santos, José da Silva Pacheco e Celso Neves; ou se significa que, ultrapassado o período de um mês sem serem utilizadas, perdem o caráter alimentar, podendo se submeter à execução, como entendeu Leonardo Greco; ou ainda se protege apenas os valores suficientes ao sustento do devedor e de sua família, durante um prazo razoável, como obtemperou Candido Dinamarco, o fato é que nenhum desses autores atribuiu natureza absoluta ao instituto da impenhorabilidade salarial. Todos eles caminharam no sentido de que ela deveria atender aos fundamentos que levam o legislador a estabelecer situações de proteção patrimonial, atentando para a necessidade de uma conjugação entre a preservação das condições mínimas de sustento do executado e a satisfação do direito de crédito do exeqüente.
Mesmo depois do advento da Lei 11.382, de 6.12.06, que produziu a reforma do processo de execução, inclusive alterando e atualizando o rol de bens impenhoráveis, os doutrinadores continuaram a defender que a impenhorabilidade salarial pretende apenas preservar a subsistência do executado e de sua família, não sujeitando antecipadamente esse tipo de verba à constrição judicial. Veja-se, a respeito, o que diz Carreira Alvim, comentando o inc. IV do art. 649 do CPC na sua nova redação:
«A impenhorabilidade prevista neste preceito não se prende, apenas, ao objetivo de atender às necessidades mínimas de sustento do próprio executado e dos seus dependentes, mesmo porque nem sempre esse pressuposto ocorre, mas no sentido de só serem impenhoráveis as prestações vincendas, de modo a não comprometer a receita mensal do devedor» (14).
Nessa mesma esteira caminham Luiz Rodrigues Wambier, Teresa Arruda Alvim e José Miguel Garcia Medina, com a seguinte lição:
«Pensamos, por outro lado, que, no caso, não deve ser observada uma interpretação literal, que não esteja em consonância com a finalidade do inc. IV do art. 649.
Consoante, em outro estudo, tem sustentado um dos autores do presente trabalho, quando os limites à penhorabilidade são estabelecidos em virtude das necessidades naturais do executado, as restrições às medidas executivas devem amoldar-se adequadamente a tais necessidades, em atenção aos princípios da máxima efetividade e da menor restrição possível. Assim não se deve permitir que a execução reduza o executado a uma situação indigna; no entanto, o mesmo princípio não autoriza que o executado abuse desse direito, manejando-o para indevidamente impedir a atuação executiva.
(…)
Pensamos, assim, que, em atenção às peculiaridades do caso, não tendo sido localizados outros bens penhoráveis, é possível a penhora de parte da remuneração recebida pelo executado, em percentual razoável, que não prejudique seu acesso aos bens necessários à sua subsistência e de sua família» (15).
4. A penhora salarial em face das alterações promovidas pela Lei n. 11.382, de 6.12.06 – o veto ao parágrafo 3o. do art. 649
A reforma promovida no processo de execução pela Lei 11.382/06, teve como objetivo, dentre outros, o de procurar eliminar anacronismos no rol de bens impenhoráveis, inconciliáveis com a necessidade de se emprestar efetividade à tutela executória. A idéia era impor limites à exclusão de certos bens que o Código isentava, de forma absoluta, da execução (16).
Em relação especificamente às verbas de natureza alimentar, estas receberam um detalhamento maior e foram reunidas em um único inciso (inc. IV do art. 649), compreendendo tanto as remunerações do trabalho como as aposentadorias e parcelas de pensionamento (17). Na redação da Lei 11.382/06 aprovada no Congresso Nacional (18), havia, no entanto, uma previsão de que essas verbas de natureza alimentar poderiam ser penhoradas, dentro de certos limites. Tratava-se do parágrafo 3º do art. 649, que estabelecia um teto legal, a partir do qual as verbas remuneratórias deixariam de ser impenhoráveis para satisfação de qualquer dívida. Esse dispositivo foi aprovado pelo Congresso com a seguinte redação:
«§ 3º Na hipótese do inciso IV do caput deste artigo, será considerado penhorável até 40% (quarenta por cento) do total recebido mensalmente acima de 20 (vinte) salários mínimos, calculados após efetuados os descontos de imposto de renda retido na fonte, contribuição previdenciária oficial e outros descontos compulsórios.»
Na sistemática embutida na origem da reforma processual, a penhorabilidade de verbas de natureza remuneratória e proventos de aposentadoria seria legítima até 40% (quarenta por cento) do total recebido mensalmente acima de 20 (vinte) salários mínimos, como se observa. Acontece que esse dispositivo (§ 3º do art. 649) foi vetado pelo Presidente da República, que alegou a conveniência de a matéria ser discutida de forma mais profunda pela comunidade jurídica e pela sociedade em geral (19).
Entretanto, é preciso fazer a advertência de que o veto ao citado dispositivo não impede a penhora de verbas de origem salarial quando perdem a natureza alimentar. O vetado parágrafo 3º do art. 649 teria trazido a salutar novidade de possibilitar a penhora de forma antecipada de verbas de natureza alimentar, limitada a um determinado percentual. Como já tivemos oportunidade de observar, valendo-se dos escólios de renomados doutrinadores, a impenhorabilidade tradicionalmente assegurada no nosso sistema de leis processuais é aquela referente à inviabilidade da subordinação antecipada das verbas remuneratórias e de aposentadoria à execução. Não se pode comprometer, de forma antecipada, valores salariais que o devedor tem a receber, porque isso pode comprometer sua própria subsistência. Esse é o sentido inequívoco da regra da impenhorabilidade salarial e de verbas de pensionamento, que permanece tal como sempre esteve (20).
Portanto, se o parágrafo 3º do art. 649 não tivesse sido vetado, o Juiz passaria a ter a faculdade de subordinar, antecipadamente, à execução verbas salariais. A penhora para satisfação de crédito de qualquer natureza passaria a atingir prestações futuras de vencimentos, soldos, salários e pensões (21), tal como já acontece em se tratando de excussão patrimonial para pagamento de crédito decorrente de pensão alimentícia. Na execução de sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia, o Juiz pode mandar descontar em folha de pagamento a importância correspondente (art. 734 do CPC). A ordem judicial é comunicada ao empregador, sendo o bloqueio feito na origem, ainda na fonte pagadora, impedindo que o devedor receba a parcela salarial necessária à satisfação do crédito, que é transferida ao exeqüente. O mesmo procedimento executório passaria a ser realizado em se tratando de crédito de qualquer natureza, acaso não tivesse ocorrido o veto. Como, no entanto, o dispositivo em questão (§ 3º. do art. 649) não transpôs o crivo presidencial, a situação permanece a mesma, ou seja, para pagamento de outros créditos que não provenham do dever de prestar alimentos, não se pode penhorar rendimentos futuros de vencimentos, salários, proventos e pensões.
5. Necessidade de interpretação compatível com a regra do inc. X do art. 649.
A reforma produzida no processo de execução pela Lei n. 11.382/06 tinha como um dos seus objetivos, «eliminar anacronismos do rol de bens penhoráveis, inconciliáveis com o modo de vida moderno» (22). A Lei, portanto, modificava o processo de execução de forma concatenada, com cada dispositivo novo tendo relação e estando em perfeita sintonia com esse objetivo. Dentre as novidades, além do vetado parágrafo 3º., alterava a redação do inc. X do art. 649, para definir a extensão da penhorabilidade de valores depositados em conta poupança. Como o veto presidencial não alcançou esse último dispositivo, deve essa circunstância ser interpretada como um argumento a mais de que a impenhorabilidade salarial do inc. IV não atinge verbas que perderam o caráter alimentar. Com efeito, o inc. X somente protege da constrição judicial a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos (23). Se a Lei permite a penhora de saldo de poupança acima desse limite, é porque pouco importa a origem ou natureza do restante da verba depositada, que pode ser atingida pela constrição executiva. O legislador não faz ressalva quanto à origem da verba depositada na poupança; só mantém intocável pela execução esse montante.
Ora, interpretar-se a impenhorabilidade salarial prevista no inc. IV do art. 649 de modo ilimitado geraria uma incongruência com o inc. X do mesmo artigo. De fato, seguindo-se essa interpretação, um devedor que deixasse seus rendimentos salariais em conta-corrente ou outra aplicação financeira, os teria protegido da penhora executiva, ao passo que transferindo para poupança os submeteria à constrição judicial (a parte que sobejasse a 40 s.m.). Essa interpretação geraria uma incongruência insuperável, além do que desestimularia os depósitos em poupança, quando foi justamente a esse tipo de aplicação financeira que o legislador pretendeu atribuir «uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar» (24).
O que ocorre é que o selo da impenhorabilidade salarial previsto no inc. IV do art. 649 não se transfere. Assim, se o titular dos rendimentos salariais deixa de utilizá-los por algum tempo, compra algum bem ou lhes dá outra destinação (como o depósito em aplicação financeira), termina por sujeitá-los à execução. A única exceção é se depositá-los em poupança, onde recebem novamente o manto da impenhorabilidade, já agora por força do inc. X, e mesmo assim somente quanto ao limite de 40 salários mínimos.
6- Conclusões:
1- O inc. IV do art. 649 do CPC, que prevê a impenhorabilidade de verbas remuneratórias e de pensionamento, não deve ser interpretado em sentido literal, sob pena de criar um alargamento impróprio da garantia processual e privilegiar de forma injustificada o devedor. Uma interpretação excessivamente abrangente em termos de restrição à penhora de bens do devedor acaba por criar proteções excessivas, diminuindo a responsabilidade pelo pagamento de dívidas e comprometendo a própria tutela jurisdicional executiva.
2- Os valores obtidos a título de salário, vencimentos, proventos e pensões são impenhoráveis somente nos limites do eventual comprometimento da receita mensal necessária à subsistência do devedor e de sua família. Preserva-se, dessa forma, um mínimo para a sua sobrevivência, mas ao mesmo tempo entrega-se a prestação jurisdicional pleiteada pelo exeqüente. Interpretação contrária provocaria evidentes distorções e criaria indevida proteção ao executado.
3- Se os rendimentos salariais deixam de ser utilizados e permanecem por algum tempo em conta-corrente, não sendo consumidos no mês do recebimento, ou são revertidos para aplicação financeira, ou lhes são dada qualquer outra destinação, tal circunstância é indicativa da perda da sua natureza alimentar. Não é o simples fato de o salário se encontrar depositado em conta-bancária (conta-corrente comum) que deixa de ser impenhorável. Um grande número de pessoas (empregados do setor privado e funcionários públicos) recebe salários mediante depósito em conta-corrente comum, daí porque a constrição pode alcançar os valores salariais no momento ou poucos dias após de ser creditado na conta do executado, impedindo o beneficiário de se utilizar dessa verba para o seu próprio sustento e manutenção de suas obrigações básicas. É a mudança de destinação, caracterizada pelo depósito da verba em poupança ou outra aplicação financeira, bem como a permanência do numerário sem utilização por prazo considerável que indica a perda da natureza alimentar dos rendimentos salariais.
4- Com o veto presidencial ao parágrafo 3º do art. 649 o Juiz permanece impossibilitado de realizar penhora de recebimentos futuros de verbas salariais. A única exceção é na execução de sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia, uma vez que já existe no ordenamento jurídico regra (art. 734 do CPC) que o permite mandar descontar em folha de pagamento a importância correspondente ao título exeqüendo.
5- Há uma necessidade de compatibilização da regra do inc. IV do art. 649 com o inc. X desse mesmo artigo, o qual somente protege da constrição judicial a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Acima desse limite, pouco importa a origem ou natureza do restante da verba depositada, que pode ser penhorada.
7- Referências:
ASSUMPÇÃO NEVES, D. A. Impenhorabilidade de bens – Análise com vistas à efetivação da tutela jurisdicional. Disponível em http://www.professoramorim.com.br. Acesso em 21.05.08.
CARREIRA ALVIM, J. Nova Execução de Título Extrajudicial – Comentários à Lei 11.382/06, Juruá Editora, Curitiba, 2007, p. 65.
FIDELIS DOS SANTOS, E. Curso de Processo Civil, vol. 3, São Paulo, Saraiva, 1987,
THEODORO JÚNIOR, H. A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2007,
WAMBIER, L. R. Breves Comentários à Nova Sistemática Processual Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 95/96
(1) Apenas a título de exemplificação, queremos citar acórdão da relatoria da Min. Fátima Nancy Andrighi, onde trecho da ementa explicita que «O art. 620 do CPC há de ser interpretado em consonância com o art. 655 do CPC, e não de forma isolada, levando-se em consideração a harmonia entre o objetivo de satisfação do crédito e a forma menos onerosa para o devedor. A jurisprudência dominante do STJ é no sentido de que, desobedecida pelo devedor a ordem de nomeação de bens à penhora prevista no art. 655 do CPC, pode a constrição recair sobre dinheiro, sem que isso implique em afronta ao princípio da menor onerosidade da execução previsto no art. 620 do Código de Processo Civil» (STJ-3a. Turma, AgRg n. Ag 633357/RS, j. 28.06.05, DJ 01.08.05).
(2) A redação primitiva do inc. I do art. 655 se limitava a mencionar dinheiro na relação de bens penhoráveis, nos seguintes termos:
«Art. 655. Incumbe ao devedor, ao fazer a nomeação de bens, observar a seguinte ordem:
I- dinheiro;»
Com a alteração promovida pela Lei 11.382, o dispositivo passou a ter a seguinte redação:
«Art. 655. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
I – dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;»
(3) O § 3º previa que, «na hipótese do inciso IV do caput deste artigo, será considerado penhorável até 40% (quarenta por cento) do total recebido mensalmente acima de 20 (vinte) salários mínimos, calculados após efetuados os descontos de imposto de renda retido na fonte, contribuição previdenciária oficial e outros descontos compulsórios».
(4) Daniel Amorim Assumpção Neves escreveu excelente trabalho sobre a natureza da impenhorabilidade de bens no processo de execução, intitulado «Impenhorabilidade de bens – Análise com vistas à efetivação da tutela jurisdicional». Explica esse autor que a garantia de que alguns bens jamais sejam objeto de expropriação judicial é a tentativa mais moderna do legislador de preservar a pessoa do devedor.
(5) Daniel Amorim Assumpção Neves, ob. cit.
(6) A impenhorabilidade das verbas de pensionamento vinha prevista logo adiante, em inciso separado:
«VII – as pensões, as tenças ou os montepios, percebidos dos cofres públicos, ou de institutos de previdência, bem como os provenientes de liberalidade de terceiro, quando destinados ao sustento do devedor ou de sua família;».
(7) Curso de Processo Civil, vol. 3, São Paulo, Saraiva, 1987, pp. 143-144.
(8) Tratado das Execuções, p. 464
(9) Inciso II do art. 649, na sua redação original:
«Art. 649. São absolutamente impenhoráveis:
II- as provisões de alimento e de combustível, necessárias à manutenção do devedor e de sua família durante 1 (um) mês);» (grifo nosso).
(10) Processo de execução, p. 21.
(11) ARAKEN DE ASSIS tinha posicionamento semelhante, Processo de Execução, p. 390.
(12) Instituições de direito processual civil, item 1548.
(13) A redação do mencionado inciso era a seguinte:
«Art. 649. São absolutamente impenhoráveis:
VII – as pensões, as tenças ou os montepios, percebidos dos cofres públicos, ou de institutos de previdência, bem como os provenientes de liberalidade de terceiro, quando destinados ao sustento do devedor ou de sua família;»
(14) Nova Execução de Título Extrajudicial – Comentários à Lei 11.382/06, Juruá Editora, Curitiba, 2007, p. 65.
(15) Breves Comentários à Nova Sistemática Processual Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 95/96.
(16) Com esse objetivo, foram eliminadas as seguintes impenhorabilidades antes elencadas no art. 649: a) as provisões de alimento e combustível; b) o anel nupcial e os retratos de família; e c) os equipamentos dos militares.
(17) O inc. IV do art. 649, na redação que lhe foi atribuída pela Lei 11.382/06:
«Art. 649: São absolutamente impenhoráveis:
IV- os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3o. deste artigo».
(18) Teve origem no projeto de lei nº 51, de 2006 (nº 4.497/04 na Câmara dos Deputados).
(19) O veto do Presidente da República está vazado nos seguintes termos: «O Projeto de Lei quebra o dogma da impenhorabilidade absoluta de todas as verbas de natureza alimentar, ao mesmo tempo em que corrige discriminação contra os trabalhadores não empregados ao instituir impenhorabilidade dos ganhos de autônomos e de profissionais liberais. Na sistemática do Projeto de Lei, a impenhorabilidade é absoluta apenas até vinte salários mínimos líquidos. Acima desse valor, quarenta por cento poderá ser penhorado. A proposta parece razoável porque é difícil defender que um rendimento líquido de vinte vezes o salário mínimo vigente no País seja considerado como integralmente de natureza alimentar. Contudo, pode ser contraposto que a tradição jurídica brasileira é no sentido da impenhorabilidade, absoluta e ilimitada, de remuneração. Dentro desse quadro, entendeu-se pela conveniência de opor veto ao dispositivo para que a questão volte a ser debatida pela comunidade jurídica e pela sociedade em geral».
(20) Apenas a descrição das verbas de natureza alimentar foi reunida num só inciso (o inc. IV). Na redação anterior, as remunerações do trabalho eram descritas no inc. IV, enquanto que as verbas de aposentadoria e pensionamento eram predispostas no inc. VI. Com a nova redação conferida pela Lei 11.382/06 ao art. 649 do CPC, todas elas foram ajuntadas e detalhadas no inc. IV.
(21) Observado o limite de até 40% (quarenta por cento) do total recebido mensalmente acima de 20 (vinte) salários mínimos, tal como previsto no vetado parágrafo 3º.
(22) Cf. Humberto Theodoro Júnior, em A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2007, p. 48.
(23) Redação do dispositivo com a Lei 11.382/06:
«Art. 649: São absolutamente impenhoráveis;
X- até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança.»
Comunicação eletrônica de atos processuais na Lei 11.419/06
Comunicação eletrônica de atos processuais na Lei 11.419/06
Sumário: 1. Introdução. 2. Intimações por meios eletrônicos. 2.1. O Diário da Justiça on-line. 2.1.1. Data da publicação. 2.1.2. Certificação do site do Diário on line. 2.2. Intimações eletrônicas de natureza pessoal – o sistema da «auto-intimação». 2.2.1. Momento da intimação. 2.2.2. Indisponibilidade por motivo técnico do sistema informático. 2.2.3 Intimação eletrônica da Fazenda Pública. 2.2.3.1 Veto ao art. 17. 4. Cartas rogatória, de ordem e precatória por via eletrônica. 4.1 Assinatura eletrônica do Juiz requisitante nas cartas judiciais. 5. Comunicações com os órgãos dos demais poderes por via eletrônica.
1. Introdução.
O Presidente Lula sancionou a Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 (1), que disciplina a informatização do processo judicial. A Lei sancionada teve origem no Projeto de Lei 5.828/01 (2), aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados no dia 30 de novembro daquele ano, na forma de substitutivo apresentado no Senado Federal, com subemendas de redação adotadas pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara. A nova Lei 11.419/06 faculta aos órgãos do Poder Judiciário informatizarem integralmente o processo judicial, para torná-lo acessível pela Internet.
O Capítulo II da Lei 11.419/06 trata «Da Comunicação Eletrônica dos Atos Processuais», estendendo-se do seu art. 4o. ao 7o. As normas desse capítulo disciplinam o procedimento para as comunicações dos órgãos judiciais com as partes (arts. 4o. a 6o.) – aí incluídas as intimações (pelo Diário on line ou de forma direta ao interessado) e citações eletrônicas -, as comunicações que transitem entre os órgãos judiciais (cartas de ordem, rogatórias e precatórias na forma eletrônica) e também as comunicações estabelecidas entres os órgãos do Poder Judiciário com os demais poderes (art. 7o.). A Lei autoriza que toda forma de comunicação possa ser feita com a utilização de meios eletrônicos. Abaixo examinaremos cada uma das modalidades legais da comunicação judicial na forma eletrônica.
2. Intimações por meios eletrônicos
Uma das providências do legislador foi produzir uma alteração no Código de Processo Civil, adicionando um parágrafo único ao seu art. 237 e estabelecendo a forma de intimação eletrônica dos atos processuais. Ao lado da intimação feita através de publicação em órgão da imprensa oficial (art. 236) e da realizada pessoalmente ao advogado ou por carta registrada (incisos I e II do art. 237), o Código passa a admitir a possibilidade da utilização dos meios eletrônicos para dar ciência a alguém dos atos e termos do processo, para que faça ou deixe de fazer alguma coisa. Com efeito, o art. 20 da Lei 11.419 (norma do seu Capítulo IV, que trata das disposições gerais e finais), estabelece que:
«A Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, passa a vigorar com as seguintes alterações:
(…)
Art. 237. …………………………………………………………..
Parágrafo único. As intimações podem ser feitas de forma eletrônica, conforme regulado em lei própria.» (NR)
Além desse retoque na lei processual civil, o legislador disciplinou no corpo da própria Lei 11.419 a regulamentação do procedimento das intimações eletrônicas, que podem ser realizadas mediante Diário da Justiça eletrônico ou através do sistema da «auto-intimação». Adiante examinaremos essas duas formas de intimação eletrônica.
2.1. O Diário da Justiça on-line
Durante a tramitação do Projeto de Lei 5828/01, o Senado incluiu na proposta algumas alterações. Entre as contribuições do texto do Senado está a autorização para os tribunais criarem o Diário da Justiça eletrônico, que servirá como meio «para publicação de atos judiciais e administrativos próprios» e das «comunicações em geral», através de site hospedado na Internet (art. 4º da Lei 11.419/06) .
A Senadora Seris Sessarenko, quem primeiro propôs essa inovação em seu Substitutivo apresentado perante o Senado, destacou que: «o diário on-line é de fácil implementação nos dias atuais porquanto a maioria dos tribunais já têm suas informações disponibilizadas em portais, sendo que a internet é hoje o meio mais rápido e ágil para a comunicação e transmissão de informações, que se pode dar em tempo real para qualquer parte do mundo, para exemplificar a superioridade do diário da justiça eletrônico em relação ao tradicional que, em determinadas situações, demora mais de 10 dias para que atinja alguns pontos longínquos do território nacional».
Realmente, mesmo antes do advento da Lei 11.419/06, os tribunais de todo o país já se utilizavam de meios eletrônicos para comunicação de atos processuais, pois a maioria deles possuem sites institucionais hospedados na Internet, onde disponibilizam informações gerais sobre processos. Acontece que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o EREsp nº 503.761/DF (DJ de 14/11/2005, p. 175, rel. Min. Félix Fischer), pacificou entendimento no sentido de que as informações processuais prestadas por meio da Internet possuem natureza meramente informativa, não servindo como meio oficial de intimação nos moldes legais. Era preciso, portanto, que sobreviesse lei para atribuir caráter oficial, de validade, portanto, às comunicações de atos processuais que são feitas por via de sites na Internet.
O Tribunal Regional Federal da 4a. Região enxergou essa oportunidade com a edição da Lei nº 11.280, de 16/02/2006, que modificou a redação do parágrafo único do art. 154 do CPC, ao prever que «os tribunais, no âmbito da respectiva jurisdição, poderão disciplinar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meios eletrônicos, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil». Amparado nessa norma, foi instituído o Diário Eletrônico da Justiça Federal da 4ª Região (3), como meio oficial de publicação dos atos judiciais e administrativos da Justiça Federal de primeira e segunda instâncias. A Resolução que instituiu o Diário Eletrônico da Justiça Federal da 4ª Região (4) estabeleceu que as publicações passariam a ser feitas exclusivamente por meio eletrônico (5), dispensada a forma impressa de publicação (Diário de Justiça da União).
O Diário de Justiça na forma eletrônica tem uma série de vantagens em relação à forma convencional impressa, em razão das funcionalidades permitidas com a utilização das tecnologias da informação. Diversas formas de consultas instantâneas podem ser implementadas em um determinado sistema de intimações eletrônicas.
O sistema pode permitir que o interessado faça uma consulta ao Diário eletrônico utilizando dados como nome das partes, do advogado, do órgão julgador, entre outras possibilidades. O Diário Eletrônico da Justiça Federal da 4ª Região, por exemplo, faculta ao advogado pesquisar e obter, por meio do seu número de inscrição na OAB, todas as publicações cadastradas em seu nome. Também é possível buscar informações por órgão julgador ou visualizar o inteiro teor do documento, disponibilizado em um link específico. Por meio do Diário Oficial na forma impressa, a consulta é bem mais precária e restrita, pois as informações só são obtidas através da leitura do periódico específico, correspondente à data em que foram veiculadas.
O legislador se inspirou nessa experiência originária da Justiça Federal e, ao editar a Lei 11.419/06, fez referência expressa à utilização do «Diário eletrônico» como meio de comunicação dos órgãos do Poder Judiciário. A Lei estabelece que os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico para publicação de atos judiciais e administrativos próprios «e dos órgãos a eles vinculados» (art. 4º)(6) . O Diário eletrônico que vier a ser criado, por exemplo, por um Tribunal de Justiça servirá como meio para comunicação de atos dos órgãos judiciários da primeira e segunda instâncias, o que abrange o próprio tribunal e todas as comarcas e juízos pertencentes ao Estado respectivo. Isso porque, nos termos da Lei, o Diário on line é considerado o órgão oficial de publicação eletrônica dos atos judiciais e administrativos de todos os órgãos vinculados a um determinado tribunal. O Diário eletrônico, uma vez criado por ato normativo de um tribunal estadual e implantado, passa a ser o órgão oficial de publicação de qualquer unidade judiciária ou comarca no território do Estado, dispensando qualquer outro meio de publicação oficial (§ 2º do art. 4º). Pode haver casos de comarcas distantes, ainda não interligadas em rede, que não tenham meios para se integrar de logo ao sistema de publicação eletrônica. Essas situações, no entanto, podem ser objeto de resolução do tribunal, uma vez que os órgãos do Poder Judiciário podem regulamentar a Lei 11.419/06, no que couber, no âmbito de suas respectivas competências (art. 18).
A comunicação realizada por meio do Diário da Justiça eletrônico substitui qualquer outro órgão de publicação ou forma de intimação, para qualquer efeito legal. A exceção é feita apenas para a intimação das pessoas que, por força de lei, tenham que ser intimadas pessoalmente (§ 2o. do art. 4o.). A intimação do Ministério Público (§ 2º do art. 236 do CPC), do defensor público (LAJ, art. 5º., § 5º), dos representantes judiciais da administração para certos atos em certas ações (Lei 4.348/64, art. 3º), dos integrantes da AGU (Lei 9.028/95, art. 6º, § 2º, incluído pela MP 2180/01) e de outras pessoas em relação às quais leis específicas exijam a intimação pessoal, para validade do ato de comunicação processual, continua sendo feita da forma convencional. A não ser nesses casos especiais, a intimação feita por meio eletrônico dispensa qualquer outra forma de comunicação. No entanto, se essas pessoas que têm esse tipo de privilégio processual, aceitarem se cadastrar perante os tribunais para serem intimadas em sistema próprio de comunicação eletrônica (feita em área exclusiva do portal do tribunal), a intimação pessoal na forma convencional é dispensada. É que esse segundo tipo de comunicação eletrônica (a «auto-intimação») é considerada como intimação pessoal para todos efeitos legais, inclusive para a Fazenda Pública (§ 6º do art. 5º).
2.1.1. Data da publicação
As intimações que são feitas através de órgão oficial na versão tradicional (impressa em papel) consideram-se realizadas na data da publicação no Diário Oficial (7), ou seja, na data atestada (no timbre do jornal) em que circula na localidade o periódico. Para todos os efeitos, a data da publicação é a que aparece registrada como de uma edição específica do periódico. Na versão eletrônica do Diário da Justiça, «considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação» no sistema (§ 3º do art. 4º) (8). Os sistemas de publicação eletrônica dos tribunais (Diários de Justiça eletrônicos) deverão, portanto, ter meios para registrar o dia em que a informação sobre o ato ou termo do processo foi disponibilizada, para consulta externa. Para sua completa eficácia, o programa a ser adotado pelos tribunais necessita possuir mecanismo que permita especificar a data em que as informações sobre o ato processual foram colocadas no sistema de comunicação eletrônica.
Entendeu-se de considerar a intimação como realizada apenas no dia seguinte à disponibilização (no sistema de comunicação eletrônica) da informação sobre o ato, porque pode haver casos em que a inserção dos dados ocorra somente no final do expediente, ou mesmo após o horário regular (após as 20 horas do dia), e nesse caso a parte objeto da intimação perderia um dia inteiro do prazo. O melhor, no entanto, teria sido incluir uma regra que previsse que a inclusão de informações, numa determinada edição do Diário eletrônico, fosse realizada até uma determinada hora do dia – 10h da manhã, por exemplo. Com isso, as informações sobre cada edição estariam disponibilizadas no sistema eletrônico de comunicação logo ao início da manhã, sem qualquer prejuízo para os interessados. Como o legislador preferiu solução diversa, na prática vai resultar em um alargamento dos prazos para a realização do ato, em relação às intimações efetuadas na forma tradicional (através de Diário Oficial impresso). Quando ocorrer de a informação ser inserida no sistema logo no início do dia, mesmo assim a intimação somente considerar-se-á realizada no dia seguinte, por força do § 3o. do art. 4o. A parte tem efetiva ciência no dia da colocação da informação no sistema (Diário eletrônico), com a vantagem de um dia a mais para realização do ato. Tomemos uma hipótese definida: uma comunicação que é realizada concomitantemente, através da inserção em sistema eletrônico (Diário da Justiça on line) e publicação no Diário Oficial impresso. Em face da comunicação processual convencional, o prazo começa a correr do primeiro dia útil seguinte (art. 184, § 2º c/c art. 240 e parágrafo único do CPC), já que a intimação considera-se feita pela só publicação do ato no órgão oficial (art. 236 do CPC). Já com a disponibilização da informação sobre o ato processual no Diário de Justiça eletrônico, o prazo não começa a correr do primeiro dia útil seguinte, mas do segundo dia útil, por força da regra do § 3º do art. 4º da Lei 11.419/06. O prazo começaria a correr a data da publicação se esta equivalesse à disponibilização do conteúdo do ato ou comunicação no sistema eletrônico, mas como tal equivalência não está prevista na Lei específica, o prazo só tem início no segundo dia útil. A regra geral para as intimações feitas pela forma convencional é de que o prazo começa a fluir a partir do primeiro dia útil após a publicação (no Diário Oficial). Daqui por diante, a regra geral para as intimações feitas através de Diário de Justiça on line é a de que o prazo começa a correr do segundo dia útil após a inserção da informação sobre o ato, no sistema eletrônico (Diário on line), uma que «os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que se seguir ao considerado como data da publicação» (§ par. 4º do art. 4º). Como a data da publicação eletrônica, para efeitos legais, é a do «primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico» (§ 3º), a contagem dos prazos processuais só tem início no segundo dia útil seguinte.
2.1.2. Certificação do site do Diário on line
O site do Diário da Justiça eletrônico e o seu conteúdo «deverão ser assinados digitalmente, com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma de lei específica». A legislação que trata especificamente da utilização de certificados digitais para garantir a autenticidade e validade jurídica de documentos e transações em forma eletrônica é a Medida Provisória n. 2.200, que instituiu a ICP-Brasil.
Os tribunais devem contratar os serviços de empresa certificadora (AC) vinculada à ICP-Brasil, para certificação digital do Diário da Justiça on line. A autoridade certificadora emite o certificado e garante a autenticidade dos documentos digitais.
Na prática, a verificação da autenticidade funciona através de aplicativo de software incorporado ao computador do usuário. Normalmente, o software que faz a verificação de um certificado digital tem algum mecanismo ou função para confiar em AC´s. Por exemplo, o programa utilizado para navegar na Internet (conhecido como browser) contém uma lista das AC’s em que confia. Quando o usuário visita um determinado site (por exemplo, de um tribunal) e é apresentado ao navegador um Certificado Digital, ele verifica a AC que emitiu o certificado. Se a AC estiver na lista de autoridades confiáveis, o navegador aceita a identidade do site e exibe a página da Web. Em não sendo o caso, o navegador exibe uma mensagem de aviso, perguntando ao usuário se deseja confiar na nova AC. Geralmente o programa navegador dá opções para confiar permanente ou temporariamente na AC ou não confiar em absoluto. O usuário, portanto, tem controle sobre quais AC(s) deseja confiar, porém o gerenciamento da confiança é feito pelo aplicativo de software (neste exemplo, pelo navegador).
2.2. Intimações eletrônicas de natureza pessoal – o sistema da «auto-intimação»
Além do Diário da Justiça on line, a Lei 11.419 prevê outra modalidade de realização de comunicações eletrônicas às partes, advogados e outras pessoas que atuam no processo. A previsão está no seu artigo 5º, segundo o qual «as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico». Trata-se de um segundo método empregado para a realização de comunicação eletrônica de atos processuais, que pressupõe adesão das partes e seus advogados, mediante realização de cadastro em área específica do portal do tribunal. As intimações realizadas por essa fórmula dispensam qualquer outra forma de comunicação, seja a realizada por publicação em órgão oficial impresso ou em Diário da Justiça eletrônico, ou mesmo qualquer forma de intimação pessoal convencional (como as realizadas por carta postal, na presença do intimando em cartório ou por meio oficial de justiça), já que têm a mesma força e valor de uma intimação pessoal (§ 6º do art. 5º).
O cadastro, para fins de intimações, deve obedecer aos mesmos requisitos de eficiência e segurança adotados para os sistemas de transmissão de petições e recursos (art. 2º), pois pressupõe que seja realizado mediante o uso de assinatura eletrônica (em qualquer das duas modalidades consagradas no inc. III do § 2º do art. 3º, alíneas a e b). Ao usuário cadastrado é atribuído meio que possibilite a identificação e autenticação do acesso ao sistema.
Essa modalidade de comunicação eletrônica de natureza pessoal, prevista no art. 5º da Lei 11.419, configura uma inovação inspirada na bem sucedida experiência do processo eletrônico (sistema «e-Proc») dos Juizados Especiais Federais. Desde a Lei 10.259, de 12 de julho de 2001, que disciplinou a instituição dos Juizados Federais – e permitiu para esses órgãos especiais a implantação de sistemas eletrônicos de transmissão de peças e comunicação de atos processuais (art. 8º § 2º), bem como o desenvolvimento de programas de informática necessários para subsidiar a instrução das causas (art. 24) -, os departamentos de informática dos TRF´s, sob a coordenação de comissão instituída pelo CJF (Conselho da Justiça Federal), passaram a desenvolver experiências próprias de processo totalmente informatizado. Embora não tendo a Lei 10.259/01 esmiuçado o procedimento das intimações em meio eletrônico, o «e-Proc» incorporou modelos e fórmulas procedimentais próprias e originais, que foram aplicadas (e com sucesso) primitivamente nos Juizados Especiais Federais vinculados ao Tribunal Regional Federal da 4a. Região (9).
O modelo de intimação eletrônica pessoal desenhado para os Juizados Federais não seguiu o padrão que já vinha antes sendo utilizado (embora sem força vinculativa) pelos tribunais superiores, conhecido por sistema «push» de comunicação eletrônica. Como se sabe, os tribunais superiores (STJ e STF) foram precursores na implantação de sistemas de intimação eletrônica, que funcionam através do envio de mensagens eletrônicas (e-mails) aos endereços eletrônicos de partes e advogados previamente cadastrados no site oficial, sempre que ocorra uma movimentação no processo indicado pelo interessado. A intimação eletrônica dos atos processuais, nos Juizados Especiais Federais e em suas Turmas Recursais, utiliza um procedimento diferente. A intimação ocorre com o acesso do usuário ao site próprio da Seção Judiciária, em local protegido por senha, onde esteja disponível o inteiro teor da decisão judicial. Por ser o próprio intimando quem toma a iniciativa desse acesso para ciência dos atos e termos do processo, essa modalidade é chamada de «auto-intimação eletrônica». Esse sistema de intimação eletrônica pressupõe um prévio compromisso do usuário de acessar o site regularmente, para ciência das decisões e atos processuais (10).
O legislador da Lei 11.419/06 optou por seguir esse modelo (11), em que os atos processuais são comunicados diretamente aos interessados não por meio de e-mail ou envio de outro tipo de mensagem eletrônica, mas através do acesso em área restrita de site na Internet, onde são disponibilizadas as informações relativas ao ato processual. Trata-se de procedimento mais seguro do que os sistemas «push» ou qualquer outro programa que utilize o envio de uma mensagem eletrônica (e-mail) ao intimando (ou citando), em termos de garantia da eficácia da intimação/citação. Realmente, além da segurança que a comunicação de atos processuais em um sistema fechado (com acesso restrito ao detentor da assinatura eletrônica) oferece, em comparação com os e-mails, que são facilmente devassáveis, a «auto-intimação eletrônica» (também chamada de «auto-comunicação») assegura mais completa eficácia no que diz respeito à ciência do destinatário. O envio de e-mail deixa dúvidas quanto ao efetivo recebimento da mensagem pelo destinatário. Não há como ter certeza de que uma mensagem de e-mail não foi interceptada ou perdida por falha do servidor ou mesmo indevidamente bloqueada por algum sistema de filtro de spam. Mesmo que se empreguem mecanismos que permitam o aviso automático de recebimento de mensagens, estes recursos não são completamente seguros e em regra dependem do destinatário (12). Daí a opção do legislador pelo sistema de comunicação direta ao interessado por meio da franquia de acesso à área reservada de portal. O sistema registra o acesso do usuário, na data e hora exata da realização do acesso, assegurando a certeza de que o destinatário teve efetiva ciência da comunicação.
Na versão original do projeto que deu origem à Lei 11.419/06, iniciado na Câmara dos Deputados, a previsão era de que as comunicações dos atos processuais fossem feitas por meio do envio de mensagens eletrônicas ao interessado e que os tribunais se valeriam de mecanismos que permitissem o aviso automático de recebimento de mensagens (13). Durante a tramitação do projeto, no entanto, essa idéia foi abandonada, diante da pouca confiabilidade desse sistema, e ainda porque o «e-Proc» dos Juizados Federais já era uma realidade, com a comprovação prática da funcionalidade e segurança do procedimento da «auto-intimação eletrônica» em portal to tribunal. O legislador deixou permanecer a remessa de mensagem eletrônica ao intimando/citando apenas como um serviço complementar à intimação feita no portal e sem qualquer força obrigatória. No § 4º do art. 5º da Lei 11.419/06, realmente está previsto que «em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual ….aos que manifestarem interesse por esse serviço».
2.2.1. Momento da intimação
Pelo sistema de comunicação eletrônica diretamente ao interessado (intimando), «considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização» (§ 1º do art. 5º da Lei 11.419/06). Logo, o prazo (se houver) começa a correr do primeiro dia útil após a consulta que corresponde à intimação (art. 184 do CPC, § 2º do CPC). Se a consulta (acesso ao sistema de comunicação eletrônica) for realizada em dia não útil, «a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte» (§ 2º do art. 5º da Lei 11.419/06). Assim, por exemplo, se a consulta for realizada em um sábado, a intimação somente considerar-se-á realizada na segunda-feira (dia útil seguinte), e o início do prazo na terça-feira (sabendo-se que o dies a quo do prazo é sempre o dia seguinte ao da intimação).
O cadastramento do usuário implica em expresso compromisso de acessar periodicamente o site próprio do tribunal, para ciência dos atos e termos processuais inseridos em local próprio protegido por senha. Ainda que o usuário não realize o acesso, a intimação considera-se sempre realizada dez dias após incluída no site. É o que estabelece o § 3º do art. 5º Lei 11.419/06, ao mencionar que a consulta ao sistema «deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo» (14). Trata-se de uma hipótese legal de «ciência presumida ou ficta», indispensável para a funcionalidade do sistema de comunicação eletrônica de atos processuais. Não fosse dessa maneira, a conclusão do ato de intimação ficaria ao bel prazer do intimando. A razão lógica dessa ciência presumida decorre da circunstância de que, no ato de cadastramento, as partes se comprometem, mediante adesão, a cumprir as normas referentes ao acesso (15). Por isso, considera-se efetivada a comunicação eletrônica do ato processual (inclusive citação, art. 6º) pelo simples decurso do prazo de 10 dias da inserção da informação no sistema informático do tribunal, ainda que o acesso não seja realizado pela parte interessada.
Nessa hipótese, de intimação/citação presumida, os prazos processuais começam a correr do 11º dia após a inserção da informação no portal do tribunal, sabendo-se que a intimação eletrônica considera-se realizada «na data do término do prazo» de 10 dias previsto no § 3º do art. 5º (16). Se o 11º dia recair em dia não útil, o começo da contagem do prazo fica prorrogado para o dia útil seguinte (art. 240, § únic., do CPC).
2.2.2. Indisponibilidade por motivo técnico do sistema informático
Para evitar prejuízo a qualquer das partes do processo, na utilização do sistema eletrônico de intimação pessoal, a nova Lei prevê a possibilidade de o Juiz optar por realizar a intimação ou mandar refazê-la por qualquer outro meio eletrônico ou convencional. É o que está expresso no § 5º do art. 5º Lei 11.419/06, verbis: «Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz». Esse dispositivo abarca todas as situações em que o sistema informático de comunicação eletrônica direta ao interessado se tornar indisponível, seja por motivo técnico ou por qualquer forma de acesso não autorizado (invasão hacker). A impossibilidade de prestação eficiente e segura do serviço é suficiente para autorizar o Juiz a realizar a intimação por outro modo, evitando qualquer forma de prejuízo às partes. A norma atribui ao Juiz analisar a existência de urgência, em cada situação concreta, que justifique seja a intimação feita por outro modo.
2.2.3 Intimação eletrônica da Fazenda Pública
A comunicação eletrônica que é feita diretamente ao interessado, mediante acesso exclusivo em área específica do site (portal do tribunal), é considerada como intimação pessoal para todos efeitos legais, inclusive para a Fazenda Pública (§ 6º do art. 5º). A validade da intimação fica condicionada ao prévio cadastramento dos procuradores no serviço específico do portal do tribunal, na forma do caput do art. 5º da Lei 11.419. É que esse tipo de intimação, como já mencionado, pressupõe a adesão voluntária das partes (usuários do sistema), regra que não é excepcionada para os procuradores da Fazenda Pública (da União, dos Estados e Municípios) ou qualquer outro representante judicial de órgão da administração direta ou indireta (autarquias, sociedades de economia mista e fundações). A intimação feita através de cadastro e acesso em área específica de site (apropriada para serviço de comunicação eletrônica) adquire, por força de lei, atributo de intimação pessoal, mas para que o comando normativo do § 6º do art. 5º possa ter aplicação, é imprescindível o cadastro do procurador do órgão da Administração Pública no sistema informático do tribunal.
O acesso do Procurador em área exclusiva do site pode proporcionar o efeito da intimação pessoal bem como da vista pessoal dos autos, dependendo do sistema eletrônico ser desenhado para permitir ou não pelo usuário cadastrado o conhecimento das demais peças do processo. Se o acesso ao sistema de «auto-intimação» abranger a disponibilização somente do próprio ato de intimação (cópia do ato decisório do magistrado, do mandado ou edital), o efeito será o da intimação pessoal. Mas se o acesso proporciona também a observação de todos os demais atos e termos do processo (petições, contestação e réplica, acompanhados da documentação pertinente), aí se considera também que o Procurador teve vista pessoal dos autos (art. 9º, par. 1º).
2.2.3.1 Veto ao art. 17
O legislador tentou incluir no art. 17, constante das disposições gerais da Lei 11.419/06, norma para compelir os órgãos da administração pública direta e indireta das três esferas da Federação a se cadastrar nos sistemas informáticos dos tribunais, para recebimento de comunicação de atos processuais por meio eletrônico. O dispositivo previa um prazo de 180 dias a contar da publicação da Lei 11.419, para que os órgãos públicos e suas representações judiciais se cadastrassem (17). Mas o artigo terminou sendo vetado pelo Presidente da República, ao argumento de que a obrigação nele contida contrariava o princípio da independência dos Poderes e invadia sua competência privativa de exercer a direção superior da administração e dispor sobre sua organização (18).
O dispositivo vetado realmente carecia de sentido lógico, ao estabelecer obrigação de cadastro para os órgãos da Administração Pública dentro de prazo determinado (de cento e oitenta dias) a partir da publicação da lei. Nem todos os tribunais teriam condições de implantar sistemas eletrônicos para comunicação de atos processuais dentro desse prazo, por diversas razões (restrições orçamentárias, falta de estrutura necessária ou condições técnicas, só para citar algumas), daí porque a obrigação legal se tornaria inócua. O razoável seria o estabelecimento de prazo para credenciamento com início a partir do momento da implantação efetiva do serviço e sua disponibilização ao público. De qualquer maneira, o veto presidencial não vai trazer qualquer empecilho à expansão e eficiência dos serviços de comunicação eletrônica de atos processuais, pois é óbvio que os representantes judiciais dos órgãos da Administração Pública não vão oferecer resistência ao cadastro, para fins de intimação eletrônica. Seria impensável não contribuir com a administração da Justiça.
3. Citação por via eletrônica
Em outra alteração que levou a efeito no corpo do Código de Processo Civil, o legislador acrescentou o inciso IV ao seu art. 221, que passa a prever, dentre as modalidades de citação, a que é feita por meio eletrônico. De fato, o art. 20 da Lei 11.419 (norma do seu Capítulo IV, que trata das disposições gerais e finais), estabelece que:
«A Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, passa a vigorar com as seguintes alterações:
(…)
Art. 221. …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
IV – por meio eletrônico, conforme regulado em lei própria.» (NR)
Ao lado da citação que é feita pelo correio (inc. I do art. 221 do CPC), por oficial de justiça (inc. II) e por edital (inc. III), o nosso sistema de leis processuais civis incorpora a citação que é feita por meio eletrônico (inc. IV incluído pela Lei n. 11.419/2006).
A regulamentação do procedimento da citação realizada por meio eletrônico foi disciplinada no corpo da própria Lei 11.419/06, porquanto dispõe o seu art. 6º que:
«Observadas as formas e as cautelas do art. 5o desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando».
Ao mandar observar as formas e as cautelas previstas no art. 5º, o legislador adotou o sistema da «auto-comunicação» como padrão único do procedimento da citação eletrônica. O art. 5º da Lei 11.419/06, como se sabe, instituiu um método de comunicação eletrônica que permite que as partes tomem ciência dos atos e termos processuais em «portal próprio» dos tribunais que adotarem o processo eletrônico (total ou parcial). A citação eletrônica, portanto, diferentemente da simples intimação (eletrônica), só pode ser realizada observando-se esse modelo da «auto-comunicação», em que as partes (e seus advogados) tomam a iniciativa de consultar periodicamente os comunicados judiciais em área própria do site do tribunal. Não há previsão de que a citação eletrônica possa ser realizada mediante utilização do Diário da Justiça eletrônico (previsto e disciplinado no art. 4º). Ao fazer remissão unicamente ao art. 5º, o legislador elegeu, com exclusividade, a fórmula da «auto-comunicação» para o procedimento da citação eletrônica.
No entanto, podemos enxergar pelo menos uma hipótese de utilização do Diário da Justiça eletrônico para instrumentalização da citação eletrônica, ainda que em parte. É quando a citação tiver de ser feita na forma de edital, em casos em que o réu estiver em lugar desconhecido ou seja ignorado o seu paradeiro (art. 231 do CPC). Pelo menos em relação ao edital que houver de ser publicado «uma vez no órgão oficial» (art. 232, III), a publicação poderá ser feita pela via do Diário da Justiça eletrônico, já que a publicação eletrônica na forma do art. 4o. da Lei 11.419/06 «substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal» (§ 2º).
A tendência é que, implantado o Diário da Justiça eletrônico, os tribunais extingam outras formas de publicação de atos processuais em forma impressa. Os diários oficiais em forma impressa tendem a desaparecer, sendo substituídos pelo Diário da Justiça na versão eletrônica. Abolida a forma tradicional de publicação de editais, só restará a publicação por via do Diário da Justiça eletrônico. Teremos, então, um caso de citação editalícia parcialmente realizada por meio eletrônico, através do Diário da Justiça eletrônico.
3.1 Citação por via eletrônica pressupõe cadastro dos usuários
A citação realizada por via eletrônica proporcionará resultados muito promissores, em termos de agilização processual. Evitará a emissão de cartas e mandados (em forma física) para entrega ao citando, pelo sistema dos correios ou através de oficial de justiça, o que certamente reduzirá o trabalho das escrivanias e secretarias judiciais, além do tempo gasto para efetivação das comunicações, que também será sensivelmente reduzido. Imagine-se, por exemplo, o caso de um réu que costuma ser objeto de ações de massa em um determinado Juizado (um banco, uma operadora de serviços de telefonia, uma empresa fornecedora de energia elétrica etc.). Todas as citações dos processos ajuizados contra ele poderão ser efetivadas mediante a simples disponibilização do conteúdo do ato citatório no sistema de «auto-comunicação».
Mas uma advertência deve ser feita: a citação eletrônica somente pode ser feita em relação às partes (usuários) previamente cadastradas no sistema de informático de «auto-comunicação» do órgão judicial respectivo. Isso porque o método da «auto-comunicação» pressupõe adesão das partes e seus advogados, mediante realização de cadastro em área específica do portal do tribunal. Para aquele usuário (réu) não cadastrado, a citação é feita da forma tradicional – pelo correio ou por oficial de justiça (art. 221, incs. I e II, do CPC), conforme o caso.
Antevendo justamente situações como essa, que impedem a realização da citação na forma eletrônica, o legislador admitiu a possibilidade de o ato ser realizado por outros meios convencionais. Quer seja porque o citando não é usuário cadastrado do sistema de «auto-comunicação» ou por qualquer outro motivo de ordem técnica que impeça a realização do ato na forma eletrônica, a citação então deve ser feita pelas modalidades convencionais. A intenção do legislador é que, no processo eletrônico, todos os atos de comunicação sejam realizados por meio eletrônico (art. 9º), mas em não sendo possível a realização da citação na forma eletrônica, a Lei faculta que seja concretizada segundo as modalidades convencionais previstas no CPC (arts. I e II do art. 221). O sistema deve ter meios para emitir carta ou mandado em forma física e, depois de devidamente cumprida a citação, deve ser digitalizado o documento (carta ou mandado, contendo a certidão respectiva ou a assinatura com registro de recebimento) e incorporado aos autos do processo eletrônico. É o que está previsto no § 2º do art. 9º da Lei 11.419, nos seguintes termos: «Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, digitalizando-se o documento físico, que deverá ser posteriormente destruído».
3.2 Citação na forma eletrônica pressupõe acesso à íntegra dos autos
A citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender (art. 213 do CPC). A finalidade da citação, portanto, é dar conhecimento ao demandado da ação que lhe foi proposta e proporcionar que se defenda. No processo tradicional, o citado tem vista dos autos (por meio de seu advogado) mediante retirada na secretaria da vara, durante o prazo da contestação, para que possa assim exercer sua defesa, com conhecimento completo dos fatos e documentos que instruem a causa. O citado não poderia exercer sua defesa sem que lhe fosse proporcionado essa vista dos autos. Na forma eletrônica, a vista dos autos se dá através de acesso ao sistema informático, na área própria do portal onde estão disponibilizadas as peças integrantes do processo. Essa a razão de o art. 6º da Lei 11.419 estabelecer (em sua parte final) que, para a validade da citação eletrônica, é indispensável que «a íntegra dos autos seja acessível ao citando». Além de cópia do ato citatório, é necessário que o citando tenha acesso, ao ingressar no sistema de «auto-comunicação», das demais peças que compõe o processo eletrônico (petição inicial e todos os documentos que a acompanham). Somente assim, observando-se essas cautelas, a citação na via eletrônica será considerada válida.
Nos termos do § 1º do art. 9º da Lei 11.419, «as citações que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais».
4. Cartas rogatória, de ordem e precatória por via eletrônica
Os atos processuais são cumpridos por ordem judicial ou requisitados por carta, conforme hajam de realizar-se dentro ou fora dos limites territoriais da comarca (art. 200 do CPC). Existem três tipos de carta para requisição de cumprimento de ordem judicial: a carta de ordem, quando é dirigida a um juiz subordinado ao tribunal remetente; a carta rogatória, quando dirigida a uma autoridade estrangeira; e a carta precatória, para todos os demais casos, ou seja, quando enviada por um juiz para outro com o qual não tenha subordinação na hierarquia judiciária, desde que dentro do território nacional (art. 201 do CPC).
A Lei 11.419/06, em seu artigo 7o., determina que «as cartas precatórias, rogatórias, de ordem e, de um modo geral, todas as comunicações oficiais que transitem entre órgãos do Poder Judiciário, bem como entre os deste e os dos demais Poderes, serão feitas preferentemente por meio eletrônico». Além disso, o legislador acrescentou o parágrafo 3o. ao art. 202 do CPC, que passa a prever a possibilidade de as cartas judiciais serem instrumentalizadas por meio eletrônico. De fato, o art. 20 da Lei 11.419 (norma do seu Capítulo IV, que trata das disposições gerais e finais), estabelece que:
«A Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, passa a vigorar com as seguintes alterações:
(…)
«Art. 202. ……………………………………………………………
§ 3º A carta de ordem, carta precatória ou carta rogatória pode ser expedida por meio eletrônico, situação em que a assinatura do juiz deverá ser eletrônica, na forma da lei.» (NR)
A implantação de sistemas para envio e recebimento de cartas judiciais pelo meio eletrônico vai pressupor o estabelecimento de acordos entre os diversos órgãos do Poder Judiciário Nacional, para adoção de procedimentos uniformizados e plataformas que possibilitem a interoperabilidade entre os diversos sistemas e, especificamente no que se refere à carta rogatória, o Brasil terá que assinar acordos e tratados internacionais com outros países, em que fiquem estabelecidos os procedimentos para o cumprimento dessas cartas eletrônicas.
Dentro de um determinado ramo do Poder Judiciário nacional a implantação dos sistemas eletrônicos para envio e recebimento de cartas judiciais (carta de ordem e precatória) será tecnicamente mais fácil, tendo em vista a uniformização tecnológica para os diversos órgãos judiciários que o integram. Por exemplo, o TRT do Maranhão já implantou o seu sistema para processamento eletrônico de cartas precatórias (19), que funcionou inicialmente como projeto piloto na 6ª Vara do Trabalho, mas com previsão para expansão em curto prazo para todas as varas do Estado.
O processamento eletrônico das cartas judiciais representará uma enorme economia de tempo e redução de custos, já que dispensa a duplicação de peças processuais e pagamento de tarifas postais. As cartas judiciais, em qualquer de suas modalidades, são consideradas fator de grande emperramento da máquina judiciária, pois o seu cumprimento pelo sistema tradicional geralmente consome exagerado tempo. Na modalidade eletrônica, a previsão é que o tempo de tramitação das cartas seja reduzido drasticamente, com benefícios enormes em termos de agilização do processo judicial.
Os sistemas eletrônicos para comunicação entre juízes garantirão não somente o envio e recebimento de cartas judiciais para cumprimento de atos processuais, mas também (como previu o legislador) «todas as comunicações que transitem entre órgãos do Poder Judiciário». Assim, um simples ofício e, de maneira geral, qualquer comunicação oficial, para qualquer finalidade, poderão ser realizadas por meio de sistemas eletrônicos.
4.1 Assinatura eletrônica do Juiz requisitante nas cartas judiciais
A parte final do parágrafo 3º do art. 202 do CPC, acrescentado pela Lei 11.419/06, exige que, em sendo expedida a carta judicial (de ordem, precatória ou rogatória) por meio eletrônico, deverá conter a assinatura eletrônica do juiz requisitante. Por sua vez, o art. 2o. da Lei 11.419/06 estabelece que «…. a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante o uso de assinatura eletrônica«. Também no § único do art. 8º da mesma Lei, foi inserida a regra de que obrigatoriamente «todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente«.
A assinatura eletrônica, portanto, foi o método de autenticação escolhido pelo legislador pátrio para a transmissão eletrônica de documentos e arquivos digitais integrantes de um processo judicial eletrônico. No caso das cartas judiciais, a assinatura eletrônica a ser utilizada é a da espécie assinatura digital, prevista na alínea a do inc. III do § 2º do art. 1º da Lei 11.419/06, como sendo aquela «baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica». A legislação que trata especificamente da utilização de certificados digitais para garantir a autenticidade e validade jurídica de documentos e transações em forma eletrônica é a Medida Provisória n. 2.200, que instituiu a ICP-Brasil (Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira).
Assim, os tribunais têm que contratar os serviços ou celebrar convênio com empresa credenciada à ICP-Brasil (20), que fornecerá a tecnologia de assinaturas e certificados digitais, para que o Juiz possa «assinar» uma carta judicial (de ordem, precatória ou rogatória), toda vez que requisitar a realização de um ato de forma eletrônica.
5. Comunicações com os órgãos dos demais poderes por via eletrônica
Ressalte-se que não somente as comunicações que se estabelecem entre juízes, mas também aquelas que são feitas com quaisquer outras autoridades e repartições públicas poderão ser realizadas por meio eletrônico. O art. 7º da Lei 11.419/06 determina que não somente as comunicações que transitem entre órgãos do Poder Judiciário, mas também aquelas que se estabeleçam «entre os deste e os dos demais Poderes, serão feitas preferencialmente por meio eletrônico».
A previsão legal possibilita o envio de ordens judiciais e requisições de informações a diversas repartições e órgãos públicos, como, por exemplo, os departamentos estaduais de trânsito, a Receita Federal, o Banco Central, as juntas comerciais, só para citar alguns. Anote-se que, em relação especificamente à requisição de informações bancárias, o CPC já indicava que deve ser feita preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A, incluído pela Lei 11.382), se durante o processo de execução (21).
Mediante convênio, os tribunais podem aproveitar a utilização dos sistemas de comunicação eletrônica já desenvolvidos por órgãos integrantes de outros poderes.
(1) O texto pode ser lido em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11419.htm
(2) http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=41619
(3) O Diário Eletrônico da Justiça Federal da 4ª Região é veiculado no Portal da Justiça Federal da 4ª Região na Internet, com edições de segunda a sexta-feira (com exceção de feriados nacionais e regimentais), disponibilizadas a partir das 9 (nove) horas de cada dia. O endereço na Internet é: http://www.trf4.gov.br/trf4/diario/
(4) O Diário Eletrônico da Justiça Federal da 4a. Região foi instituído pela Resolução n. 70, de 25 de outubro de 2006.
(5) Após um mês de testes, as publicações no site passaram a ter validade jurídica em 1º de dezembro de 2006.
(6) Foi publicado no D.J.U, seção 1, de 26-03-2007.pág.01, um comunicado do Diretor-Geral do STF, informando que, conforme decidido em sessão administrativa, ficou instituído, a partir do dia 23 de abril de 2007, o Diário da Justiça Eletrônico como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos do Supremo Tribunal Federal.
(7) Ou no dia em que circula na comarca, quando se prova que isso ocorreu em data diversa da constante do periódico (RJTJSP 131/350, RT 677/117).
(8) Na versão original do Projeto de Lei 5828/01, a data da publicação coincidia com a da disponibilização do conteúdo do ato ou comunicação no sistema eletrônico.
(9) Sugerimos uma visita ao Portal da Justiça Federal da 4a. Região, na área destinada ao processo eletrônico dos Juizados Especiais – http://www.trf4.gov.br/trf4/institucional/institucional.php?no=101
(10) A Resolução 522, de setembro de 2006, do Presidente do Conselho da Justiça Federal, dispõe sobre a intimação eletrônica das partes, Ministério Público, Procuradores, Advogados e Defensores Públicos no âmbito dos Juizados Especiais Federais.
(11) O procedimento da «auto-intimação» eletrônica incluída no texto da Lei durante a tramitação do projeto, através do Substitutivo apresentado no Senado.
(12) O programa gerenciador de e-mails Outlook Express (da Microsoft) possui essa ferramenta, de confirmação de recebimento da mensagem eletrônica, mas seu funcionamento depende da vontade do destinatário.
(13) Inc. I do art. 8o. do projeto na versão que foi enviada ao Senado.
(14) Como o legislador da Lei 11.419/06 se inspirou no modelo do processo eletrônico («E-proc») dos Juizados Federais, a regra do § 3o. do art. 5o. é praticamente uma reprodução do art. 4o. da Res. 522/06 do Presidente do CJF, que disciplina a intimação eletrônica no âmbito desses órgãos especiais da Justiça Federal. O art. 4o. da Resolução tem a seguinte redação: «Independentemente do acesso, a intimação considera-se sempre realizada dez dias após incluída no site próprio da Seção Judiciária, para ciência do usuário».
(15) É assim que funciona nos Juizados Federais, já tendo a matéria sido objeto do Enunciado FONAJEF 25.
(16) No «e-Proc», sistema de processo eletrônico dos Juizados Federais, os prazos são abertos automaticamente poucos minutos antes da meia-noite do décimo dia contado da data da intimação/citação.
(17) O art. 17 tinha a seguinte redação:
«Art. 17. Os órgãos e entes da administração pública direta e indireta, bem como suas respectivas representações judiciais, deverão cadastrar-se, na forma prevista no art. 2o desta Lei, em até 180 (cento e oitenta) dias após sua publicação, para acesso ao serviço de recebimento e envio de comunicações de atos judiciais e administrativos por meio eletrônico.
Parágrafo único. As regras desta Lei não se aplicam aos Municípios e seus respectivos entes, bem como aos órgãos e entidades federais e estaduais situados no interior dos Estados, enquanto não possuírem condições técnicas e estrutura necessária para o acesso ao serviço de recebimento e envio de comunicações de atos judiciais e administrativos por meio eletrônico, situação em que deverão promover gestões para adequação da estrutura no menor prazo possível.».
(18) As razões do veto do Presidente da República ao art. 17 do Projeto de Lei no 5.828, de 2001 (no 71/02 no Senado Federal):
«O dispositivo ao estipular o prazo de cento e oitenta dias para o cadastro dos órgãos e entes da administração pública direta e indireta invade a competência do Poder Executivo, o que contraria o princípio da independência e harmonia dos Poderes, nos termos do art. 2o da Carta Maior, assim como a competência privativa do Presidente da República para exercer a direção superior da administração e para dispor sobre a sua organização (art. 84, incisos II e VI, alínea ‘a’).
Da mesma forma, ao criar obrigação para os órgãos e entes da administração pública direta e indireta das três esferas da Federação fere o pacto federativo, previsto no art. 18 da Constituição, que assegura a autonomia dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Ademais, pode ocorrer que órgãos e entidades de porte muito reduzido, ainda que situados em capitais, não consigam reunir as condições necessárias ‘para acesso ao serviço de recebimento e envio de comunicações de atos judiciais e administrativos por meio eletrônico’.»
(19)Segundo notícia publicada no site Consultor Jurídico, em 14.12.06.
(20) A melhor opção certamente será aderir à AC-JUS, autoridade certificadora instituída pelo STJ. Como se sabe, o STJ criou e credenciou uma autoridade certificadora própria – a AC-JUS, junto à ICP Brasil, a qual já aderiram o STF e outros tribunais superiores. A AC-JUS já começou a distribuir certificados e chaves a juízes federais e servidores, para garantir a autenticidade de documentos digitais. Os tribunais estaduais e do trabalho podem, mediante convênio, se filiar também à AC-JUS, para que o seu corpo de juízes também usufrua da tecnologia de certificados e assinaturas digitais (em forma de tokens ou smart cards), para que possam utilizá-la no momento de enviar uma carta judicial.
(21) Essas requisições de informações bancárias são feitas pelo sistema Bacen-Jud, do Banco Central, que permite também o bloqueio de contas e aplicações financeiras. Para quem se interessar pelo assunto, recomendamos a leitura de artigo de nossa autoria intitulado «A PENHORA ON LINE – A utilização do sistema Bacen-Jud para constrição de contas bancárias e sua legalidade», no seguinte endereço: http://www.imp.org.br/webnews/noticia.php?id_noticia=497&
A preocupação do juiz com os impactos econômicos das decisões
A preocupação do juiz com os impactos econômicos das decisões
– uma análise conciliatória com as teorias hermenêuticas pós-positivistas
RESUMO
Como as decisões judiciais podem impactar a economia, a busca pela segurança jurídica a fim de reduzir as incertezas e imprevisibilidade, especialmente quando capazes de provocar riscos sistêmicos em alguns setores da atividade econômica, é uma reivindicação legítima. A consideração aos impactos econômicos da decisão judicial está em consonância com o pós-positivismo e com as teorias hermenêuticas que buscam superar a exagerada discricionariedade judicial. Se o que se busca, com as novas teorias hermenêuticas, é fornecer padrões determinados, para que a previsibilidade e justiça da resposta (judicial) sejam alcançadas, fazendo-se uma ponderação equilibrada entre princípios e regras (em vista das circunstâncias do caso concreto), mantendo a coerência e integridade do sistema jurídico, então requerer atenção do Juiz para com os reflexos de sua decisão corresponde exatamente a isso, a impedir que crie novos direitos, a evitar que profira juízos de valor que possam ser incoerentes com o sistema.
PALAVRAS-CHAVE: Analise Econômica do Direito. Economia. Ativismo Judicial. Pós-positivismo. Hermenêutica. Interpretação. Integridade. Dworkin. Streck. Direitos Fundamentais. Hermenêutica Filosófica.
1. Introdução
Não é de hoje a discussão sobre o impacto econômico das decisões judiciais. Propiciar decisões judiciais mais seguras, visando à distribuição da Justiça e estabilidade das relações sociais, é um objetivo bem antigo e perseguido constantemente. A busca pela segurança jurídica, a fim de reduzir as incertezas provocadas pela atuação judiciária, que pode levar a decisões predominantemente políticas e ideológicas ou exageradamente impregnadas de subjetivismos, sempre foi, aliás, uma preocupação constante da teoria do direito. O surgimento de novas teorias hermenêuticas, em substituição ao positivismo, embora fomentado pela necessidade de se encontrar outras «fontes de direito» (além do texto da lei) e, dessa forma, impregnar as decisões de um maior conteúdo moral[2], propiciando um maior grau de justeza, também foi impulsionado pela necessidade de se evitar «decisionismos» decorrente do «poder discricionário» do Juiz, com o qual o positivismo se contentava como (único) recurso para solução de casos complexos.
No estágio atual do desenvolvimento social, a discussão sobre os efeitos das decisões judiciais sobre a economia ganha ainda mais contorno. A busca pela segurança jurídica a fim de reduzir as incertezas nas relações contratuais passou a ser um mantra de economistas e representantes do empresariado e, talvez por decorrência, preocupação de renomados juristas e pensadores do Direito. De fato, existe uma constatação científica de que a atividade do Judiciário influencia diretamente a economia, no sentido de que, quanto maior a imparcialidade e previsibilidade (e, portanto, confiança no sistema), maior o desenvolvimento econômico e social. As transações e negócios econômicos são regulados por meio de contratos, que funcionam como fórmula para alocação de riscos entre os agentes econômicos. Uma indevida ou exagerada interferência judicial posterior nessas relações acaba por eliminar essa função dos contratos, aumentando os riscos e custos da atividade econômica. Como a essência dos contratos é a assunção (promessa) de obrigações recíprocas (entre os contratantes), para possibilitar o pleno potencial das trocas, uma ruptura do trato inicial (ainda que em parte) por meio da intervenção judicial elimina a previsibilidade que um dos contratantes tinha ao envolver-se originalmente no negócio. Essa possibilidade repercute no desenvolvimento econômico, já que aumenta os riscos da atividade de um dos contratantes. Quanto maior o grau de previsibilidade e estabilidade nas relações contratuais, no sentido de que as partes cumpram com suas promessas (voluntariamente ou forçadas), também será proporcionalmente maior o número de investimentos e negócios a serem realizados. Se, ao contrário, o grau de interferência judicial, no sentido de alteração das cláusulas contratuais, desobrigando uma das partes da prestação originalmente assumida, é exagerado ou ocorre por opções pessoais dos juízes, numa avaliação subjetiva e calcada em elementos ideológicos na interpretação das normas vigentes, tal situação pode efetivamente aumentar os custos associados a um determinado setor da economia, prejudicando o desenvolvimento econômico[3].
A falta de garantias ou previsibilidade quanto ao efetivo cumprimento das obrigações contratuais pode prejudicar ainda mais acentuadamente os investimentos de longo prazo. A atividade empresarial em determinados setores da economia, a exemplo de produção e distribuição de energia, telecomunicações, indústria de medicamentos, tecnologia da informação e atividade bancária (só para citar alguns), exige profunda especialização, investimento maciço e planejamento de longo prazo. Estudos recentes demonstram que a qualidade do sistema Judiciário é um fator preponderante no momento de decidir pela alocação de recursos para empreendimentos nessas áreas. Um sistema judicial imparcial e eficiente incentiva os investidores a atuarem de maneira coordenada na produção de bens, fazendo investimentos e planejando atuação a longo prazo, já que ficam eliminados (ou atenuados) os riscos associados a futuras rupturas das promessas (contratos) originalmente celebrados (muitas vezes contratos de concessão com o Poder Público).
A exigência de previsibilidade nos negócios aumenta em razão da competitividade empresarial cada vez maior, proporcionada pelo fenômeno da globalização. Esse processo, explica Castelar Pinheiro[4], provoca uma maior exigência por regulamentação, acentuando a dependência do contrato como instrumento regulador das transações transnacionais e evidenciando ainda mais a relação entre direito e economia. A globalização exige uma maior integração entre as nações, no que tange às trocas e transações econômicas, e aqueles países que não dispuserem de sistemas e instituições políticas eficientes, no sentido de garantir a regularidade dessas operações comerciais, distanciam-se e perdem espaço nesse processo global, deixando de produzir riquezas e promover o desenvolvimento social e econômico. Em outras palavras, o fortalecimento das instituições internas (aí incluído o sistema Judiciário) é condição indispensável para que os países (em especial aqueles com economias menos robustas) participem como atores integrados ao processo de globalização, para que possam se beneficiar dos efeitos da economia em escala mundial. Em outras palavras, o modelo globalizante exige dos países a melhoria e reformas de suas instituições políticas, sob pena de não integração na economia mundial. Como afirma Castells, a competitividade na nova economia global parece depender muito da capacidade política das instituições nacionais, para impulsionar a estratégia de crescimento de um país frente aos outros, sendo premente a necessidade das reformas necessárias para obter a eficiência do sistema judicial[5].
O fato é que, no mundo atual, caracterizado pela rapidez nas informações e trocas comerciais (proporcionadas por redes de comunicação informatizadas), a eficiência dos sistemas judiciários, para que funcionem de forma imparcial, segura e eficiente, é uma exigência social cada vez maior. Os sistemas políticos internos das nações (sobretudo as menos desenvolvidas) devem procurar acompanhar as mudanças que se dão a nível mundial, como requisito essencial para o desenvolvimento econômico. Os sistemas judiciários, nesse sentido, têm que proporcionar, para não servirem como empecilho ao desenvolvimento econômico, maior confiabilidade e previsibilidade.
O problema da imprevisibilidade das decisões judiciais é mais acentuado no Brasil, onde a constância de decisões contraditórias parece abalar a confiança dos jurisdicionados no sistema político-judiciário. O «ativismo judicial» recente, verificado em decisões da Suprema Corte e mesmo em outras instâncias inferiores, parece ser hoje uma das marcas[6] do nosso Judiciário (ao lado da morosidade). Nos últimos anos, «uma persistente crise de representatividade, legitimidade e funcionalidade no âmbito do Legislativo tem alimentado a expansão do Judiciário nessa direção, em nome da Constituição, com a prolação de decisões que suprem omissões e, por vezes, inovam na ordem jurídica, com caráter normativo geral»[7]. Se o «ativismo» judiciário tem um lado positivo, já que a atitude proativa dos juízes, na determinação de direitos que se encontram apenas em estado latente ou de forma nem sempre clara na Constituição e nas leis, resulta na concretização de políticas públicas e consagração de «promessas não cumpridas de modernidade», não se pode deixar de perceber o risco dessa postura judicial, pelo menos quanto à expectativa em relação à titularidade de direitos que partes de um processo judicial possam ter (ou não), em determinadas circunstâncias.
Somado a isso, ainda temos o problema da excessiva «judicialização das relações sociais», fenômeno que revela a transferência do poder político e decisório para o Judiciário, para resolver questões antes afetas a outras instâncias de poder ou a grupos socialmente organizados. Além da posição claramente ativista que o Judiciário brasileiro tem assumido, em algumas circunstâncias, existe na nossa sociedade uma tendência a se levar todo e qualquer tipo de conflito para ser resolvido por juízes, órgãos que exercem a jurisdição estatal. Segundo Luís Roberto Barroso, essa característica do atual momento político e social brasileiro tem causas múltiplas, algumas revelando uma tendência mundial, mas outras especificamente relacionadas com o nosso modelo institucional. Para ele, a constitucionalização abrangente de direitos, o aumento da demanda por justiça por parte dos cidadãos e a ascensão institucional do Poder Judiciário provocaram essa intensa judicialização das relações políticas e sociais[8]. A constitucionalização abrangente fez com que inúmeras matérias que antes eram deixadas para a legislação inferior fossem içadas à categoria de mandamentos e princípios constitucionais e, na medida em que um direito individual, uma prestação estatal, um fim ou política pública é disciplinado no nível constitucional, abre-se a possibilidade de os interessados ingressarem em juízo a fim de obter, pelas mãos do Judiciário, ações concretas omitidas pelos administradores públicos[9]. Uma vez que a Constituição consagrou tantos direitos, as pessoas redescobriram a cidadania perdida e se conscientizaram em relação aos próprios direitos, o que também funcionou aumentando consideravelmente o número de demandas judiciais. E, por fim, a promulgação da Constituição de 1988, ao atribuir garantias funcionais aos juízes, também promoveu uma reafirmação do Poder Judiciário como poder político. Recuperadas as liberdades democráticas e as garantias da magistratura, o Judiciário passou a desempenhar suas funções institucionais com altivez e independência, ocupando o espaço político a ele reservado ao lado do Executivo e do Legislativo. Essa afirmação institucional, obviamente, modificou a relação da sociedade com o Poder Judiciário, que passou a ser visto com mais confiabilidade e como desaguadouro natural dos anseios pela efetividade de direitos[10].
Ainda podemos elencar outros fatores que fomentaram esse fenômeno da demasiada judicialização das relações sociais. Além da criação de novos direitos no texto constitucional, nas últimas décadas houve uma significativa renovação dos serviços judiciários, cujo exemplo maior consistiu na criação dos «Juizados de Pequenas Causas» (depois substituídos pelos Juizados Cíveis), instituídos para funcionar regulados por procedimento simplificado e despojado de formalidades, possibilitando uma maior abertura da ordem processual para a defesa dos interesses individuais e coletivos[11]. Tendo por pano de fundo um procedimento centrado em três aspectos fundamentais – a isenção de taxas e custas, a desnecessidade de representação por advogado e a celeridade processual -, favoreceu a universalização da jurisdição, permitindo o acesso à Justiça de parcelas cada vez maiores da sociedade, em especial dos menos favorecidos pela fortuna, e possibilitando que pequenos litígios que, antes, não eram levados ao conhecimento dos juízes, passassem a fazer parte do dia-a-dia das cortes judiciárias, revelando o efeito do que se convencionou chamar de «litigiosidade contida»[12]. Esses órgãos judiciários especializados, aliados a outras iniciativas de política processual, que vingaram sob a influência das teorias da efetividade do processo e introduziram novos tipos de ações e ampliaram a legitimação para a tutela de interesses, terminaram também por promover a excessiva judicialização dos fatos sociais. Se antes falava-se em «litigiosidade contida», por falta de instrumentos de acesso à Justiça, talvez hoje já se possa perceber uma «litigiosidade desenfreada». A possibilidade de se ingressar em juízo sem qualquer ônus processual inicial ou possibilidade de responsabilização, promove a multiplicidade de lides temerárias[13]. Também a nossa cultura, refratária ou pouco habituada a qualquer outra forma alternativa de solução de disputas, favorece a que toda sorte de conflito termine sendo decidido no Judiciário. A Lei da Arbitragem[14] ainda não se mostrou capaz de popularizar entre nós esse instituto, deixando que possíveis usuários continuem recorrendo à tutela processual estatal para resolver suas controvérsias. «O Poder Judiciário deixou de ser a ultima ratio. Ao invés, é o primeiro passo na resolução de conflitos de interesses que vão desde o pequeno entrevero entre vizinhos até as grandes demandas societárias»[15].
Todo esse conjunto de fatores leva a uma crescente intervenção judiciária na vida dos brasileiros, fazendo com que toda e qualquer matéria, mesmo aquelas originadas de construções sociais mais simples e aparentemente incapazes de gerar conflito, terminem sendo decididas num tribunal. A judicialização excessiva num país de grande extensão territorial com uma complexa organização judiciária, reforçada pela atual tendência ao ativismo judicial, oferece as condições para o surgimento de decisões contraditórias (ainda que em casos idênticos), demasiadamente impregnadas de cunho político e ideológico e sem qualquer respeito aos precedentes e a uma visão integracionista do sistema de normas. Sem que se tenha alguma coerência sistêmica, em termos de segurança jurídica quanto ao resultado das decisões judiciais, tal situação corrói a confiabilidade no Poder Judiciário. As incertezas provocadas pela atuação judiciária, em termos de imprevisibilidade das decisões dos juízes (mesmo em casos semelhantes), arranham a imagem do Poder Judiciário, como alerta Lenio Streck, que cunhou a expressão de «Justiça lotérica» para diagnosticar a profusão de decisões conflitantes e, muitas vezes, sem qualquer possibilidade de harmonização teórico-hermenêutica, que caracteriza o funcionamento do Judiciário brasileiro. Essa prejudicial «criatividade» decisional dos juízes brasileiros, explica o mencionado jusfilósofo, «é causada pela ânsia do juiz de ir além do que diz a lei e fazer prevalecer a sua consciência»[16].
Ora, se é um dos maiores jusfilósofos brasileiros que reconhece a excessiva «subjetivação» de muitos julgados produzidos por tribunais e juízes brasileiros, não é demasiado exigir – como de fato o faz Lenio Streck – uma maior responsabilidade (accountability) dos juízes no momento da fundamentação da decisão, de forma a torná-la mais adequada com a integridade e a coerência do Direito (sistema de leis e a Constituição). Nesse sentido, parece razoável a reclamação de alguns setores produtivos quanto à exigência de decisões mais previsíveis, baseadas nas normas vigentes, evitando decisões alternativas ou predominantemente políticas. Obter decisões judiciais seguras, visando à realização de negócios e investimentos econômicos, é uma reivindicação tão legítima quanto qualquer outra, afinal os princípios relacionados à atividade econômica encontram-se condensados na Constituição Federal[17] e se apóiam na forma econômica capitalista, fundamentados na liberdade da iniciativa privada e apropriação privada dos meios de produção[18]. Reclamar que os magistrados prestem mais atenção às conseqüências econômicas de suas decisões, por conseguinte, equivale de modo indireto a exigir respeito aos princípios e regras que regulam a atividade econômica[19]. Se um dos objetivos da nossa república é a erradicação da pobreza, isso só se faz com desenvolvimento econômico, para suprir as necessidades coletivas de emprego, alimentação, saúde, saneamento e outros serviços públicos essenciais. Se o cumprimento das promessas constitucionais depende do desenvolvimento econômico, o Juiz tem o dever de examinar se sua decisão pode de qualquer forma afetá-lo. Por isso, o magistrado, no momento de decidir um caso, deve estar atento às múltiplas variáveis que o compõem, não podendo se cingir a apenas um único interesse envolvido. Como adverte o Desembargador Rogério Gesta Leal, «é preciso haver uma sensibilização da magistratura brasileira para a complexidade das relações sociais, marcadas hoje por variados fatores. Um tema que aparentemente é jurídico, no sentido de ser tratado e regulado por lei, tem implicações de natureza econômica, social e política. Essas dimensões extra-normativas precisam ser consideradas pelo julgador»[20].
Estudos mostram que, em diversos casos, decisões judiciais podem impactar negativamente as relações econômicas no Brasil, repercutindo no desenvolvimento, visto que interfere na expectativa dos agentes econômicos. Essa realidade justifica que os magistrados devam ter o cuidado, por decorrente de sua responsabilidade funcional de fundamentar adequadamente suas decisões, de examinar detidamente as repercussões econômicas de seus julgados, o que contribui para a integridade e eficiência do sistema e da segurança jurídica. A obtenção de decisões judiciais seguras possibilita negócios e investimentos, diminuindo o «risco jurídico» que os torna pouco atrativos, fazendo com que cumpram sua função social, impulsionando o desenvolvimento. Portanto, nas situações que comportem mais de uma solução plausível, nada impede que o Juiz busque a que seja mais correta à luz dos reflexos econômicos de sua decisão.
É importante deixar claro que, com essa afirmativa, não se está advogando uma «auto-contenção» do Judiciário ou uma volta ao conservadorismo existente antes do processo de redemocratização, quando juízes e tribunais, premidos pela falta de garantias funcionais, atuavam mais à semelhança de um «departamento técnico especializado», sem desempenhar qualquer papel político. Nem tampouco se cuida de pretender um direito de feitio vazio de valores, sem qualquer conteúdo, cuja atividade resume-se a chancelar as relações de fato criadas pelos agentes econômicos. Apenas se defende que, «em uma perspectiva de análise econômica do direito, a opção por uma norma e não pela outra, deve se dar a partir da escolha da norma que seja mais eficiente, economicamente. Significa, pois, analisar a demanda sob o aspecto de eficiência. Ao juiz cabe avaliar o impacto que as decisões ocasionarão»[21].
Uma avaliação legal completamente neutra, que desconsidere o fator econômico, é que significa um retrocesso. O que se quer é que o Juiz ou intérprete desperte para a extrema importância que as decisões judiciais representam para o desenvolvimento sócio-econômico do país. O que se pretende é que, para propiciar previsibilidade, estabilidade e integridade (em relação ao sistema normativo), o Juiz tenha também uma perspectiva de análise econômica do direito. Se fatores econômicos estão envolvidos desde a criação e elaboração das leis, porque não se levá-los também em consideração quando se trata de reduzir o texto legal à norma do caso concreto? Não se trata, portanto, «de substituir critérios de justiça por critérios econômicos, mas de perceber que os agentes econômicos mudam as estratégias à medida que a justiça se demonstra ineficiente e a economia injusta»[22].
Claro que, quando se está diante de direitos fundamentais da pessoa humana, ou outros valores constitucionais de maior realce, o critério da eficiência econômica não pode prevalecer. Só poderá prevalecer fator econômico se estiver ligado também a outro princípio constitucional de igual peso, se sua prevalência significar a preservação de outro valor constitucional fundamental. Quando se depara com situações de colisão de princípios, o intérprete deve, à luz dos elementos do caso concreto, proceder a uma ponderação dos valores e interesses em jogo. «Sua decisão deverá levar em conta a norma e os fatos, em uma interação não formalista, apta a produzir a solução justa para o caso concreto, por fundamentos acolhidos pela comunidade jurídica e pela sociedade em geral»[23].
Analisando a questão sob esse prisma, a consideração aos impactos econômicos da decisão judicial está em consonância com o pós-positivismo e com as teorias hermenêuticas que buscam superar a exagerada discricionariedade judicial. Se o que se quer é evitar a insegurança jurídica, proporcionada pelo subjetivismo decisional, isso significa sem sombra de dúvidas estar em linha de adequação ao pós-positivismo. Se o que se defende é que o Juiz, diante de um caso complexo, faça uma condensação de valores, preocupado com a unificação e integridade do sistema de normas, para formular decisão que evite o risco de «efeitos sistêmicos» na economia, tal proceder se coaduna com as premissas das teorias hermenêuticas pós-positivistas.
Adiante procuraremos demonstrar essa conciliação, entre a preocupação com os efeitos sistêmicos na economia que uma decisão judicial pode oferecer e a vanguarda das teorias hermenêuticas pós-positivistas, uma vez que essas teorias buscam parâmetros para alguma objetividade, para evitar que o recurso a princípios jurídicos (constitucionais) se torne uma «abertura» legitimadora de escolhas tão arbitrárias quanto as proporcionadas pela discricionariedade judicial (do positivismo). Se o que se busca, com as novas teorias hermenêuticas, é fornecer padrões determinados, para que a previsibilidade e justiça da resposta (judicial) sejam alcançadas, fazendo-se uma ponderação equilibrada entre princípios e regras (em vista das circunstâncias do caso concreto), mantendo a coerência e integridade do sistema jurídico, então requerer atenção do Juiz para com os reflexos de sua decisão corresponde exatamente a isso, a impedir que crie novos direitos, a evitar que profira juízos de valor que possam ser incoerentes com o sistema.
Para alcançar a finalidade do presente trabalho, faremos uma breve análise dos fundamentos de algumas das teorias hermenêuticas pós-positivistas, com destaque para a teoria da integração de Ronald Dworkin. É certo que esse pensador desenvolveu críticas relevantes ao «liberalismo utilitarista»[24], no sentido de que os juízes erram quando buscam fundamentar suas decisões exclusivamente em regras ou argumentos de ordem econômica, sem levar em consideração os princípios (que têm conteúdo moral)[25]. Já deixamos claro nossa posição de que o que o Juiz não pode é fazer uma apreciação completamente neutra, que desconsidere o fator econômico, mas, deparando-se com direitos fundamentais ou outros valores constitucionais de maior realce, o critério da eficiência econômica obviamente não pode prevalecer.
Também analisaremos, no presente trabalho, excertos do pensamento de Lenio Luiz Streck, defensor da hermenêutica filosófica como o método mais adequado para resolver problemas de atividade interpretativa.
2. Algumas teorias hermenêuticas do pós-positivismo
Uma das questões mais controvertidas da teoria geral do direito diz respeito ao papel do Juiz quando tem que decidir casos difíceis, assim considerados aqueles que não podem ser submetidos a uma regra de direito clara, estabelecida de antemão pelo legislador. Quando as premissas da lei contêm toda a informação necessária e suficiente para se resolver um problema (caso) concreto, a operação do intérprete se resume a um «deducionismo». Já não havendo uma subsunção evidente do caso à hipótese legal, o raciocínio lógico-dedutivo não consegue dar conta do problema e o aplicador deve se valer de outro procedimento interpretativo (mais elaborado e complexo).
Para o positivismo jurídico, nessas hipóteses, o Juiz age dentro do seu «poder discricionário», mas na verdade ele legisla «novos direitos», e em seguida os aplica retroativamente aos casos em questão. Em lugar de simplesmente aplicar o «direito antigo», o Juiz parece criar direito novo (e politicamente controverso). Nesses casos, abre-se para ele a possibilidade da criação de uma nova regulamentação jurídica objetivando a complementação do sistema, considerando a falta de previsão do fato a uma norma efetivamente válida. As teorias do «realismo legal»[26], que desmascarou a doutrina ortodoxa segundo a qual competia aos juízes apenas aplicar as regras existentes, mostraram que eles respondem a diferentes estímulos sociais e pessoais, e em seus arrazoados apelam para princípios de justiça e políticas públicas.
Em contraposição ao positivismo jurídico, tornou-se necessário desenvolver novas teorias hermenêuticas, uma vez que se deve evitar a insegurança jurídica (proporcionada pela discricionariedade judicial), garantindo-se o direito das partes a uma decisão correta, mesmo que não haja uma lei clara sobre o caso específico delas. Muitas teorias foram formuladas com o propósito de resolver a seguinte questão: como os juízes deveriam chegar às suas decisões a fim de atender da melhor maneira possível aos objetivos da jurisdição? De fato, o maior desafio dado ao operador do direito constitui na melhor interpretação. Os juízes divergem, quando têm que decidir os casos difíceis, no tocante à natureza e ao núcleo dos direitos e princípios jurídicos fundamentais. A necessidade, portanto, de dinamizar a aplicação correta da norma bem como a ação do juiz quando da elaboração de uma sentença, com métodos de interpretação atrelados à prática efetiva da justiça, dentro dos moldes do Estado Democrático de Direito, deu ensejo ao surgimento de diversas teorias hermenêuticas. Lenio Streck explica que o objetivo dessas teorias é o de fornecer suporte teórico para a melhor solução interpretativa. Diz o mencionado jusfilósofo: «A guinada hermenêutica sofrida pelo direito em tempos de efetivo crescimento do papel da jurisdição – mormente a jurisdição constitucional – acentuou a preocupação em torno da necessidade de discutir as condições que o intérprete tem para a atribuição dos sentidos aos textos jurídicos, uma vez fracassadas as experiências exegético-subsuntivas e as tentativas de controlar os sentidos através de operações lógico-analíticas. As diversas concepções sobre como interpretar e como aplicar têm como objetivo alcançar respostas corretas ou a «melhor resposta», metódica ou conteudisticamente»[27].
Os chamados pós-positivistas buscam através de teorias como as da Argumentação Jurídica[28], da Integração e da Tópica Jurídica – respectivamente de Robert Alexy, Ronald Dworkin e Chaïm Perelman – as respostas para a melhor interpretação, tendo como pedra de toque o equilíbrio entre segurança jurídica e justiça, considerando os princípios constitucionais como chave para a exegese.
2.1. Teoria Integracionista de Ronald Dworkin
Ronald Dworkin refuta a teoria da discricionariedade, característica do positivismo jurídico, segundo a qual, diante de casos difíceis, o Juiz fica livre para decidir. A partir dessa teoria, quando o juiz decide um caso difícil, ele legisla novos direitos jurídicos, e os aplica retroativamente. Por isso, essa teoria da decisão é totalmente inadequada, uma vez que causa insegurança jurídica e, provavelmente, gera decisões injustas. Dworkin propõe uma teoria da interpretação que auxilia os operadores do Direito a encontrar uma resposta correta mesmo para os casos complexos. Acredita esse jurista que os juízes, ao resolverem os casos difíceis, devem utilizar padrões determinados, para que a previsibilidade e justiça da resposta sejam alcançadas. «Dworkin, contrapondo-se ao formalismo legalista e ao mundo de regras positivistas, busca nos princípios os recursos racionais para evitar o governo da comunidade por regras que possam ser incoerentes»[29] com o sistema. Para ele, o juiz não tem o direito de criar novos direitos, mas sim descobrir quais são eles em conformidade com o ordenamento jurídico. A concepção positivista do Direito que o percebe apenas como um modelo de regras, ignorando outros padrões (políticas e princípios), é insuficiente para resolver os casos difíceis.
Para que se descubram quais direitos que a parte tem, é necessário que se conheçam os princípios políticos que inspiraram a Constituição. Esses princípios auxiliam a leitura da Constituição, limitando seu conteúdo e auxiliando nos casos difíceis. É imprescindível também que, para uma resposta correta aos casos difíceis, o Juiz leve em consideração as decisões anteriores dos tribunais (precedentes), atentando para os argumentos de princípio que os fundamentaram[30]. Para interpretar a lei (descobrir a intenção da lei), o aplicador tem que desenvolver uma operação que a vincule aos princípios que subjazem às regras positivas do direito (e em especial à Constituição), com atenção para os argumentos de princípio e de políticas públicas que embasaram casos anteriormente julgados[31].
Essas premissas são as bases da Teoria da Integridade, que em termos simples significa que os juízes devem julgar de forma coerente e fundamentada nos princípios, a fim de estabelecer uma interpretação construtiva da prática jurídica e expressar um sistema harmonioso, evitando a aplicação de direitos diferentes (a casos semelhantes) e estendendo a cada um dos cidadãos da comunidade os padrões fundamentais de justiça. O princípio ou teoria da integridade desenvolvida por Dworkin, como modelo de interpretação construtiva do direito, abre possibilidades além da norma que norteia um caso concreto, pois o Juiz, embora sem desconsiderar a legislação vigente, deve recorrer a princípios e políticas públicas, abstendo-se de «inventar» o direito. A existência de um dever legal do juiz de analisar de modo mais abrangente as fontes da lei, inclusive no que toca a princípios não convencionais, é a chave da interpretação construtiva, do direito como integridade (de normas). Por esse meio, a instância interpretativa se torna capaz de decidir os casos difíceis[32], sem os elementos de incerteza jurídica decorrentes da discricionariedade. A decisão judicial será mais segura e adequada quanto mais dispuser de informações fáticas e conceitos interpretativos. «É a integridade do direito e sua reconstrução que devem dar a resposta nos casos difíceis»[33].
Do que acima se transcreveu, pode se perceber a elevada importância dada por Dworkin aos princípios jurídicos, como fonte da interpretação integracionista. Para ele, mesmo as decisões dos tribunais que são consideradas decisões políticas importantes, podem ser lidas como decisões tomadas com base em princípios, uma vez que as decisões de princípios são aquelas baseadas nos direitos que as pessoas têm a partir da Constituição, e não em políticas que buscam realizar objetivos coletivos[34]. Ele explica que quando o jurista se depara com casos difíceis, geralmente recorre a outros padrões jurídicos, como princípios e políticas. Nas questões judiciais difíceis, diz ele, «os princípios desempenham um papel fundamental nos argumentos que sustentam as decisões a respeito de direitos e obrigações jurídicos particulares»[35]. Na sua concepção, política é o tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral uma melhoria em algum aspecto econômico, político ou social da comunidade. Já princípio é um padrão jurídico que deve ser observado não porque vá promover ou assegurar uma situação econômica, política ou social considerada desejável, mas porque «é uma exigência de justiça ou eqüidade ou alguma outra dimensão da moralidade»[36]. Os princípios possuem uma dimensão que as regras comuns não têm[37] – em peso e importância – e quando se intercruzam, «aquele que vai resolver o conflito tem que levar em conta a força relativa de cada um». Havendo conflito entre princípios, o «princípio relevante para o problema jurídico particular fornece uma razão em favor de uma determinada solução»[38].
2.2 A «era dos princípios»
A recorrência aos princípios, como se viu, é a tônica das teorias interpretativas pós-positivistas. O pós-positivismo promove uma volta aos valores, enfatiza o papel dos princípios «enquanto resgate da moral expungida do direito pelo positivismo[39]. A ênfase dada aos princípios é atribuída em reconhecimento à sua normatividade. Materializados na Constituição, que consagra valores da ordem jurídica e social, os princípios desempenham funções importantes para a atividade interpretativa, condicionando o atuar do hermeneuta. «A Constituição altera (substancialmente) a teoria das fontes que sustentava o positivismo e os princípios vêm a propiciar uma nova teoria da norma (atrás de cada regra há, agora, um princípio que não deixa se «desvencilhar» do mundo prático)»[40].
Havendo colisão normativa entre princípios constitucionais, o conflito é resolvido através da ponderação, daí que não ocorre o aniquilamento de um princípio em favor de outro, mas apenas que, no caso concreto, deve ser escolhido aquele que produza o resultado mais socialmente desejável. Não há superioridade formal entre os princípios em tensão, mas «a simples determinação da solução que melhor atende o ideário constitucional da situação apreciada».
Mas mesmo o método ou solução da ponderação de princípios não é por si só suficiente. «A vanguarda do pensamento jurídico dedica-se, na quadra atual, à busca de parâmetros de alguma objetividade, para que a ponderação não se torne uma fórmula vazia, legitimadora de escolhas arbitrárias. É preciso demarcar o que pode ser ponderado e como deve sê-lo. A teoria dos princípios não importa no abandono das regras ou do direito legislado. Para que possa satisfazer adequadamente à demanda por segurança e por justiça, o ordenamento jurídico deverá ter suas normas distribuídas, de forma equilibrada, entre princípios e regras»[41].
Advertência semelhante é feita por Lenio Streck. Ele sustenta que a Constituição, embora constituída de normas de significados mais «abertos», não autoriza repostas múltiplas para um mesmo problema, sob pena de incorrer e voltar ao mesmo erro do positivismo, de permitir que a discricionariedade dê margem a decisionismos e arbitrariedades interpretativas. Para ele, «são incompatíveis com a hermenêutica as teses que sustentam que o advento dos princípios e das cláusulas gerais possibilitam uma (maior) «abertura» (liberdade) interpretativa em favor dos juízes, circunstância que recoloca no paradigma neconstitucionalista, a principal característica do positivismo: a discricionariedade»[42]. Defensor da hermenêutica filosófica como o método mais adequado para resolver problemas de atividade interpretativa, ele reverbera contra o processo que se tornou comum hoje, entre os operadores do direito, de enxergar um novo e específico princípio em cada quadrante do direito, para a superação de qualquer dificuldade interpretativa. Segundo Streck, é possível alcançar aquilo que pode ser denominado de «a resposta hermeneuticamente adequada à Constituição«. A resposta adequada é conseguida através de um «exame da coerência e da integridade» com o sistema jurídico em um determinado caso. Os fatos e circunstâncias que rodeiam e caracterizam um caso específico (faticididade) é de fundamental importância para o processo hermenêutico e, sem que o intérprete leve isso em consideração, na definição do alcance de um princípio, não chegará à «resposta correta», em termos de atribuição de sentido ao texto de forma integrada e coerente com o sistema jurídico. Diz ele: «Os sentidos são atribuíveis a partir da faticidade em que está inserido o intérprete e respeitando os conteúdos de base do texto, que devem nos dizer algo»[43]. E completa: «Assim, quando hoje – em pleno paradigma principiológico, neoconstitucionalista e superador do positivismo que se sustenta(va) pela regra e pela subsunção – tudo parece indicar que é vencedora a tese da realização do direito (norma) «somente na situação concreta», não podemos cair na armadilha do axiologismo, possibilitando uma espécie de retorno à discricionariedade positiva, como se os princípios proporcionassem ainda mais abertura na interpretação dos juízes «no caso concreto»[44]. O sentido do texto da Constituição, dos princípios que ela incorpora, só pode ser perfeitamente atribuído no momento em que o julgador (ou intérprete) faz a aplicação, para a resolução de um caso concreto. É no momento da aplicação que se pode compreender o sentido do princípio constitucional, como diz o citado jurista: «o texto da Constituição só pode ser entendido a partir de sua aplicação. Entender sem aplicação não é um entender. A applicatio é a norma(tização) do texto constitucional»[45].
Conclusões:
1ª. Como as decisões judiciais podem impactar a economia, a busca pela segurança jurídica a fim de reduzir as incertezas e imprevisibilidade das decisões judiciais, especialmente quando capazes de provocar riscos sistêmicos em alguns setores da atividade econômica, é uma reivindicação legítima.
2ª. Se o grau de interferência judicial, no sentido de alteração das cláusulas contratuais, desobrigando uma das partes da prestação originalmente assumida, é exagerado ou ocorre por opções pessoais dos juízes, numa avaliação subjetiva e calcada em elementos ideológicos na interpretação das normas vigentes, tal situação pode efetivamente aumentar os custos associados a um determinado setor da economia, prejudicando o desenvolvimento econômico.
3ª. Em uma perspectiva de análise econômica do direito, a opção por uma solução e não pela outra, deve se dar a partir da escolha daquela que evite riscos sistêmicos em um determinado setor da economia ou de qualquer maneira impeça ou dificulte o desenvolvimento econômico.
4ª. Quando se está diante de direitos fundamentais da pessoa humana, ou outros valores constitucionais de maior realce, o critério da eficiência econômica não pode prevalecer. Só poderá prevalecer o fator econômico se estiver ligado também a outro princípio constitucional de igual peso, se sua prevalência significar a preservação de outro valor constitucional fundamental.
5ª. Quando se depara com situações de colisão de princípios, o intérprete deve, à luz dos elementos do caso concreto, proceder a uma ponderação dos valores e interesses em jogo, levando também em conta a norma e os fatos, em uma interação apta a produzir a solução justa (e conforme a Constituição) para o caso concreto.
6ª. A consideração aos impactos econômicos da decisão judicial está em consonância com o pós-positivismo e com as teorias hermenêuticas que buscam superar a exagerada discricionariedade judicial. Já que a finalidade é evitar a insegurança jurídica, proporcionada pelo subjetivismo decisional, isso significa sem sombra de dúvidas estar em linha de adequação ao pós-positivismo. Se o que se defende é que o Juiz, diante de um caso complexo, faça uma condensação de valores, preocupado com a unificação e integridade do sistema de normas, para formular decisão que evite o risco de «efeitos sistêmicos» na economia, tal proceder se coaduna com as premissas das teorias hermenêuticas pós-positivistas.
Referências
ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica: A Teoria do Discurso Racional como Teoria da Justificação Jurídica. São Paulo, Landy, 2001.
BARROSO, Luiz Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro (Pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ – Centro de Atualização Jurídica, v. I, nº 6, 2001.
Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito. Revista de Direito Administrativo n °240, 2005.
Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática, artigo publicado no site Conjur, em 22.12.08, podendo ser acessado em: http://www.conjur.com.br/2008-dez-22/judicializacao_ativismo_legitimidade_democratica
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 2 ed.v.1 São Paulo: Paz e Terra, 1999.
DMITRUK. Erika Juliana. O Princípio da Integridade como modelo de interpretação construtiva do direito em Ronald Dworkin. Artigo publicado na Revista Jurídica da UniFil – Centro Universitário Filadélfia, Ano IV – n. 4 – 2007, que pode ser acessado em: http://web.unifil.br/docs/juridica/04/Revista%20Juridica_04-11.pdf
DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a sério. Martins Fontes. São Paulo. 2007.
LEAL. Rogério Gesta. Repercussões econômicas de decisões judiciais preocupam magistrados. Entrevista para o portal do STJ, publicada no dia 29.03.09, no seguinte endereço: http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=91452
LOPES, Pedro Câmara Raposo. Judiciário deve refletir sobre os impactos das decisões. Artigo publicado no site Conjur, em 14.01.09, acessível em: http://www.conjur.com.br/2009-jan-14/poder_judiciario_refletir_impactos_economicos_decisoes
REINALDO. Demócrito Filho. Comentários à Lei 9.099/95. Editora Saraiva. 1995.
ORTOLAN. Josililene Hernandes. Norma Sueli Padilha. O Impacto Econômico do Direito: em busca de uma economia mais justa e de um direito mais eficiente. Trabalho publicado nos Anais do XVII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em Brasília – DF, nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2008.
PINHEIRO, Armando Castelar. Direito e economia num mundo globalizado: cooperação ou confronto. Disponível: www.an.org.br/arquivo/destaques/armando_castelar_pinheiro.pdf.Acesso em 09.out.2007.
STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas. Da possibilidade à necessidade de respostas corretas em direito. Editora Lumen Juris. 2ª. ed. Rio de Janeiro. 2007.
Justiça Lotérica – Ativismo judicial não é bom para a democracia. Entrevista para o site Consultor Jurídico, publicada no dia 15.03.09, podendo ser acessada no seguinte link para a entrevista: http://www.conjur.com.br/2009-mar-15/entrevista-lenio-streck-procurador-justica-rio-grande-sul ).
ZYLBERSZTAJN, Décio. Rachel Sztajn. Direito & Economia. Análise Econômica do Direito e das Organizações.Rio de Janeiro: Elsevier 2005.
[1] Doutorando do curso de Direito da Universidade Estácio de Sá (RJ).
[2] Tendo em vista a co-originariedade entre direito e moral, de certa forma abandonada pelo positivimo.
[3], Décio Zylbersztajn e Rachel Sztajn. Direito & Economia. Análise Econômica do Direito e das Organizações.Rio de Janeiro: Elsevier 2005.p.103-104.
[4] Armando Castelar Pinheiro. Direito e economia num mundo globalizado: cooperação ou confronto. Disponível: www.an.org.br/arquivo/destaques/armando_castelar_pinheiro.pdf.Acesso em 09.out.2007. Apud
[5] Manuel Castells. A sociedade em rede. 2 ed.v.1 São Paulo: Paz e Terra, 1999, p 12-18.
[6] O ativismo judiciário, ao invés de configurar propriamente um problema, revela um lado positivo da atuação dos juízes brasileiros, em uma sociedade carente da concretização de direitos fundamentais. De fato, o «ativismo» geralmente se manifesta quando o Poder Legislativo se mostra incapaz para suprir as demandas sociais pela concretização de direitos, daí o surgimento da atitude mais avançada do Judiciário, como protagonista de decisões que implicam em escolhas morais e implementação de políticas públicas e, portanto, preenchendo espaços políticos antes reservado aos outros poderes. Como explica Luís Roberto Barroso, «o ativismo judicial é uma atitude, a escolha de um modo específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance. Normalmente ele se instala em situações de retração do Poder Legislativo, de um certo descolamento entre a classe política e a sociedade civil, impedindo que as demandas sociais sejam atendidas de maneira efetiva» (em Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática, artigo publicado no site Conjur, em 22.12.08). Mas, como alerta o citado constitucionalista, «decisões ativistas devem ser eventuais, em momentos históricos determinados», pois «não há democracia sólida sem atividade política intensa e saudável, nem tampouco sem Congresso atuante e investido de credibilidade».
[7] Luís Roberto Barroso, ob. cit.
[8] Em Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito, artigo publicado na Revista de Direito Administrativo n °240, 2005.
[9] «Na medida em que uma questão – seja um direito individual, uma prestação estatal ou um fim público – é disciplinada em uma norma constitucional, ela se transforma, potencialmente, em uma pretensão jurídica, que pode ser formulada sob a forma de ação judicial. Por exemplo: se a Constituição assegura o direito de acesso ao ensino fundamental ou ao meio-ambiente equilibrado, é possível judicializar a exigência desses dois direitos, levando ao Judiciário o debate sobre ações concretas ou políticas públicas praticadas nessas duas áreas» (Luís Roberto Barroso).
[10] Esse último fator de «judicialização» das relações sociais é descrito por Luís Roberto Barros como «ascensão institucional do Poder Judiciário». Descreve esse fenômeno na seguinte passagem de sua obra:
«Uma das instigantes novidades do Brasil dos últimos anos foi a virtuosa ascensão institucional do Poder Judiciário. Recuperadas as liberdades democráticas e as garantias da magistratura, juízes e tribunais deixaram de ser um departamento técnico especializado e passaram a desempenhar um papel político, dividindo espaço com o Legislativo e o Executivo. Tal circunstância acarretou uma modificação substantiva na relação da sociedade com as instituições judiciais, impondo reformas estruturais e suscitando questões complexas acerca da extensão de seus poderes» (em Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito).
[11] Demócrito Reinaldo Filho. Comentários à Lei 9.099/95. Editora Saraiva. 1995.
[12] Demócrito Reinaldo Filho. Ob. cit.
[13] As penas previstas para a litigância de má-fé, no art. 14 e seguintes do CPC, parecem não ser suficientes para desestimular as lides temerárias. Isso ocorre pela dificuldade de cobrança posterior da multa aplicada e até mesmo pela exagerada parcimônia que os juízes revelam na aplicação dessas sanções processuais.
[14] Lei n.º 9.307/96.
[15] Pedro Câmara Raposo Lopes faz considerações sobre aspectos sociológicos de nossa formação cultural, que levam os brasileiros a preferirem a solução estatal a qualquer outra forma de solução de conflitos, comprometendo o passivo judicial. Diz ele: «Sociologicamente, explica-se a morosidade pela formação ibérica do povo brasileiro, que recebe com suspeita todo ato que não conte, de alguma forma, com o sufrágio estatal. Confia-se mais no terceiro imparcial do que na contraparte que, assim como o interessado, conhece a fundo a raiz do negócio comum. Avulta a cultura do carimbo, da «cartorização», da jurisdição graciosa como meio de oficialização de atos particulares absolutamente inanes à ordem jurídica justa. O Poder Judiciário deixou de ser a ultima ratio. Ao invés, é o primeiro passo na resolução de conflitos de interesses que vão desde o pequeno entrevero entre vizinhos até as grandes demandas societárias. Esta peculiar característica da formação da personalidade do homem brasileiro, tomada de empréstimo do homem ibérico por sua gênese, amesquinha as tentativas mais bem intencionadas de reduzir o passivo judicial, como, verbi gratia, as medidas paraestatais de solução de conflitos (mediação, arbitragem e quejandos) que não encontraram no solo brasileiro terreno virente, justamente pela carência do elemento judicial a lhe conferir a chancela estatal (absolutamente desnecessária nos povos de tradição oriental ou anglo-saxã).» (em Judiciário deve refletir sobre os impactos das decisões, artigo publicado no site Conjur, em 14.01.09, acessível em: http://www.conjur.com.br/2009-jan-14/poder_judiciario_refletir_impactos_economicos_decisoes ).
[16] Ele explica que essa «criatividade» é ainda uma herança do período de ditadura pelo qual passou o Brasil. Na explicação de Streck, como o cidadão quase não tinha direitos antes da Constituição de 1988, os juízes tinham de usar de todo conhecimento e imaginação para encontrar brechas e contornar o autoritarismo legal. Vinte anos depois, os juízes ainda não se acostumaram com a lei prevendo tantos direitos para o cidadão. «Os juízes, que agora deveriam aplicar a Constituição e fazer a filtragem das leis inconstitucionais, passaram a achar que sabiam mais do que o constituinte. Saímos da estagnação para o ativismo» (entrevista para o site Consultor Jurídico, intitulada «Justiça Lotérica – Ativismo judicial não é bom para a democracia», publicada no dia 15.03.09, podendo ser acessada no seguinte link: http://www.conjur.com.br/2009-mar-15/entrevista-lenio-streck-procurador-justica-rio-grande-sul ).
[17] No art. 170, mas também dispersos por outros dispositivos.
[18] Claro que, mesmo focados na economia de mercado, o conjunto de princípios que regem a atividade econômica consagram importantes institutos de proteção ao ser humano.
[19] A Constituição está impregnada de uma série de valores e princípios que visam à realização da democracia econômica, por meio da regulação do mercado e da atividade econômica. O Estado deve garantir as condições para o crescimento econômico como condição para erradicar a pobreza, promovendo o crescimento justo e equitativo para suprir as necessidades de emprego, alimentação, energia, água e saneamento. O Estado apóia os agentes econômicos nacionais, na sua relação com o resto do mundo e, de modo especial, os agentes e atividades de contribuam positivamente para a inserção dinâmica do nosso país no sistema econômico mundial. O Estado incentiva e apóia, nos termos da lei, o investimento externo que contribua para o desenvolvimento econômico e social do país. É garantida, nos termos da lei, a coexistência dos setores público e privado na economia. Enfatiza-se, como deveres do Estado, em democracia econômica, os de assegurar uma concorrência sã, a fiscalização da atividade econômica para verificação do cumprimento das leis e regulamentos, a qualidade, regularidade e acessibilidade a bens de consumo e a serviços públicos fundamentais (água, electricidade, telecomunicações, etc.), a qualidade e o equilíbrio ambientais, o ordenamento territorial e o planeamento urbanístico equilibrados.
[20] Repercussões econômicas de decisões judiciais preocupam magistrados, entrevista do Des. Rogério Gesta Leal para o portal do STJ, publicada no dia 29.03.09, no seguinte endereço:
http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=91452
[21] Josilene Hernandes Ortolan e Norma Sueli Padilha, em «O Impacto Econômico do Direito: em busca de uma economia mais justa e de um direito mais eficiente», trabalho publicado nos Anais do XVII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em Brasília – DF, nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2008.
[22] Josilene Hernandes Ortolan e Norma Sueli Padilha, ob. cit.
[23] Josilene Hernandes Ortolan e Norma Sueli Padilha, ob. cit.
[24] E também ao positivismo jurídico contemporâneo, principalmente na versão dada a esta corrente pelo professor Herbert Hart.
[25] Em alguns casos os juízes fundamentam suas decisões com base em argumentos de ordem (ou política) econômica, buscando formar uma regra utilitarista explícita, formulada com a intenção de servir ao bem-estar geral. Ronald Dworkin adverte, no entanto, que não se pode decidir esse tipo de questão por meio de uma análise que apenas associe meios a fins. Para ele, as diversas correntes da abordagem profissional da teoria do direito falharam porque ignoraram o fato crucial de que esses problemas têm relação com princípios (morais). Em algumas situações pode haver conflitos entre esses princípios e as necessidades práticas, de modo que se deve procurar um equilíbrio entre esses dois objetivos (da jurisdição). (Dworkin, Ronald. Levando os Direitos a sério. Martins Fontes. São Paulo. 2007. pág. 11).
[26] Movimento surgido a partir do início do século passado. John Chipman Gray e Oliver Wendell Holmes elaboraram os primeiros trabalhos com uma abordagem cética do processo judicial, desmascarando a doutrina ortodoxa. Nos anos 20 e 30 prosperaram as teorias do «realismo legal», que tiveram em Jerome Frank e Felix Cohen alguns dos mais destacados expoentes. Segundo eles, a teoria ortodoxa fracassou porque tentou descrever o que os juízes fazem apenas concentrando-se nas regras que eles mencionam em suas decisões. Na verdade, os juízes tomam suas decisões de acordo com suas próprias preferências políticas e morais, e então escolhem uma regra jurídica apropriada como uma racionalização.
[27] Lenio Luiz Streck. Verdade e Consenso. Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas. Da possibilidade à necessidade de respostas corretas em direito. Editora Lumen Juris. 2ª. ed. Rio de Janeiro. 2007.
[28] A Teoria da Argumentação Jurídica, de Robert Alexy, tem como fundamento principal a integração do discurso jurídico com o discurso prático geral. Em outras palavras, graças a uma argumentação de se que reconheça a força e a pertinência, o intérprete é direcionado para a decisão mais adequada (a melhor justificada). A racionalidade do discurso conduz à obtenção do resultado correto. Logo, correto é o discursivamente racional, o obtido por meio da construção argumentativa (ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica: A Teoria do Discurso Racional como Teoria da Justificação Jurídica. São Paulo, Landy, 2001).
[29] Lenio Luiz Streck. Ob. cit., p. 250.
[30] Dworkin ressalva que, embora os casos semelhantes devem ser decididos da mesma maneira, como exigência da igualdade e segurança jurídica, os precedentes não se constituem, no entanto, em fundamentos para uma interpretação imutável. O Juiz pode utilizar argumentos para demonstrar que uma determinada corrente jurisprudencial está errada. Valer-se-á de argumentos históricos ou de uma percepção geral da comunidade, para mostrar que um determinado princípio que já foi historicamente importante, hoje não é mais, não exerce força suficiente para gerar uma decisão jurídica. Também utilizará argumentos de moralidade política, demonstrando que tal decisão ou princípio fere a eqüidade ou é injusto. As interpretações dadas ao Direito são mutáveis e o que em uma época é incontestável, em outra sofre sérias críticas.
[31] Esses excertos do pensamento de Dworkin e de sua teoria dos direitos foram extraídos do artigo de Erika Juliana Dmitruk, intitulado «O Princípio da Integridade como modelo de interpretação construtiva do direito em Ronald Dworkin», publicado na Revista Jurídica da UniFil – Centro Universitário Filadélfia, Ano IV – n. 4 – 2007, que pode ser acessado em: http://web.unifil.br/docs/juridica/04/Revista%20Juridica_04-11.pdf
[32] Lenio Streck faz uma crítica à distinção entre casos fáceis (easy cases) e casos difíceis (hard cases). Ele indica o equívoco de alguns críticos do positivismo que fazem uma divisão entre «procedimentos interpretativos próprios para os casos fáceis» e «procedimentos interpretativos para a solução de casos difíceis», ao considerarem que casos jurídicos fáceis (simples) são resolvidos pelo juiz a partir de inferência lógico-dedutiva. Afinal, diz ele, «como saber se estamos em face de um caso simples ou de um caso difícil? Já não seria um caso difícil decidir se um caso é fácil ou difícil?». Ele explica que, embora Dworkin também faça essa distinção, o faz por outra razão, pois trabalha com a noção de «casos difíceis» a partir da crítica que elabora ao positivismo discricionário de Hart. Acrescenta que, «ao fazer a distinção entre operações causais-explicativas (deducionismo) destinadas a resolver os casos simples e as «ponderações» calcadas em procedimentos que hierarquizam cânones e princípios, reduz-se o elemento essencial da interpretação a uma relação sujeito-objeto». Ob. cit.
[33] Lenio Streck. Ob. cit., p. 249.
[34] Ob. cit, p. 101.
[35] Ob. cit., p. 46.
[36] Ob. cit., p. 36.
[37] Lenio Streck faz uma crítica à distinção absoluta entre normas e princípios, no que tange à visão de que os princípios se diferem das regras jurídicas por possuírem um maior grau de abstração. Ele explica que nem sempre isso ocorre, podendo haver regras com maior «abstralidade» do que alguns princípios. Veja-se o seguinte trecho de sua obra a esse respeito: «Refira-se, por derradeiro, que nada está a indicar esse caráter «de determinação finalístico» das regras e a «abstratalidade» dos princípios. Regras e princípios são constituídas de incertezas significativas (vaguezas e ambigüidades). Princípios podem ter mais «determinação finalística» que determinadas regras (v.g., o princípio da reserva legal, o princípio da ampla defesa, da presunção de inocência, da proibição da reformatio in pejus, etc, se comparados com a imprecisão semântica de regras como injusta agressão, abandono material e os pressupostos para a tutela antecipada, para citar apenas estas). Por isso, é que entre regra e princípio ocorre uma diferença, e não uma distinção estrutural» (ob. cit.).
[38] Ob. cit., p. 114.
[39] Lenio Streck, ob. cit., p. 06.
[40] Lenio Streck, ob. cit., p. 09.
[41] Josilene Hernandes Ortolan e Norma Sueli Padilha, fazendo alusão ao pensamento de Luís Roberto Barroso, ob. cit.
[42] Ob. cit., p. 369.
[43] Ob. cit., p. 292.
[44] Ob. cit., p. 372.
[45] Ob. cit., p. 296.
Indeferimento da inicial do mandado de segurança com base no art10 da lei n12016/2009
INDEFERIMENTO DA INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA COM BASE NO ART. 10 DA LEI n. 12.016/2009 – impossibilidade da utilização de argumentos de mérito
Não é incomum encontrarmos decisões judiciais que fazem um enfrentamento do mérito do mandado de segurança, mas indeferem liminarmente a petição inicial (com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009). Muitos juízes, ao receberem a peça inicial, empreendem uma análise quanto à existência do direito líquido e certo do impetrante, concluindo pela sua inexistência e validade do ato impugnado, ou seja, realizando verdadeiro exame do mérito da demanda (juízo de fundo), mas invocam o mencionado dispositivo para indeferir a inicial e extinguir o processo.
Essa prática revela incongruência grave, porquanto o 10 da Lei 12.016/20091 não pode ser invocado para justificar a extinção do processo, após haver, o magistrado, feito um juízo de mérito do direito em questão na lide mandamental. Esse dispositivo refere-se aos pressupostos de admissibilidade específicos do mandado de segurança, que são aqueles relacionados com os requisitos constitucionais do instituto e com as condições processuais previstas na lei específica. Somente na ausência de um desses pressupostos é que o Juiz está autorizado a proferir uma sentença extintiva sem julgamento do mérito, jamais quando conclui pela inexistência do direito do impetrante.
Como se sabe, toda e qualquer ação necessita preencher os pressupostos de existência e validade, que são os requisitos indispensáveis e prévios ao exame do mérito. Como diz Celso Agrícola Barbi, referindo-se aos pressupostos processuais, eles «se referem à existência, ou mais propriamente, à validade da relação jurídica processual, não importando se a sentença final será favorável ao autor ou ao réu»2. Esses pressupostos gerais de admissibilidade estão elencados no art. 267 do CPC, e se referem, principalmente, à capacidade processual das partes e sua representação em juízo, interesse de agir etc. Além desses pressupostos gerais de admissibilidade, determinados tipos de ações, em razão de sua natureza peculiar, podem exigir pressupostos específicos, tal como ocorre com o mandado de segurança. Assim, o art. 10 da Lei n. 12.016/2009, ao dizer que «a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais…», está se referindo aos pressupostos específicos. Esse dispositivo autoriza o indeferimento da inicial quando, por exemplo, a impetração não se dirige contra autoridade pública, quando o impetrante não tem legitimidade, quando ocorre indicação errônea do legitimado passivo (autoridade coatora), quando o impetrante não junta a documentação suficiente para a prova dos fatos alegados, quando não indica ou qualifica o litisconsorte passivo necessário, quando a impetração é realizada depois de consumido o prazo decadencial (de 120 dias) e quando se ataca lei em tese. Nesses casos, o Juiz extingue o processo sem julgamento do mérito, sem analisar o direito alegado como fundamento da impetração.
Já quando o Juiz penetra na análise do direito em si (se apresenta ou não liquidez e certeza) aí ele está fazendo um exame do próprio mérito da ação (como fez a magistrada no presente caso). O exame quanto à existência (ou não) de direito amparado por mandado de segurança confunde-se com o próprio mérito, de forma que, não se vislumbrando o direito líquido e certo em uma determinada ação de mandado de segurança, deve o mesmo ser denegado e não extinto sem julgamento de mérito. Como explica Sérgio Ferraz:
«O direito líquido e certo é, a um só tempo, condição da ação e seu fim último. Assim, a sentença que negue ou afirme o direito líquido e certo realiza o próprio fim da ação; trata-se de uma decisão de mérito. Cuida-se de condição da ação não-ortodoxa, amalgamada com a própria finalidade da ação, condição não afinada integralmente aos cânones da lei processual. Por tudo isso, a sentença que nega a existência do direito líquido e certo é verdadeira decisão de mérito, e não, apenas, declaratória de inexistência de uma condição da ação. Deve ela, por conseqüência, concluir pela denegação do writ, e não pela extinção do processo sem julgamento do mérito»3.
O mesmo autor traz à colação julgado do TRF da 4ª. Região, que se coaduna com seu entendimento:
«Não há falar-se em carência da ação quando a base da alegação reside na ausência de direito líquido e certo a amparar, posto que isso constitui o mérito do próprio mandamus»4.
O Procurador Federal Kepler Gomes Ribeiro, que desenvolveu percuciente trabalho sobre a natureza e efeitos da sentença no mandado de segurança, após analisar as obras de todos os processualistas brasileiros que escreveram sobre o tema, concluiu que o «direito líquido e certo» do mandado de segurança não se enquadra dentre os pressupostos de admissibilidade. A sua ausência, por conseguinte, não dá ensejo à extinção do feito sem julgamento do mérito. Inexistindo a liquidez e certeza do direito, o mandamus deve ser denegado. Vejamos trecho do seu trabalho em relação a essa questão:
«De todos os conceitos trazidos, dos mais renomados juristas brasileiros, não se extrai, de nenhum sequer, a possibilidade de ser o direito líquido e certo um pressuposto processual, seja de existência, seja de validade. De forma que achamos que o mais recomendável é seguir esta linha de entendimento, descartando-se qualquer possibilidade de se tentar inserir o direito líquido e certo dentre tais pressupostos.
Vê-se, assim, que não se trata o direito líquido e certo verdadeiramente nem de uma condição da ação nem de pressuposto de admissibilidade, pois se o fosse, a sua falta redundaria em extinção do processo sem julgamento de mérito. Portanto, data vênia, a meu ver, não se pode afirmar ser a liquidez e certeza do direito uma condição da ação ou um pressuposto de admissibilidade.
(…)
Assim sendo, o mandamus pode ser denegado tanto sem apreciação como com apreciação de seu mérito, de forma que inexiste extinção sem ou com julgamento do mérito por estar ausente a liquidez e certeza do direito, pois, ausente este requisito, a ação mandamental é sempre resolvida por denegação, nunca por extinção»5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que não é possível o Juiz invocar fundamentos de mérito e indeferir a inicial do mandado de segurança, conforme comprova acórdão abaixo ementado:
«AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE ENTENDEU POSSÍVEL O INDEFERIMENTO DA INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA ANCORADO EM RAZÕES DE MÉRITO. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA.
1. É vedado ao magistrado, invocando razões de mérito, indeferir liminarmente a inicial do mandamus (art. 8º, da Lei n.º 1.533/51). Precedentes.
2. Agravo regimental improvido.»6
Em outro acórdão, o STJ deixou claro que o Juiz que assim procede, ou seja, indefere inicial de mandado de segurança utilizando fundamentos de mérito, impede o regular trâmite da ação e termina por obstaculizar o exercício da função do Ministério Público (como fiscal da lei):
«ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR. PREJULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 8º DA LEI 1.533/51. AGRAVO IMPROVIDO.
1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que é defeso ao relator indeferir liminarmente a inicial de mandado de segurança por razões de mérito, à míngua de se instaurar a relação processual e ouvir o Ministério Público, pois resta violado o art. 8º da Lei 1.533/51.
2. Agravo regimental improvido.»7.
Ainda:
«ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO SOBRE O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I – Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é defeso ao relator proferir decisão monocrática indeferindo liminarmente a petição de mandado de segurança por razões meritórias, sem, contudo, observar o regular trâmite processual. Precedentes.
II – Agravo interno desprovido.»8.
Esses acórdãos acima transcritos foram elaborados em face do art. 8º. da revogada Lei 1.533/51, mas servem como paradigmas tendo em vista que essa norma foi repetida no art. 10 da atual Lei 12.016/2009.
É importante esclarecer, ainda, que a decisão que faz análise de mérito e, mesmo assim, indefere a petição inicial, termina por subverter a ordem processual, com desrespeito a todo o conjunto de leis e princípios processuais estabelecidos. De fato, para analisar o mérito da impetração (quanto à existência de eventual direito do impetrante ou validade do ato impugnado), o magistrado está obrigado a instaurar a relação processual, observando o regular trâmite processual, com a notificação da autoridade coatora (art. 7º., I, da Lei 12.016/09), ciência ao representante do Ministério Público (para que pudesse opinar, nos termos do art. 12 da mesma Lei) e, finalmente, levado o processo para ser julgado pelo órgão Pleno do Colégio Recursal (nos termos do art. 8º., II, da Res. n. 01, de 02.12.99).
Ao invocar fundamentos de mérito e indeferir a petição inicial, o Juíz suprime o próprio direito de ação do impetrante. A denegação da segurança (rejeição do pedido com fundamentos de mérito) só pode ocorrer na fase própria, após cumprido o regular trâmite processual da ação mandamental (quando se oportuniza a defesa do ato pela autoridade coatora e o oficiamento do Ministério Público). Se o Juiz julga o mérito da ação, no limiar do processo (indeferindo a petição), não somente transgride todas as regras atinentes ao procedimento do mandado de segurança (especialmente o art. 1º., art. 7º., I, e art. 12, da Lei 12.016/09), como viola garantias e princípios processuais expressos na Constituição, como o do devido processo legal (art. 5º., inc. LIV), da ampla defesa (art. 5º., inc. LV), da inafastabilidade da jurisdição e do pleno acesso à Justiça (art. 5º., XXXIV, a, e XXXV) e do mandado de segurança para proteção de direitos líquidos e certos (art. 5º, LXIX).
Ao elaborar fundamentos de mérito e extinguir o processo no seu nascedouro, impedindo o regular trâmite da ação de segurança, sem oportunizar o oficiamento do representante ministerial, o juiz cerceia o exercício de função essencial à jurisdição, pois a atuação do Ministério Público é obrigatória no mandado de segurança (art. 12 da Lei 12.016/09). Ao impedir a participação do representante do Parquet na ação de segurança, o Juiz impede o exercício das funções institucionais desse órgão, violando, a um só tempo, os arts. 127 e 129 da Constituição Federal.
Hugo Nigro Mazzilli explica que a atuação do Ministério Público no processo civil desenvolve-se sob vários ângulos, podendo ser autor (p.ex., na ação civil pública), representante da parte (v.g., na assistência judiciária supletiva a necessitados), interveniente em razão da qualidade da parte (quando defende, p.ex., o incapaz, o indígena, o deficiente físico), mas que na ação de mandado de segurança sua presença se justifica como interveniente em razão da natureza da lide, desvinculado a priori dos interesses de quaisquer das partes9. Hely Lopes Meirelles também acentua essa desvinculação do Ministério Público dos interesses das partes, acentuando que ele é encarregado de fiscalizar a correta aplicação da lei e da regularidade do processo (o chamado custos legis). Nas suas palavras: o «Ministério Público é oficiante necessário no mandado de segurança, não como representante da autoridade coatora ou da entidade estatal a que pertence, mas como parte pública autônoma incumbida de velar pela correta aplicação da lei e pela regularidade do processo».
Portanto, em razão da independência funcional do Ministério Público, que deve intervir para zelar pela correta aplicação da lei e pela regularidade do processo, o Juiz não pode jamais analisar o mérito do mandado de segurança sem assegurar a participação do órgão ministerial (tal como previsto no art. 12 da Lei 12.016/09).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento, declarando nulas as decisões proferidas em mandado de segurança sem a intervenção do Ministério Público:
«PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – MINISTÉRIO PÚBLICO – INTIMAÇÃO – OMISSÃO – NULIDADE – LEI Nº 1.533/51, ART. 10.
– Consoante entendimento harmônico da Primeira Seção deste STJ, face o evidente interesse público, é obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações mandamentais, sob pena de nulidade do processo.
– Recurso conhecido e provido»10.
No mesmo sentido: EREsp 161968/DF, 3ª. Seção, Min. p/ ac. Felix Fischer, j. 24.09.03, DJ 24.11.04; REsp 948090/DF, rel. Min. Jorge Mussi, 5ª. Turma, j. 26.05.09, DJe 03.08.09.
Existe inclusive um acórdão unânime, da 5ª. Turma do STJ, que, atento à circunstância de que cabe ao MP a fiscalização da regularidade processual da ação de segurança, exige sua intervenção obrigatória, mesmo nos casos de indeferimento liminar do pedido, quando não ocorre a análise do mérito:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PLANO. LEI 1533/51, ART. 10.
1. É necessária a intervenção do Ministério Público em Mandado de Segurança, mesmo tendo sido indeferido de plano por insuficiência de provas, porquanto cabe ao órgão ministerial manifestar-se não somente sobre a matéria de mérito mas, também, acerca do cabimento da ação.
2. Recurso provido11.
Em seu voto condutor, o relator do acórdão transcrito acima, salientou que:
«Deve, o Ministério Público, manifestar-se sobre a impetração, opinando tanto em relação à matéria meritória, pela concessão ou denegação da ordem, como também, e preliminarmente, pelo cabimento ou descabimento, carência ou não da ação».
Como se observa, o Juiz não pode invocar argumentos de mérito e indeferir a petição do MS, sob pena de obstaculizar o exercício da função institucional do Ministério Público, a quem cabe fiscalizar a regularidade da relação processual no mandado de segurança.
Em boa parte dos casos, se constata que o Juiz comete esse erro, de indeferir a petição inicial com argumentos de mérito, porque faz uma confusão entre o que seja a prova do direito e a existência do direito (da sua liquidez e certeza).
Todavia, uma coisa é o pressuposto específico do mandado de segurança, de que a prova tem que ser pré-constituída. Isso significa que nenhum dos fatos da lide mandamental pode depender de complementação probatória. Assim, não pode haver, em sede de mandado de segurança, prova testemunhal, pericial ou de outra natureza que não seja estritamente documental. O processo de mandado de segurança é essencialmente documental. Todos os documentos, que comprovem os fatos que constituem a causa de pedir, devem ser previamente juntados pelo impetrante, já com a petição inicial, pois não se admite dilação probatória, no sentido de se conferir prazo ao impetrante para prova dos fatos alegados. Outra coisa, completamente diferente, é a existência do direito. O direito, para efeito de concessão de mandado de segurança, tem que ser «líquido e certo», isto é, um direito evidente, de fácil percepção pelo julgador, quando examina os fundamentos jurídicos do impetrante. Prova tem a ver com os fatos; liquidez e certeza são conceitos relacionados com o próprio direito.
A jurisprudência reconhece ser impossível o indeferimento do mandado de segurança, ao argumento de falta de prova-pré constituída, embora o relator se valha de argumento de mérito, sobretudo quando o impetrante requer a exibição de documentos que estejam em poder da autoridade coatora. Nesse sentido, o seguinte julgado:
EMENTA: Mandado de Segurança. Sentença de indeferimento da petição inicial com fundamento de mérito. É inviável o indeferimento de petição inicial de mandado de segurança mediante fundamento de natureza meritória, consistente na falta de prova dos fatos e do direito, especialmente quando requerida, pelo impetrante, a ordem de exibição de documentos prevista no parágrafo único do art. 6º da Lei nº 1.533/51. Cassa-se a sentença» (Apelação Cível n. 1.0313.07.237451-2/001, Relator Almeida Melo, j. 17/04/2008, p. 23/04/2008)
Em seu voto, o relator (Des. Almeida Melo) destacou o seguinte:
«Entendo que, quando do recebimento da petição inicial, a verificação da existência de ato praticado por agente público, que possa constituir ameaça ou lesão de direito não amparado por habeas corpus nem habeas data, deve ser realizada apenas com o intuito de afastar, de início, pleitos que não podem ser examinados pela via mandamental, por falta evidente dos seus pressupostos.
Mas, não é viável um controle sobre os elementos apresentados com o pedido, sob pena de se confundir as limitações processuais do mandado de segurança com o próprio mérito da impetração, sem que o rito previsto na Lei nº 1.533/51 seja observado, especialmente quanto à notificação da autoridade indicada coatora e à intimação e manifestação do Ministério Público.
Na espécie, a autoridade indicada coatora não foi notificada para a prestação de informações nem houve previamente à sentença a intimação do Ministério Público para se manifestar, em atendimento ao disposto nos arts. 7º, I, e 10 da Lei nº 1.533/51.
Logo, concluir, a teor da motivação da sentença em exame, que o pedido enseja instrução dilatória, sem atentar para o pedido de exibição de documentos contido na inicial, consubstancia análise de natureza meritória, de forma antecipada e contrária às disposições da Lei nº 1.533/51″.
Conclusões:
1ª.) Somente na ausência dos pressupostos de admissibilidade específicos do mandado de segurança, que são aqueles relacionados com os requisitos constitucionais do instituto e com as condições processuais previstas na lei específica, é que o Juiz está autorizado a proferir uma sentença extintiva sem julgamento do mérito, jamais quando conclui pela inexistência do direito do impetrante.
2ª.) Ao indeferir a petição do mandado de segurança com argumentos de mérito, provoca-se uma subversão da ordem processual. Para analisar o mérito da impetração (quanto à existência de eventual direito do impetrante ou validade do ato impugnado), o magistrado está obrigado a instaurar a relação processual, observando o regular trâmite processual, com a notificação da autoridade coatora (art. 7º., I, da Lei 12.016/09) e ciência ao representante do Ministério Público (para que possa opinar, nos termos do art. 12 da mesma Lei).
3ª. ) Ao elaborar fundamentos de mérito e extinguir o processo no seu nascedouro, impedindo o regular trâmite da ação de segurança, sem oportunizar o oficiamento do representante ministerial, o juiz cerceia o exercício de função essencial à jurisdição, pois a atuação do Ministério Público é obrigatória no mandado de segurança (art. 12 da Lei 12.016/09).
4ª.) Em boa parte dos casos, constata-se que o Juiz comete esse erro, de indeferir a petição inicial com argumentos de mérito, porque faz uma confusão entre o que seja a prova do direito e a existência do direito (da sua liquidez e certeza).
1 Esse artigo tem a seguinte redação: «A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração».
2 Do Mandado de Segurança, 11ª. edição, Forense, p. 49.
3 Mandado de Segurança (Individual e Coletivo) – Aspectos Polêmicos. Malheiros Editores. São Paulo, 1992.
4 AMS 89.04.18601-3 PR, DJU 7/2/90.
5 Direito líquido e certo no mandado de segurança. Natureza jurídica e efeitos da sentença que reconhece sua inexistência, trabalho elaborado em 03.2002, publicado na Revista Jus Navigandi.
6 AgRg no REsp nº 664714/MG, relator o Ministro Castro Meira, DJ de 19.12.2005, p. 338.
7 AgRg no Ag nº 872747/DF, relator o Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJ de 22.10.2007, p. 362.
8 AgRg no RMS nº 20522/AL, relator o Ministro Gilson Dipp, DJ de 03.04.2006, p. 372.
9 Atuação do Ministério Público no processo civil, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, p. 43-75.
10 REsp 153503/SP, rel. Min. Francisco Peçanha Martins, 2ª. Turma, j. 09.05.00, DJ 12.06.00.
11 REsp 378867/RS, rel. Min. Edson Vidigal, 5ª. Turma, j. 05.03.02, DJ 01/04/2002 p. 209.
Da ação de revisão de contrato bancário
DA AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – Algumas questões processuais
Sumário:
- Considerações iniciais.
- Impossibilidade da cumulação de pedidos de declaração de nulidade de cláusulas com o de acertamento econômico do contrato.
- Obrigatoriedade de juntada do contrato com a inicial e indicação dos fundamentos de nulidade das cláusulas.
- Incabível tutela antecipada (ou qualquer forma de provimento liminar no bojo da ação revisional) para compelir o banco a juntar contrato.
- O simples ajuizamento de ação revisional não autoriza a retirada do nome do autor de banco de dados de proteção ao crédito.
- Ação de revisão não impede liminar na busca e apreensão.
- Valor da causa na ação revisional.
- Impossibilidade de revisão de contratos anteriores no âmbito dos embargos do devedor.
- Ajuizamento de ação revisional não suspende execução.
- Conexão da ação de revisão de contrato bancário com os embargos à execução.
- Conexão entre execução, ajuizada perante a Justiça Comum, e ação ordinária de revisão do contrato habitacional, junto à Justiça Federal.
- 12. Conclusões.
1. Considerações iniciais
As ações de revisão de contratos bancários tornaram-se cada vez mais corriqueiras nas varas cíveis da Justiça comum, consumindo boa parte do trabalho jurisdicional nessas unidades judiciárias. As demandas entre bancos e seus clientes representam um percentual elevado das causas que são processadas perante as varas cíveis, mas, dentre as ações do gênero, certamente as de revisão de contrato bancário são as que têm emergido em maior número.
O problema é que nesse tipo de ação os autores passaram a requerer o acertamento econômico dos contratos ainda durante o processo de conhecimento, o que exigia quase sempre a realização de perícia contábil. A perícia, que é uma prova excepcional e de maior complexidade, estava se tornando regra nesses processos, encompridando o procedimento judicial mais do que o necessário e tornando demorado o resultado final. Além disso, a realização de perícia para se chegar ao quantum devido na relação financeira entre as partes, quando feita pelo Juiz monocrático ainda durante o processo de conhecimento, se mostrou altamente contra-producente, pois não deve ser realizada antes de haver uma definição final sobre as cláusulas e índices válidos do contrato, o que somente se estabelece depois do julgamento da apelação e, em muitos casos, depois de julgados recursos enviados a tribunais superiores. O que se verificou foi que era anti-econômico o Juiz de primeiro grau determinar a realização de perícia, segundo seus próprios critérios, antes de uma definição dos tribunais sobre os parâmetros do cálculo da dívida. A perícia, com a finalidade de se apurar o valor devido, somente deve ser realizada em eventual fase de execução, quando definidos em última instância no processo de conhecimento (na ação ordinária de revisão) os parâmetros para o cálculo. Se o Juiz determina a realização de uma perícia e confirma na sentença o valor nela encontrado, ele não terá qualquer valia se os parâmetros para realização do cálculo não forem confirmados no tribunal. Havendo qualquer reforma da decisão, acerca das cláusulas e condições que determinaram o cálculo, ainda que em parte não substancial, perde-se o trabalho contábil realizado, sendo necessária nova perícia quando os autos retornarem para execução. Além disso, a prática demonstrou que, em muitos casos, nem sequer é necessária a realização de perícia prévia, pois, após definidos os parâmetros do cálculo em decisão final (no processo de conhecimento), o credor, por ocasião da apresentação do cálculo aritmético que elabora junto com a inicial de sua execução, em forma de planilha contendo memória discriminada e atualizada, observa e toma por base os parâmetros já então definidos na sentença do processo de conhecimento.
Para evitar, portanto, a realização desnecessária de perícia ainda durante o processo de conhecimento, um grupo de juízes das varas cíveis do Recife passou a firmar o entendimento de que, nas iniciais de ações de revisão de contrato bancário, o autor não pode cumular pedidos de declaração de nulidade de cláusulas com o de acertamento do contrato. Tal posicionamento, embora fundamentado na regra que afasta a cumulação de pedidos quando ocorra incompatibilidade procedimental (art. 292, par. 1o., I e III), atendeu essencialmente a uma questão de política judiciária, pois a perícia, que é uma prova complexa e demorada, estava se tornando regra nas varas cíveis, nas mais das vezes sendo realizadas quando não havia necessidade ou em momento inoportuno da fase processual, comprometendo o regular funcionamento dessas varas em virtude do número exagerado de ações de revisão de contratos bancários que costumam receber.
Outro problema que também estava ocorrendo nas varas cíveis é que certos advogados simplesmente insistiam em repetir teses jurídicas, distribuindo petições de ações de revisão de contrato bancário sem sequer juntar o instrumento contratual. Essa prática também começou a ser combatida por alguns juízes de varas cíveis de Recife – dentre os quais me incluo -, que passaram a exigir, como condição de procedibilidade para esse tipo de ação, a juntada prévia do instrumento do contrato que se pretende revisar, com a indicação minuciosa das cláusulas cuja nulidade se requer. Os advogados, como se disse, estavam se limitando a reproduzir teses jurídicas, sem apontar, no caso concreto, a fonte contratual da abusividade ou ilegalidade justificadora da revisão ou diminuição dos encargos financeiros contratados. A jurisprudência que se consolidou em seguida exige como condição, para que o Juiz possa, no provimento declaratório sentencial, nulificar cláusulas contratuais com fundamento na abusividade, que «a petição da ação de revisão deve ser instruída com cópia do contrato bancário, devendo o autor apontar uma a uma as cláusulas que entende abusivas, juntando, quando for o caso, demonstrativo da evolução da dívida e da efetiva ocorrência de práticas ilegais, sob pena de ser indeferida»[1].
Essas são apenas algumas teses cujos fundamentos são expostos no presente artigo, que, entretanto, não se limita somente a essas já referidas, pois aproveitamos o tema das questões processuais em torno das ações de revisão de contratos bancários para dissecar muitos outros pontos, a exemplo da possibilidade de manutenção do nome do autor em cadastros de restrição ao crédito, do não impedimento de liminar em ação de busca e apreensão em face da distribuição da ação revisional, do valor da causa em ação de revisão de contrato bancário, da sua conexão com ação de execução, só para citar alguns.
2. Impossibilidade da cumulação de pedidos de declaração de nulidade de cláusulas com o de acertamento econômico do contrato
Como já mencionado antes, na introdução a este artigo, o Juiz não deve conhecer, nas ações de revisão de contrato bancário, de pedido de repetição de indébito ou qualquer outro que implique em acertamento econômico do contrato, cumulado com o pedido de declaração de nulidade de cláusulas contratuais.
Com efeito, o pedido de repetição de indébito pressupõe uma definição quanto à existência (ou não) de saldo credor ou devedor, uma vez expurgados os encargos indevidos. A definição do saldo final do débito/crédito do autor, expurgados que sejam os encargos contratuais abusivos, importa na necessidade da realização de diversos outros atos processuais – inclusive a realização de perícia – não indispensáveis ao exame do pedido simplesmente declaratório. A complexidade e diversidade dos atos processuais necessários para conhecer do pedido de liquidação do contrato, na sua expressão econômica, recomendam a sua não cumulação com outros pedidos contidos na ação de revisão de contrato bancário. Sempre que a cumulação de pedidos possa ensejar tumulto, delongas desnecessárias ou desordem na realização de atos processuais a cumulação de pedidos deve ser evitada, em respeito ao princípio da economia processual.
Julgando caso sobre a cumulação desses pedidos, o Dr. Fábio Eugênio de Oliveira, Juiz da 28a. Vara Cível, alertou para o fato de que não é recomendável, no procedimento ordinário, a admissibilidade de pedido de acertamento econômico de contrato bancário, pois a liquidação de contrato tem verdadeira natureza de prestação de contas, ação de procedimento especial. Veja-se o que disse o referido Juiz a respeito da inviabilidade da cumulação do pedido de acertamento econômico na mesma ação em que se pede a revisão e declaração de nulidade de cláusulas de contrato bancário:
«Conhecer esse pedido, que passa pela análise dos lançamentos diários (durante os anos de vigência dos contratos impugnados), eternizará este processo. Ora, o acertamento econômico dos contratos bancários, com a determinação do quantum debeatur ou, eventualmente, o saldo credor, desafia ação de prestação de contas. Essa ação, frente ao seu procedimento especial e adequado, permitirá, sem maiores atropelos, liquidar os contratos em discussão, como quer a autora.
De observar, com ênfase, que a pretensão da autora, com esse pedido, assume ante as circunstâncias do crédito ser rotativo, caráter de prestação de contas, ao menos indireta. Impossível a cumulação da ação declaratória com a de prestação de contas face à diversidade de ritos. A adoção do rito ordinário para ambos os pedidos tumultuará o iter procedimental.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
«CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. NULIDADE DE CONTRATO. INEXIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO E PRESTAÇÃO DE CONTAS. INADMISSIBILIDADE EM RELAÇÃO A ESTA ÚLTIMA.
De feições complexas e comportando duas fases distintas, inadmissível é a cumulação da ação de prestação de contas com as ações de nulidade de contratos e declaratória de inexigibilidade de títulos, por ensejar tumulto e desordem na realização dos atos processuais. Precedentes da Quarta Turma (REsp 190.892-SP, rel. Min. Barros Monteiro).
PROCESSO CIVIL. CUMULAÇÃO DE AÇÕES DECLARATÓRIA E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INADMISSIBILIDADE.
I- O instituto de cumulação de ações, que no sistema processual vigente dispensa a ocorrência de conexão, funda-se no princípio da economia e tem o indisfarçável propósito de impedir a proliferação de processos.
II- Inadmite-se a cumulação simples se há incompatibilidade da via procedimental, a ensejar tumulto e desordem na realização dos atos (REsp n. 2.267-Rio Grande do Sul, rel. Min. Sálvio de Figueiredo)».
O mesmo magistrado ainda ressalta a impossibilidade de cumulação de pedidos argumentando que o pedido de declaração de nulidade das cláusulas deve preceder o de acertamento econômico do contrato:
«A impossibilidade da cumulação pretendida é, ainda, imperativo de ordem lógica. A definição do saldo devedor ou credor pressupõe, como antecedente natural, a declaração das nulidades apontadas. A falta de certeza quanto à validade ou não das cláusulas contratuais impede que, num mesmo processo, ocorra o acertamento econômico dos contratos».
Realmente, a definição do quantum debeatur deve ficar para fase pré-executória, de liquidação de sentença ou mesmo com a apresentação do cálculo aritmético que o exeqüente do crédito eventual deverá elaborar junto com a inicial de sua execução, em forma de planilha contendo memória discriminada e atualizada do cálculo, que deverá observar e tomar por base os parâmetros já definidos na sentença do processo de conhecimento.
3. Obrigatoriedade de juntada do contrato com a inicial e indicação dos fundamentos de nulidade das cláusulas.
Como também já se mencionou anteriormente, não é difícil ocorrer de o autor pedir a revisão de contrato bancário de financiamento, ao fundamento de abusos e irregularidades cometidas pelo banco, como, por exemplo, cobrança de juros capitalizados (anatocismo), a exigência de correção monetária de forma cumulada com a comissão de permanência, entre outras, tudo isso sem apresentação do contrato cujas cláusulas se pretende revisar, geralmente com a alegação de que não teve acesso ao instrumento contratual em face da recusa de apresentação por parte da instituição bancária demandada.
Nesses casos, a ação peca pela inépcia da inicial, pois lhe falta causa de pedir. Com efeito, se o próprio autor confessa que não teve acesso aos contratos e nem sequer instrui a ação com qualquer extrato bancário que possa, por meio de uma apresentação descritiva da evolução da relação contratual, isto é, por meio da apresentação da dinâmica dos créditos e débitos, comprovar a existência das ilegalidades apontadas, ele não tem causa de pedir.
Ora, sem ter sequer conhecimento do conteúdo do contrato que imputa eivado de ilegalidades, não pode requerer prestação jurisdicional voltada à revisão desses mesmos contratos. Somente conhecendo o teor do contrato é que a parte pode pedir sua revisão ou anulação de algumas de suas cláusulas. Diante do exame das cláusulas do contrato, é que o autor pode afirmar se há alguma contrariando a Constituição (e as leis), no que concerne à fixação dos juros e outros encargos financeiros. Por outro lado, se o correntista está presumindo (ou mesmo sentindo) o efeito de práticas bancárias abusivas, somente por meio do exame da evolução da dinâmica (créditos e débitos) efetivamente registrada nos extratos de conta-corrente, é que elas podem ser constatadas, abrindo-se o caminho, assim, para que venha a juízo tentar coibi-las.
Deixar-se que o contratante venha a juízo pedir a revisão de contrato cujo conteúdo sequer conhece implica em admitir ação judicial sem causa de pedir, como se disse antes. A causa de pedir, como se sabe, constituiu o fundamento fático, o ato concreto ocorrido no mundo dos fatos que, atingindo a órbita de direitos do autor e sendo contrário ao Direito, o legitima a vir a juízo reclamar o restabelecimento à situação original ou alguma forma de reparação. Se a ação não tem (como causa de pedir) um fato concreto e certo, pois o autor apenas presume a ocorrência de ilegalidades, o que fica claro é que ele, em sua petição inicial, simplesmente reproduz teses jurídicas que reiteradamente têm sido discutidas nos pretórios, como, p. ex., a questão da cobrança de juros capitalizados (anatocismo) e cumulação de correção monetária com taxa de permanência. Não sabe, no entanto, se no seu contrato em particular e na sua relação com o banco essas práticas foram efetivamente implementadas e qual a repercussão delas em termos de eventual acertamento do contrato.
Examinando essa questão (no Proc. n. 001.2003.057442-1), o Dr. Fábio Eugênio de Oliveira, Juiz da 28a. Vara Cível da Capital, assentou na ementa de sua decisão:
«AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. CORRENTISTA QUE DESCONHECE O CONTEÚDO DO CONTRATO. INÉPCIA DA INICAL À MÍNGUA DE CAUSA DE PEDIR SÉRIA E CONSISTENTE.
Se o correntista desconhece o que contratou, porque não teve acesso ao instrumento da avenca, a demanda que tem como principal causa de pedir a nulidade de disposições contratuais apresenta-se como lide temerária ou, no mínimo, imprudente».
A ementa acima transcrita serve de precedente, levando à extinção de qualquer feito em situação idêntica por inépcia da inicial, em razão da inexistência de causa de pedir. Admitir o prosseguimento de ação eivada de tal vício, sem fundamento fático, é o mesmo que permitir o processamento uma lide temerária ou, para utilizar as palavras do Dr. Fábio Eugênio, é o mesmo que permitir ao autor «litigar no escuro». Por oportuno, transcrevo trecho da decisão do referido magistrado quando reverbera contra esse tipo de lide temerária:
«Se o correntista desconhece o que contratou, porque não teve acesso ao instrumento da avença, a demanda que tem como principal causa de pedir a nulidade de disposições contratuais apresenta-se como lide temerária ou, no mínimo, imprudente. De fato, não se compreende como a autora pode afirmar que há cláusula contratual transgredindo o ordenamento jurídico no que concerne à fixação de juros, a que possibilita a prática do anatocismo, a que estabelece multa acima do legalmente permitido, a que prevê a incidência de correção monetária cumulada com comissão de permanência, se não tem ciência do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente. Litiga «no escuro», firme na esperança do Judiciário encontrar qualquer nulidade nos critérios adotados para a formação e evolução de seu débito. Conhecendo o contrato, a parte poderá indicar seriamente as disposições contratuais cuja revisão ou anulação pretende».
Levando em consideração essas circunstâncias, o Fórum dos Juízes das Varas Cíveis de Pernambuco emitiu o Enunciado n. 34, com a seguinte redação:
«A petição da ação de revisão deve ser instruída com cópia do contrato bancário, devendo o autor apontar uma a uma as cláusulas que entende abusivas, juntando, quando for o caso, demonstrativo da evolução da dívida e da efetiva ocorrência de práticas ilegais, sob pena de ser indeferida» (maioria).
4. Incabível tutela antecipada (ou qualquer forma de provimento liminar no bojo da ação revisional) para compelir o banco a juntar contrato
Não é incomum de o autor de uma ação de revisão de contrato bancário, sob a alegação de que não teve acesso ao instrumento contratual em face da recusa de apresentação por parte da instituição bancária demandada, formular pedido de tutela antecipada parcial a fim de compelir esta última a trazer aos autos o referido instrumento.
Esse tipo de pedido, no entanto, não pode ser atendido no bojo de uma ação revisional. Tal providência há de ser requerida em processo próprio – de natureza cautelar, preparatório à ação de revisão. Não seria o caso sequer de se deferir como medida cautelar incidental o pedido de tutela antecipada – não é incomum de o autor requerer a esse título que seja ordenado ao banco a apresentação dos contratos, invocando o par. 7o. do art. 273, do CPC. É certo que tal dispositivo (novidade incluída pela Lei 10.444/02) prevê a fungibilidade entre esses dois institutos, até porque nem sempre é fácil distinguir entre tutela antecipada e medida cautelar. Mas essa adaptação não é aplicável a todos os casos, estabelecendo, o citado dispositivo, a condição de que «poderá o Juiz» adotá-la «quando presentes os respectivos pressupostos». A regra da fungibilidade, portanto, fica submetida à avaliação do magistrado das condições para adotá-la. Não se trata de um direito processual subjetivo e automático da parte (autora). No caso de ação revisional de contrato bancário, em especial, não é possível o deferimento do pedido de apresentação de documentos como providência de natureza cautelar incidental, porque isso implicaria no comprometimento da relação processual e, por conseqüência, da própria prestação jurisdicional. Explico: é que o pedido do autor, no que tange à questão de fundo, já foi formulado com suporte na exposição de teses jurídicas que desenvolveu ao longo de sua peça inicial. Com a chegada de novos documentos, cujo teor ainda não se conhece, ele teria que ajustar o seu pedido às novas provas produzidas no processo, desmantelando toda a ordem processual, o que, evidentemente, não pode ser admitido. Com efeito, o autor teria que, a partir daí, ajustar o seu pedido a uma efetiva e concreta causa de pedir, consistente em eventuais abusos efetivamente comprovados nos novos documentos, não somente modificando teses jurídicas e incluindo outras, como também possivelmente modificando o próprio pedido.
Evidentemente, não há como permitir que o processo se desvirtue a esse ponto. Aquele que pretende a revisão de um contrato bancário, e não tendo acesso a ele, tem que previamente se valer de uma providência de natureza cautelar, através da qual se lhe confira o conhecimento antes negado ao instrumento e outros documentos e, assim, em face de fatos jurídicos efetivamente ocorridos (causa de pedir), formular sua pretensão em juízo. O que não pode é litigar com base em eventualidades.
Confirmando esse entendimento, o Fórum dos Juízes das Varas Cíveis de Pernambuco publicou o Enunciado n. 35, com o seguinte texto:
«Não cabe tutela antecipada, em ação revisional, para forçar o banco a apresentar o contrato, pois a juntada desse documento com a inicial é pressuposto da ação e dele depende a existência da causa de pedir e a própria formulação do pedido» (maioria).
5. O simples ajuizamento de ação revisional não autoriza a retirada do nome do autor de banco de dados de proteção ao crédito
Geralmente, o autor de uma ação de revisão de contrato de financiamento bancário requer o deferimento de liminar, para suspender a inscrição do seu nome em banco de dados e sistema de proteção ao crédito. O argumento costuma ser o de que a permanência da inscrição pode lhe trazer prejuízos irreparáveis, decorrentes da restrição do crédito.
Muitos juízes costumam deferir automaticamente esse tipo de proteção judicial, em face de antiga jurisprudência, inclusive do STJ, apontando a abusividade da restrição cadastral enquanto a dívida está pendente de discussão em juízo. Reiteradas são as decisões judiciais que seguem esse entendimento, por vislumbrar como justa e jurídica a prevenção do cometimento de prejuízo creditício a devedores que discutem o montante da dívida em juízo.
Segundo a antiga jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, «constitui constrangimento e ameaça, vedados pela lei nº 8.078/90, o registro do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito, quando o montante da dívida é ainda objeto de discussão em juízo». Com base nesse fundamento nuclear, a Justiça vem concedendo liminares, em processos cautelares ou mesmo em forma de antecipação de tutela, ajuntando a consideração de que «inexiste perigo de dano no fato de impedir-se que o credor, a fim de resguardar seu crédito, inscreva o nome do devedor no SPC ou SERASA», mas o contrário não se aplica ao devedor, pois «há risco de dano irreparável (ou de difícil reparação), tendo em vista as repercussões provocadas por eventual restrição cadastral» (Medida Cautelar nº 2932 – 27.07.00)
Mesmo antes de haver uma modificação dessa jurisprudência, já defendíamos que era preciso buscar a sua exata compreensão e sentido prático, sob pena de se favorecer devedores de má-fé e outros que buscam se utilizar do processo para procrastinar o adimplemento de obrigações validamente assumidas. Tem sobrado casos de pedidos de liminares para impedir ou retirar restrição cadastral, sem o oferecimento de garantias mínimas para o pagamento da dívida.
Assim, passamos a afirmar que a jurisprudência do STJ só devia ser adotada nos casos em que a dívida estivesse garantida, seja no processo de conhecimento ou cautelar através de depósito da quantia, seja no processo de execução por meio da penhora de bens do devedor. O que não deve ser admitido é a concessão de liminar para retirar o registro no sistema de proteção ao crédito, ao só argumento de que o simples ajuizamento de uma ação já torna a dívida discutível e, por isso, não deve permanecer a restrição até que haja um pronunciamento judicial definitivo (quanto à sua existência e extensão). Se somente isso for suficiente, a simples distribuição de uma petição desnuda de argumentos e elementos justificaria o cancelamento, pois, a partir do ingresso em juízo, a dívida já teria se tornado litigiosa. É preciso, pois, que o pagamento da dívida esteja garantido, demonstrando a boa-fé do devedor e sua real intenção quanto ao cumprimento da prestação, para que se lhe possa deferir o benefício processual da retirada provisória do seu nome de bancos de dados de consumo. De outra maneira, tal benefício se transformaria em uma moratória da dívida, em uma espécie de concordata – benefício só concedido a comerciantes que satisfazem uma série de requisitos – às avessas, pois, contando com a reconhecida morosidade da máquina judiciária, que pode demorar anos para oferecer um pronunciamento definitivo (inclusive com a possibilidade de a causa ascender às instâncias extraordinárias), na prática o resultado seria uma suspensão do prazo para pagamento da dívida, até quando (e se), a final, for confirmado veredicto favorável ao credor.
Se o devedor argumenta com a cobrança excessiva, além do montante devido, é imprescindível que forneça elementos de convicção ao Juiz. Mesmo no processo cautelar ou na fase preliminar de antecipação da tutela no processo de conhecimento, o Juiz não se exime de fazer uma cognição prévia, embora superficial do Direito em litígio. Conquanto o campo de instrução no momento de apreciar uma liminar seja restrito, o magistrado concentra seu objetivo na tarefa de examinar a viabilidade jurídica da tese e a probabilidade de ocorrência dos fatos. Por isso, o devedor tem que supri-lo de alguma maneira com indicativos da plausibilidade do direito invocado, o que geralmente se faz por meio da entrega de uma planilha ou memória discriminada de cálculo, contendo a evolução da dívida, os critérios de correção e índices adotados, de modo a chegar ao valor devido. É com base nessa planilha ou esboço de cálculo, demonstrativa da tese jurídica, que o devedor tem que requerer o depósito da dívida e o correspondente benefício da suspensão da inscrição no banco de dados.
Sem oferecer esses elementos, o que prevalece é a presunção de legitimidade da dívida no montante tal qual está sendo cobrada pelo credor, pois decorrente de contrato escrito. A simples alegação de que o contrato envolve cobrança de juros e taxas ilegais, sem o respectivo suporte indicativo da cobrança ilegal, não é o bastante para que o magistrado desconsidere a segurança jurídica de um contrato escrito, o qual, em fase de cognição superficial, é que tem de prevalecer.
Se o autor de uma ação revisional reconhece estar inadimplente, alegando porém que a dívida foi inflada por meio da cobrança de juros e taxas ilegais, mas nem sequer a parcela não controversa, o montante originário da dívida, pede para depositar, carece da boa-fé própria dos devedores que anseiam por honrar seus compromissos em bases justas. Nessas circunstâncias, não se lhe pode deferir o benefício pretendido, devendo permanecer o registro cadastral, legítimo direito do credor.
Nesse sentido é o Enunciado n. 20 do Fórum dos Juízes das Varas Cíveis de Pernambuco, verbis:
«A retirada do nome do devedor de banco de dados pressupõe que este deposite a parcela incontroversa da dívida, não sendo suficiente o mero ajuizamento de ação revisional» (unânime).
A jurisprudência atual do STJ também é no sentido de que a inscrição do nome do devedor nos cadastros, quando a dívida está sendo discutida judicialmente, só deve ser impedida se demonstrado o efetivo reflexo da ação revisional sobre o valor do débito – e desde que seja depositada ou prestada caução sobre o valor a respeito do qual não há controvérsia. Esse entendimento ficou registrado recentemente pela sua Quarta Turma, em processo relatado pelo Ministro Barros Monteiro. No caso julgado, a Turma ressaltou que o impedimento do registro deve ser aplicado com cautela, considerando-se as especificidades de cada caso. Para que seja impedida a inscrição do nome do autor de ação de revisão em bancos de dados, é imprescindível que ele demonstre o efetivo reflexo da ação revisional sobre o valor do débito e deposite ou preste caução sobre o valor incontroverso. O Ministro Barros Monteiro ainda destacou que, para impedir a negativação do nome do autor nos serviços de restrição ao crédito, é necessária a presença concomitante de três elementos:
a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito;
b) que haja efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;
c) que, sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado, o valor referente à parte tida por incontroversa (em notícias no site do STJ de 02.01.06).
6. Ação de revisão não impede liminar na busca e apreensão
Também é muito comum de o autor requerer tutela antecipada com o objetivo de ser mantido na posse de bens dados em garantia fiduciária, até o julgamento definitivo da ação revisional.
Como regra, argumenta que, com a discussão judicial do débito através da ação revisional, resta ilíquida sua obrigação e descaracterizada a mora, o que justifica o deferimento de tal provimento, para manter-lhe na posse do bem alienado fiduciariamente até que sobrevenha decisão de mérito na ação. Esse argumento é em geral complementado por outro, no sentido de que a permanência na posse do bem não traz nenhum prejuízo para o banco réu, pois continua a existir a garantia do contrato, ficando ele (autor) como fiel depositário da coisa, com o dever de zelar por ela e impedido de vendê-la a terceiros. Já uma decisão em contrário, isto é, que permita a apreensão e transferência da posse para o banco, confere a ele o direito de vender o bem a terceiros, independentemente de leilão ou qualquer outra medida judicial, e, mesmo que a decisão final da causa lhe seja desfavorável (ao banco), não terá (ele, autor) como reverter essa situação.
Acrescenta-se, ainda como argumento para a manutenção da posse, que o bem objeto do contrato constitui sua principal fonte de renda (do autor) e que depende dele para o prosseguimento de suas atividades empresariais.
Existem, é certo, uma série de arestos que no sentido de que o ajuizamento da ação revisional retira o caráter de liquidez da dívida, descaracterizando a mora do devedor e, por conseqüência, impedindo a utilização (pelo credor) da busca e apreensão. Destaco, dentre eles, um do Tribunal de Santa Catarina, de seguinte teor:
«Busca e apreensão. Cobrança excessiva de encargos. Mora não caracterizada. Alienação fiduciária. Constituição irregular. Extinção do processo principal.
A cobrança abusiva de encargos pelo credor-fiduciário, dificultando sobremaneira o pagamento da dívida, retira do devedor-fiduciante a culpa pelo inadimplemento, descaracterizando a mora debitoris, sem a qual não se admite ação de busca a apreensão prevista no Decreto-Lei n. 911/69.
A alienação fiduciária não pode servir de garantia a contrato ilíquido e incerto, pois do contrário sujeitaria o devedor-fiduciante à perda do bem alienado em decorrência de cálculos elaborados unilateralmente pela parte adversa»
(AI n. 01.012117-4, rel. Des. Pedro Manoel Abreu).
Essa orientação jurisprudencial, de que a discussão dos encargos contratuais em juízo reflete de modo a tornar a dívida incerta, repercutiu no próprio STJ, de onde emanaram algumas decisões no mesmo sentido, como se observa:
«A cobrança de acréscimos indevidos importa na descaracterização da mora, de forma a tornar inadmissível a busca e apreensão do bem (2ª Seção, EREsp n. 163.884/RS, Rel. p/ acórdão Min. Ruy Rosado de Aguiar, por maioria, DJU de 24.09.2001). Carência da ação. Recurso especial conhecido e parcialmente provido (STJ-4a. Turma, REsp 493379-RS, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 19.02.04, DJ 22.03.04).
Entretanto, essa posição sofre contestações naquela Corte superior, como revelam os acórdãos abaixo ementados:
«Ação de busca e apreensão. Ação declaratória. Suspensão do processo de busca e apreensão. Precedente da Corte.
1. Precedente da Corte assentou que o «simples ajuizamento de uma ordinária de revisão não tem o condão de impedir o curso normal da ação de busca e apreensão, com a liminar correspondente, certo que houve a necessária constituição em mora» (REsp nº 192.978/RS, da minha relatoria, DJ de 09/8/99).
2. Recurso especial conhecido e provido (STJ-3a. Turma, REsp 402580-MS, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j.10.09.02, DJ 04.11.02). No mesmo sentido: Ação de busca e apreensão. Mora do devedor. Liminar. Ações revisional e de sustação de protesto anteriormente ajuizadas. Embargos de declaração. Prequestionamento. Precedente da Corte. (…)
3. O simples ajuizamento de uma ordinária de revisão não tem o condão de impedir o curso normal da ação de busca e apreensão, com a liminar correspondente, certo que houve a necessária constituição em mora, como assentado em precedente da Corte.
4. Recurso especial conhecido e provido (STJ-3a. Turma, REsp 192978-RS, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 24.06.99, DJ 09.08.99).
O Tribunal de Justiça de Pernambuco se pronunciou recentemente sobre essa matéria, assentando em ementa:
«DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FACE DA INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – IMPOSSIBI6LIDADE – PROCEDIMENTO EXECUTIVO LATO SENSU DO DECRETO LEI 911/66, QUE NÃO PODE SER SOBRESTADO PELA MERA PROPOSITURA DE AÇÃO ORDINÁRIA – POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA INVERSO – AGRAVO IMPROVIDO À UNANIMIDADE DE VOTOS (TJPE-4a. Câmara Cível, Proc. n. 0086698-8, Agravo de Instrumento, rel. Des. Eloy D´Almeida Lins, ac. un., j. 09.06.04).
Essa última corrente, realmente, é a que expressa a melhor solução ao problema da concomitância da ação de revisão do contrato com a ação de busca e apreensão. Ao contrário de perder a liquidez, a dívida representada pela obrigação assumida contratualmente permanece válida enquanto não reconhecida, no procedimento mais largo, de cognição plena (a ação ordinária de revisão contratual), a abusividade da cobrança das parcelas financiadas e fixado exatamente o quantum que deve ser diminuído do valor exigido. O «fumus boni juris» permanece com o credor fiduciante, que tem a seu favor um contrato devidamente formalizado, podendo se utilizar dos instrumentos legais para reaver o bem dado em garantia ao pagamento da dívida. Num momento inicial, o que prevalece é a presunção de legitimidade da dívida no montante tal qual está sendo cobrada pelo credor, pois decorrente de contrato escrito. A simples alegação de que o contrato envolve cobrança de juros e taxas ilegais não é o bastante para que o magistrado desconsidere a segurança jurídica de um contrato escrito, o qual, em fase de cognição superficial, é que tem de prevalecer.
Se, na ação ordinária, ficar reconhecido que o autor pagou mais do que devia, a própria sentença pode determinar a restituição ou, se de conteúdo meramente declaratório, pode ser buscada em outra ação a repetição do indébito. Além disso, o direito do autor de permanência na posse do veículo financiado não fica irremediavelmente prejudicado ante a simples possibilidade da ameaça de promoção da ação de busca e apreensão. Quando esta for de fato promovida, pode realizar a purga da mora das prestações em atraso, desde que o faça obedecendo aos valores fixados no contrato. Eventuais abusos e ilegalidades na cobrança de juros e outras taxas contratuais podem ser reprimidos pelo Juiz no próprio procedimento da busca e apreensão, sabendo-se que ele tem o poder de, ao autorizar a purga da mora, ajustar o contrato aos termos da lei, definindo os parâmetros para elaboração do cálculo[2]. Com efeito, na ação de busca e apreensão (Dec. Lei nº 911/69), o juiz, ao autorizar a purgação da mora, pode, de ofício, ajustar o contrato de alienação fiduciária aos termos da lei e do Código de Defesa do Consumidor, firme no princípio de que são de ordem pública as normas que disciplinam os contratos que consubstanciam relação de consumo (art 1º CDC). Neste sentido, são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (RESP nº 90162/RS, AGEDAG 151689/RS e AGRG 506.650/RS).
Com essas considerações, temos negado pedido de tutela antecipada para manutenção da posse do autor de ação revisional sobre o bem financiado. A propósito do tema, o Fórum dos Juízes das Varas Cíveis de Pernambuco emitiu o Enunciado n. 26, de teor seguinte:
«O simples ajuizamento de uma ação ordinária de revisão do contrato de alienação fiduciária não tem o condão de impedir o curso normal da ação de busca e apreensão, com a liminar correspondente».
Ressalte-se que, mesmo que se trate de ação consignatória (e não ação revisional), o ajuizamento dela também não prejudica liminar em ação de busca e apreensão. O devedor pode até tentar através desse tipo de ação evitar a perda da posse do bem alienado fiduciariamente, mas o deferimento inicial (pelo Juiz) do depósito das parcelas vencidas não implica na eliminação da mora, não tornando, portanto, inviável a liminar de busca e apreensão (no outro processo).
Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontramos indicativos de que essa Corte tentou inicialmente resolver esse problema pelo critério temporal, isto é, a prévia distribuição de uma ou outra ação prejudicaria o pedido na subseqüente. Ajuizada previamente a consignatória, com o depósito das parcelas na forma pretendida pelo autor, não se poderia deferir liminar na ação de busca e apreensão que se lhe seguisse. Representa essa corrente acórdão da lavra do eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, assim ementado:
«Ajuizada ação consignatória antes de intentada a ação de busca e apreensão, com depósito das prestações consideradas devidas, não cabe deferir medida liminar de busca e apreensão» (Resp 489564-DF, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, ac. j. 17.06.03, DJ 25.08.03).
Já em outro julgado encontramos o argumento, também utilizado para obstar a liminar na busca e apreensão, de que a comprovação da mora ou inadimplemento fica «na dependência do julgamento da ação de consignação em pagamento», o que justifica a suspensão do primeiro processo até que este último seja concluído (REsp 346240-SC, rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 04.11.02).
Ambos os julgados, todavia, não expressam o melhor entendimento sobre o tema. Primeiramente porque não se trata apenas de uma questão temporal, de definir qual das ações precedeu à outra. Se fosse assim, quem quisesse evitar a perda da posse de bem alienado fiduciariamente bastaria ajuizar uma ação consignatória, depositando valores a seu exclusivo critério.
Por outro lado, o simples ato de depósito das prestações não significa pagamento. A eficácia de pagamento fica a depender do juízo posterior que o julgador faz a respeito do montante devido. É com a manifestação judicial sobre a causa que se produzem os efeitos próprios de pagamento; antes disso o que se tem é mero ato unilateral do depositante. A eficácia de pagamento, repita-se, decorre da sentença, e não do simples depósito. Assim concebida a questão, vê-se que a definição do direito na busca e apreensão não tem que esperar o julgamento da consignatória, não ficando obstaculizado o deferimento da liminar nem suspenso aquele processo. Nesse sentido, trago a exame julgado do STJ que expressa esse entendimento:
«Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Consignação. O ajuizamento de ação consignatória não conduz, necessariamente, a que fique impossibilitado o deferimento liminar da busca e apreensão (STJ-3a. Turma, REsp 221903-RS, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 30.09.99, DJ 07.02.00).
Ao sustentar seu posicionamento, o relator destacou que a consignatória não impede o processamento (inclusive com o deferimento liminar) da busca e apreensão porque o depósito (feito naquela primeira ação) não tem eficácia de pagamento. Disse ele:
«Enquanto não houver sentença, com trânsito em julgado, declarando que o depósito efetuado satisfaz o que seria exigível, aquele terá sido apenas um ato unilateral do devedor. Dele não se pode concluir esteja a mora afastada. Assim fosse, bastava efetuar um depósito qualquer para impedir a ação do credor».
Um outro argumento pode ser somado à tese de que a consignatória, ainda que ajuizada previamente, não impede o prosseguimento da busca e apreensão (e sua liminar). Com efeito, entendimento em contrário consiste em retirar a utilidade desta ação, tornar inócuo o procedimento que o sistema jurídico conferiu ao credor fiduciário para a retomada imediata do bem. Sem poder utilizar-se do procedimento específico que a lei lhe confere, na prática o próprio direito de ação resta prejudicado:
«CIVIL/PROCESSUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSIGNATÓRIA.
A ação fiduciária se desenvolve a partir da efetivação da busca e apreensão, liminarmente deferida, a partir da prova da mora do devedor alienante, pelos meios previstos na lei.
Ação consignatória em pagamento, proposta pelo devedor em mora, não tem a virtualidade de impedir que se efetive a busca e apreensão do bem alienado, começo de execução do contrato, sem contrariar o art. 3o. do Decreto-lei 911/69, que institui o devido processo legal para a espécie» (REsp n. 13.959/SP, rel. Min. Dias Trindade, DJ de 02.12.91).
Sobre o tema, o Fórum dos Juízes das Varas Cíveis de Pernambuco emitiu o Enunciado n. 28, com a seguinte redação:
«O ajuizamento de ação consignatória não conduz, necessariamente, a que fique impossibilitado o deferimento liminar da busca e apreensão» (maioria)
7. Valor da causa na ação revisional
O valor da causa em ação de revisão de contrato bancário deve corresponder ao valor do próprio contrato, nos termos do art. 259, V, do CPC, ou deve representar o benefício econômico que o autor espera obter? Se deve equivaler ao benefício econômico, como quantificá-lo nos casos e que o autor não fornece meios para se identificar o valor real da demanda, o resultado econômico que espera alcançar? Como se exigir do autor a definição de valor real da causa quando alega que, somente depois de ser revisado o contrato e expungido dele a cobrança de encargos abusivos – o que exige inclusive a realização de perícia técnica – é que terá condições de definir com precisão o conteúdo econômico da lide?
É preciso se oferecer correta interpretação à regra do inc. V do art. 259, do CPC, no sentido de que supõe que o litígio envolva o negócio jurídico por inteiro, não se devendo exigir, como valor da causa, o preço total do contrato em demandas onde não se pede a execução da totalidade do contrato. Por oportuno, transcrevo ementas de alguns julgados que esposam esse entendimento:
«A modificação a que alude o inciso V do art. 259 do CPC, que determina haja correspondência entre o valor da causa e o do contrato, só pode ser entendida como aquela que atinja o negócio jurídico em sua essência, e não apenas algumas de suas cláusulas, pois, do contrário, o valor da causa acabaria superando o real conteúdo econômico da demanda, o que não é admissível (STJ, 3ª Turma, Resp. 129.835-RS, rel. Min. Costa Leite, j. 26.5.98, DJU 3.8.98, p. 222).
«Quando a controvérsia não açambarca o contrato por inteiro, mas apenas um dos seus itens, aplica-se o art. 260, do CPC, e não o art. 259, V, do mesmo diploma legal» (Resp. 67.765, 1ª Turma, DJU 8.12.95).
A ação em que o autor pede a revisão de um contrato bancário não envolve o contrato por inteiro, referindo-se apenas a determinadas obrigações, dentre outras estipuladas, daí porque não pode o valor da causa corresponder ao valor global da avença. Nesse tipo de ação, o valor da causa deve equivaler à diferença entre o valor exigido pelo banco e aquele que o autor entende como devido. Nesse sentido:
«VALOR DA CAUSA. Ação de revisão de contrato bancário. O valor da ação de revisão de contrato que conteria cláusulas abusivas deve corresponder à diferença que o autor pretende abater do total exigido pelo credor. Recurso conhecido e provido, para afastar como valor da causa a quantia que o banco apurou como sendo o valor do débito» (STJ-4a. Turma, REsp 450631-RJ, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 05.12.02, DJ 10.02.03)
Essa jurisprudência acima transcrita, no entanto, tem aplicação para as hipóteses de ação revisional de contrato em que o autor, de logo, fornece os parâmetros para definição do conteúdo econômico da demanda. Em alguns casos, ocorre de o autor juntar uma perícia contábil sobre os cálculos da dívida, realizada por expert que ele mesmo contrata, já com a inicial. Nessas hipóteses, pode indicar o valor que entende como devido, e a diferença entre este e o valor cobrado pelo banco é que deve ser tomado como valor da causa, pois corresponde ao benefício econômico que espera almejar com o ajuizamento da demanda. Em outras situações, no entanto, o consumidor-autor vem a juízo reclamar a revisão do contrato bancário pura e simplesmente, sem qualquer elemento inicial ou parâmetro de redução da dívida, cuja definição fica a depender da conclusão do processo de revisão (às vezes com necessidade de realização de perícia técnica por perito do juízo). Nessas hipóteses, alega não poder determinar no limiar do processo o exato conteúdo econômico da demanda, e indica valor ínfimo para fins «meramente fiscais», como valor da causa.
Não se deve permitir, no entanto, que o autor de ação de revisão de contrato bancário deixe de fornecer valor da causa correspondente ao benefício econômico que espera obter, porquanto à toda causa deve ser atribuído um valor certo, conforme preceitua o art. 258 do CPC. Para traduzir a realidade do pedido, necessário que corresponda à importância perseguida.
A ação de revisão de contrato bancário não se assemelha àquelas causas em que é impossível para o autor fixar, desde logo, no início da demanda, o valor exato que corresponda à tutela pretendida. Em causas em que não se pode determinar antecipadamente o benefício econômico perseguido, é lícito permitir que o autor complemente o valor das custa ao final, quando já estabelecido na sentença a definição do real conteúdo econômico da demanda. É a hipótese, por exemplo, das ações que envolvem discussão sobre dano moral, onde o autor não tem como fixar o valor exato que corresponda à tutela pretendida, até porque a indenização, nesses casos, é arbitrada pelo juiz, segundo seu prudente arbítrio. Assim, nada impede que o autor atribua outro valor, mesmo diferente do que entende lhe ser devido[3], pois pode ao final complementar as custas, se vencido, ou estas serem suportadas pelo réu no montante global, depois de indicada na sentença o valor da indenização.
Na ação de indenização por dano moral puro, realmente, ao autor pode ser concedido o benefício de indicar um valor da causa provisório, pela razão de que a fixação do quantum indenizatório só depende do Juiz.
A definição do valor do dano moral, conforme estabelecido pela doutrina e jurisprudência, fica ao exclusivo arbítrio do Juiz, que se serve apenas de alguns parâmetros para essa definição. O autor de ação de dano moral, por essa razão, não está obrigado a indicar o quantum do dano moral em relação ao qual espera ser indenizado, podendo dar à causa valor simbólico. Não tem meios para definir antecipadamente o conteúdo econômico da demanda, até porque este pode variar muito dependendo das convicções pessoais do Juiz.
Já o autor de ação de revisão de contrato bancário, ao contrário da situação acima explicada, tem perfeitas condições para expressar antecipadamente o real valor econômico da demanda.
Como está obrigado a identificar previamente as cláusulas que entende nulas[4], e quanto isso representa em termos de diminuição dos encargos da dívida, tem meios para, sem maiores esforços, determinar a expressão econômica da demanda, o valor que pretende ver reduzido da dívida. Diferentemente da ação em que se pede indenização por dano moral, o devedor tem que de alguma maneira suprir o processo com indicativos da plausibilidade do direito invocado, o que geralmente se faz por meio da entrega de uma planilha ou memória discriminada de cálculo, contendo a evolução da dívida, os critérios de correção e índices adotados, de modo a chegar ao valor devido. É com base nessa planilha ou esboço de cálculo, demonstrativa da tese jurídica, que o devedor tem possibilidades de extrair o significado econômico da lide, ao qual corresponde o valor da causa.
Se a parte autora de uma ação revisional não indica o benefício econômico exato que espera obter com o julgamento, então, o valor da causa, para efeito de custas, deve ser o do preço integral do contrato.
Até para fins de política judiciária, não se deve permitir que o devedor indique um valor simbólico, como valor da causa. Não se deve admitir que o autor recolha valor ínfimo a título de custas judiciais para, só depois de fixado na sentença o acertamento econômico do contrato, se exigir da parte vencida o pagamento das custas pelo total, tomando-se por base eventual valor de redução da dívida. Isso dá margem a evasão de tributos
– a taxa judiciária tem natureza tributária -, pois a prática demonstra que, quase sempre, os juízes não tomam o cuidado de verificar obrigação de complementação das custas em fase ulterior do processo. Além disso, é no início do processamento da causa que a parte se vê mais premida a pagar custas, pois sem o pagamento antecipado o feito não é processado e ela não recebe a tutela jurisdicional (muitas vezes liminar para retirada de seu nome de cadastro negativo). Por essas razões, não se deve permitir que o autor de uma ação revisional indique, como valor da causa, quantia simbólica, devendo o Juiz, em ocorrendo tal hipótese, determinar que complemente as custas pela importância equivalente ao valor integral do contrato.
8. Impossibilidade de revisão de contratos anteriores no âmbito dos embargos do devedor
É certo que, havendo confissão de dívida ou renegociação contratual, o novo contrato não fica indene (no que tange à sua validade) à apreciação judicial, nem tampouco os contratos anteriores dos quais resultou a dívida no último estágio. Na hipótese de relação financeira continuativa, que se processa através de contratos encadeados, resultando em confissão de dívida na qual se confirma cláusulas e condições anteriores, a investigação judicial abrange a relação como um todo. Essa possibilidade inclusive já consta da Súmula do STJ, verbete 286, de teor seguinte: «A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores».
É de se notar, no entanto, que o exame de forma retroativa (incidente sobre os contratos originários) somente pode ser viabilizado em sede de ação revisional. Diga-se, aliás, que os precedentes jurisprudenciais que deram origem à citada súmula destacam bem isso, como demonstram os arestos abaixo transcritos em ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. REVISÃO DE CONTRATOS CUMPRIDOS. POSSIBILIDADE.
I – «A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores» (Súmula 286/STJ).
II – Agravo regimental desprovido AgRg no Ag 562350 / RS, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 19.05.05, DJ 13.06.05 .
PROCESSO CIVIL – RECURSO ESPECIAL – AGRAVO REGIMENTAL – CONTRATO BANCÁRIO – AÇÃO REVISIONAL – NOVAÇÃO – REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES – POSSIBILIDADE – DESPROVIMENTO.
1 – A Eg. Segunda Seção desta Corte já pacificou o entendimento no sentido de que, na ação revisional de negócios bancários, é possível a discussão a respeito de contratos anteriores, ainda que tenham sido objeto de novação. Precedentes (REsp nºs 332.832/RS, 470.806/RS e AgRg Ag 571.009/RS).
2 – Agravo Regimental desprovido (STJ-4a. Turma, AgRg no REsp 537029 / RS, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 16.08.05, DJ 05.09.05.
A possibilidade de discussão de contratos anteriores, portanto, não impede que o detentor do título exeqüendo (o novo contrato) promova a execução deste. O devedor tem a faculdade de requerer a revisão de contratos que originaram o débito na sua versão renegociada, mas isso em nada interfere com o direito do credor, que, de posse de novo título, desde que perfaça os requisitos formais de executoriedade, pode promover a execução da dívida.
A dívida, consubstanciada em contrato, assinado por duas testemunhas, perfaz as características de liquidez e certeza exigidas em lei de modo a propiciar o processo executivo (art. 585, II, CPC). Desde que a versão renegociada dela se faça por meio de título que ofereça todos os elementos para que se possa aferir a liquidez e certeza do débito, sem haver necessidade de apuração de fatos ou qualquer operação que somente possa ser alcançada através de um processo de conhecimento, o credor pode executá-la, sem que ao devedor fique assistido o direito de alegar sua desnaturação com base em eventuais ilegalidades inseridas nos contratos primitivos. O termo de renegociação ou confissão da dívida é título hábil para a execução, ainda que oriundo de contrato de abertura de crédito em conta corrente:
«Direito processual civil. Agravo no agravo de instrumento. Recurso especial. Embargos do devedor à execução. Confissão de dívida. Oriunda de contrato de abertura de crédito. Título extrajudicial.- A confissão de dívida é título hábil para a execução, ainda que oriundo de contrato de abertura de crédito, novado ou não, goza de plena liquidez, certeza e exigibilidade, constituindo-se, portanto, título executivo extrajudicial. Agravo não provido.» (STJ-3a Turma, AgRg nos EDcl no Ag 598767-MG, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.06.05, DJ 27.06.05)
No mesmo sentido: STJ-3a. Turma, REsp 578960-SC, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.10.04, DJ 08.11.04; STJ-3a. Turma, AgRg no Ag 589802-RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.09.04, DJ 04.10.04.
Até que seja, em ação própria, desconstituída a validade do título, este fica valendo como instrumento suficiente à viabilidade de um processo executivo. E o devedor não pode se insurgir contra a cobrança, na via estreita dos embargos à execução, requerendo a revisão da dívida desde a sua origem, pois tal possibilidade somente é admissível através da via própria, que é a ação revisional de contratos bancários. Se, em eventual ação revisional for ordenada redução no valor da dívida garantida pelo título que está sendo executado, ao Juiz processante da execução caberá apenas adequá-la ao valor apurado como devido naquela outra ação:
«Processual civil. Execução de título extrajudicial. Ação revisional julgada procedente. Liquidez do título que embasou a execução.- Não retira a liquidez do título, possível julgamento de ação revisional do contrato originário, demandando-se, apenas, adequação da execução ao montante apurado na ação revisional. Recurso especial parcialmente provido. (STJ-3a. Turma, REsp 593220-RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.12.04, DJ 21.02.05)
9. Ajuizamento de ação revisional não suspende execução
Também tem sido muito comum, em tema de ação de revisão de contrato bancário, de o devedor requerer a suspensão da execução fundada no mesmo título, ao argumento de que depende da sentença de mérito naquela outra ação (de conhecimento). O pedido de suspensão é feito com base na regra do art. 265, IV, «a», do CPC, que prevê a suspensão do processo quando a sentença de mérito «depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência de relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente». Em geral, o devedor alega que corre o risco de sofrer prejuízo irreparável ou de difícil reparação se excutidos os seus bens (na execução) antes de resolvida a questão da redução da dívida (ou mesmo sua completa extinção) na ação revisional.
Não se deve, todavia, concluir aprioristicamente pela necessidade de suspensão do curso da execução. Em primeiro lugar, é preciso atentar para a circunstância de que os casos de suspensão do processo de execução não são os mesmos do processo de conhecimento. O art. 791 do CPC, que trata das hipóteses específicas de suspensão da execução, não previu, dentre as situações que ali enumera, a existência de causa conexa pendente de julgamento. O inc. II do art. 791 repete algumas das hipóteses do art. 265 (especificamente os seus incisos I a III), mas excluiu o inc. IV deste último artigo – a alínea «a» do inc. IV do art. 265, é que prevê a suspensão do processo de conhecimento quando a sentença «depender do julgamento de outra causa…». Ora, ao não repetir a previsão do inc. IV do 265, o legislador fez uma intencional opção pelo afastamento da suspensão do processo de execução quando coexistentes outras ações relacionadas e pendentes de julgamento. «Isso significa que o processo de execução, em regra, não é suspenso pelo mero ajuizamento ou pendência de demandadas «paralelas», que impugnem a validade ou a eficácia do título, ou a exigibilidade do crédito» (STJ-4a. Turma, REsp 10.293-PR, rel. Min. Athos Carneiro, j. 8.9.92, DJU 5.10.92).
Nesse assunto específico, não se pode buscar na regra da subsidiariedade (art. 598 do CPC)[5] fundamento para justificar a suspensão do processo executivo. O processo de execução possui norma específica prevendo as hipóteses em que se admite sua suspensão (art. 791). «Existindo norma específica no processo executivo, não se aplicam subsidiariamente normas do processo de conhecimento» (RSTJ 6/419). Mas o grande impedimento à suspensão do processo executivo (pelo motivo da concorrência de ações) não é somente o fato de possuir norma específica sobre a matéria, mas a circunstância, já realçada, de que o legislador, na enumeração que fez dos casos de suspensão (efetivada no art. 791), repetiu os incisos I a III do art. 265, mas parou até aí, não produzindo a mesma repetição em relação ao seu inc. IV. O legislador, portanto, interferiu claramente no sentido de afastar peremptoriamente a concorrência de ações como motivo de suspensão do processo executivo.
Assim, ainda que se possa entender que o art. 791 não é exaustivo[6], e que outras hipóteses de suspensão podem ser admitidas no processo de execução[7], a existência de outras ações (que de alguma maneira tenham relação com o objeto da execução) não pode servir de motivo para a suspensão.
Não há motivo realmente para que seja sobrestado o regular curso da execução, ao contrário do que possa aparentar. É certo que, sendo dado provimento à ação ordinária de revisão, o devedor pode obter efeito liberatório da dívida (ou ao menos sua redução), daí que corre o risco de sofrer lesão patrimonial caso se permita a continuidade dos atos executórios, antes de resolvida a questão da revisão contratual. Essa argumentação, no entanto, só está aparentemente correta, pois o prosseguimento da execução não frustra de maneira absoluta eventual reconhecimento de direito (diminuição ou anulação da própria dívida) do devedor, em outro processo. A sentença final na ação revisional vai formar título executivo em favor do autor-devedor, o qual terá sempre a possibilidade de recuperar o que eventualmente pagar a mais na execução. Além do mais, paralisar uma execução logo no início poder trazer prejuízos maiores e de ordem inversa (para o credor). Os prejuízos decorrentes da obstrução do processo de execução para o credor são acentuadamente superiores àqueles alegados pelo devedor. Enquanto este se preservaria da possibilidade de alienação judicial antecipada de seus bens, o credor restaria sujeito à formação da prescrição[8], ao possível desfalque do patrimônio do devedor e à perda de eventual preferência pela primeira penhora, sem contar a demora em receber o que lhe é devido.
A paralisação de um processo de execução logo no início representaria, por via transversa, um impedimento ao direito constitucional de ação do exeqüente. A jurisprudência tem entendido que o devedor não pode impedir a parte contrária de ingressar em juízo com a ação ou execução que tiver contra ele (RSTJ 10/474, 12/418, JTA 105/156, RF 304/257), sob pena de cercear-lhe seu direito (do credor) de recorrer ao Judiciário, garantido pelo art. 5o., XXXV, da CF. Impedir que ele não ingresse com a execução ou que não a movimente, na prática, tem o mesmo efeito. Contando com a reconhecida morosidade da máquina judiciária, que pode demorar anos para oferecer um pronunciamento definitivo (inclusive com a possibilidade de a causa ascender às instâncias extraordinárias), na prática o resultado seria uma suspensão indefinida da execução.
Assim, o entendimento prevalecente deve ser o de que «o ajuizamento de ação buscando invalidar cláusulas de contratos com eficácia de título executivo, não impede que a respectiva ação de execução seja proposta e tenha curso normal. (STJ-4a. Turma, REsp 8859-RS, rel. Min. Athos Carneiro, j. 10.12.91, DJ 25.05.92). Se, em eventual ação revisional for ordenada redução no valor da dívida garantida pelo título que está sendo executado, ao Juiz processante da execução caberá apenas adequá-la ao valor apurado como devido naquela outra ação. «Não retira a liquidez do título possível julgamento de ação revisional do contrato originário, demandando-se, apenas, adequação da execução ao montante apurado na ação revisional» (STJ-3a. Turma, REsp 593220-RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.12.04, DJ 21.02.05).
O devedor terá sempre a possibilidade de embargar a execução, e os embargos, estes sim, produzem a suspensão do processo de execução (CPC, art. 791, I)[9]. Com a propositura dos embargos, surge também a conexão que implica na necessidade de reunião dos dois processos, para julgamento em conjunto. Julgados em conjunto os embargos e a ação revisional, não haverá risco de o devedor pagar mais do que deveria. A questão quanto a eventual redução da dívida é resolvida na mesma sentença que julga os embargos e a ação de revisão.
Na jurisprudência do STJ registra-se uma situação que tem justificado a suspensão do processo de execução, quando diante de outra ação revisional ou declaratória da inexigibilidade do título executivo. É quando ocorre de, por algum motivo, os juízes não providenciarem a reunião dos embargos à execução com a ação revisional (ou declaratória), para decisão conjunta. Pode-se constatar esse ponto de vista nas seguintes ementas:
«Havendo conexão e prejudicialidade entre os embargos do devedor e a ação declaratória, não tendo sido reunidos os feitos para julgamento em conjunto, recomendável a suspensão dos embargos até o julgamento da causa prejudicial, nos termos do art. 265, IV, ‘a’, CPC» (STJ-4a. Turma, Ag. 35.922-5-MG-AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 24.6.93, DJU 2.8.93).
«Processo de execução. Pendência de ação declaratória de inexigibilidade parcial do título executivo (exclusão da correção monetária em mútuo rural) e de embargos do devedor incidentais ao processo de execução do mesmo título. Procedimento aconselhável. Não tendo sido reunidos os processos em tempo hábil, e estando a ação declaratória pendente de julgamento no segundo grau de jurisdição, impõe-se no caso concreto a aplicação do disposto no art. 265, IV, ‘a’, do CPC, com a suspensão da ação incidental de embargos do devedor, mantido seu efeito suspensivo da execução» (STJ-4a. Turma, Resp 6.734-MG, rel. Min. Athos Carneiro, j. 31.10.91, DJU 2.12.91).
É imperioso observar, todavia, que o segundo aresto transcrito restringe a suspensão diante da iminência de julgamento da ação ordinária («pendente de julgamento no segundo grau de jurisdição»). Mas, mesmo com a ressalva dessa circunstância, esse tipo de medida (suspensão) somente deve ser adotado com os olhos voltados para a economia processual. Ainda que possa parecer recomendável, a suspensão pode terminar causando prejuízos de ordem inversa ao credor-exeqüente, como já antes assinalamos. O julgamento do processo de conhecimento (ação de revisão), mesmo no segundo grau, pode consumir tempo exagerado, prejudicando o direito do credor (na execução) de ver o seu crédito atendido em tempo razoável. Assim, em determinadas situações, pode ser mais aconselhável não se trilhar o caminho da suspensão do processo (de execução). Ainda que a execução se conclua com a alienação de bens do devedor, com o pagamento da dívida originária, a ele sobrará sempre a possibilidade de ver formado título judicial em seu favor, com o julgamento posterior da revisional, para buscar, então, a diferença do que pagou a mais. Pelo menos o risco de prejuízo irreparável (para ele, executado) fica afastado, considerando-se a elevada solvabilidade das instituições financeiras. Em momento posterior, terá sempre a possibilidade de recuperar o que eventualmente pagar a mais no processo de execução.
A suspensão também não é adequada quando o devedor, em processo cautelar autônomo ou pedido cautelar nos próprios autos da ação revisional (na forma prevista no par. 7o. do art. 273, CPC), ou mesmo por meio de ação consignatória, requeira o depósito de parte da dívida. O depósito de valores a critério exclusivo do devedor, efetuado ao largo do leito da execução, não significa pagamento e, conseguintemente, não é suficiente para suspender seu curso normal. Mesmo numa consignatória, a eficácia de pagamento fica a depender do juízo posterior que o julgador faz a respeito do montante devido. É com a manifestação judicial sobre a causa que se produzem os efeitos próprios de pagamento; antes disso o que se tem é mero ato unilateral do depositante. A eficácia de pagamento, repita-se, decorre da sentença, e não do simples depósito[10]. Assim concebida a questão, vê-se que a definição do direito na execução não tem que esperar o julgamento da consignatória (ou de cautelar), não ficando suspenso aquele processo. A respaldar esse entendimento, acórdão do STJ, da relatoria do Min. Athos Carneiro Gusmão, portando a seguinte ementa:
«EXECUÇÃO E CONSIGNATÓRIA.
A circunstância de o devedor ajuizar ação de consignação em pagamento não impede o credor de pretender a execução. Eventuais embargos poderão ser decididos na mesma sentença da consignatória.
Não se pode, entretanto, obrigar o credor a aguardar o desfecho da ação de conhecimento para exercer sua pretensão executória.
Ao credor por título executivo assiste o direito à segurança do juízo, através da penhora, além da garantia constitucional do acesso pleno ao Judiciário.
Ilegalidade de decisão que, em ação cautelar, proíbe o credor de agir m juízo até a decisão da consignatória» (REsp 2.793, DJU 03.12.90).
A suspensão da execução, por meio de cautelar ou qualquer outro procedimento estranho aos embargos, mesmo que suplementada pelo depósito em forma de caução do valor da execução, importará sempre em ofensa ao princípio constitucional de acesso à tutela executiva do Estado, ainda quando limitada (a suspensão) ao marco temporal do julgamento da ação ordinária de revisão. É o que se extrai dos seguintes arestos:
«Processo civil. Cautelar. Sustação de procedimento judiciais. Ilegalidade.- Segundo tem assinalado este tribunal, o poder cautelar qual atribuído ao juiz não pode ser absoluto, de molde a inviabilizar o princípio constitucional de acesso à tutela executiva do Estado» (REsp 5.052, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).
No mesmo sentido: REsp 2.819, rel. Min. Athos Carneiro, DJU 04.02.90.
«Recurso especial. Concessão de medida cautelar para impedir ao credor o exercício do direito de demanda. Contrariedade aos art. 566, I, do CPC, e 43 da Lei Uniforme. Violação à garantia constitucional da ação» (REsp 2.644, DJU 10.09.90).
De tudo se conclui que não se pode conferir liminar, em ação cautelar ou qualquer procedimento especial, para frustrar a exeqüibilidade ínsita do título de que o credor é legítimo beneficiário, direito que lhe é plenamente garantido pelo art. 580 e par. únic. do CPC.
10. Conexão da ação de revisão de contrato bancário com os embargos à execução
Embora possa haver conexão entre uma ação ordinária de revisão de contrato e uma execução, a conveniência da reunião dos processos fica a depender da existência dos embargos.
O art. 105 do CPC «não contém regra de competência, mas somente de direção processual» (RT 677131), no sentido de que deixa certa margem de discricionariedade para o juiz decidir pela conveniência (ou não) da reunião de processos conexos. O limite da conveniência será sempre a possibilidade de decisões contraditórias (RSTJ 112169). O julgamento conjunto de processos se impõe sempre que haja o risco de decisões contraditórias.
Entre uma ação ordinária e uma ação de execução originárias de um mesmo contrato pode existir risco de decisões conflitantes, entre a sentença a ser proferida na primeira e a sentença dos embargos opostos à execução. Se o processo de execução nem sempre comporta uma sentença, esta é sempre exigida quando esse tipo de ação vem a ser atacada por meio dos embargos do devedor – que é uma ação de cognição incidental ao processo de execução. A sentença dos embargos pode entrar em conflito com a da ação ordinária quando sejam exigidas soluções para questões comuns.
Assim, embora havendo conexão entre uma execução e uma ação ordinária originárias do mesmo contrato (RT 718163), só haverá risco de decisões conflitantes quando a primeira for embargada. A reunião dos processos somente se justificará nessa hipótese, porque aí nasce o risco de decisões conflitantes. Daí se explica a jurisprudência firmada pela 4a. Turma do STJ no sentido de que «o não oferecimento de embargos do devedor é obstáculo à reunião do processo de execução ao de ação ordinária que persegue a nulidade do título executivo» (STJ-4a. Turma, REsp 11.620-SP, rel. Min. Fontes de Alencar, j. 16.3.93, DJU 17.05.93).
A jurisprudência, realmente, já deixou assentado o entendimento de que a oposição dos embargos, na execução, faz nascer a conveniência para a reunião dos processos conexos, como demonstram os arestos abaixo ementados:
«EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL, CONTRATOS DE MÚTUO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE «REVISÃO» DOS CONTRATOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 265, IV, A E 791, II, DO CPC.
O Ajuizamento de ação buscando invalidar cláusulas de contratos com eficácia de título executivo, não impede que a respectiva ação de execução seja proposta e tenha curso normal.
Opostos e recebidos embargos do devedor, e assim suspenso o processo de execução – CPC, art. 791, I – poder-se-ia cogitar da relação de conexão entre a ação de conhecimento e ação incidental ao processo executório, com a reunião de processos de ambas as ações, para instrução e julgamento conjuntos, no juízo prevalecente. Recurso especial não conhecido.» (STJ-4a. Turma, REsp 8859-RS, rel. Min. Athos Carneiro, j. 10.12.91, DJ 25.05.92
«PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL. ULTERIOR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR À EXECUÇÃO MOVIDA COM LASTRO NO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CUJA REVISÃO SE REQUEREU. SENTENÇAS AINDA NÃO PROFERIDAS. CONEXÃO. EXISTÊNCIA. REUNIÃO DOS PROCESSOS. RAZÕES DE ORDEM PRÁTICA.
– Proposta ação de conhecimento pelo devedor onde se postula a revisão judicial de cláusulas constantes de título executivo extrajudicial, ou do contrato que o originou, e opostos, posteriormente, embargos do devedor à execução movida pelo credor com lastro no título executivo objeto da ação revisional, a identidade de partes e de pedido autoriza a reunião dos processos em consideração à carga de conexidade existente entre eles e por razões de ordem prática, desde que ambos ainda não tenham sido apreciados no primeiro grau de jurisdição. Precedentes. Recurso especial provido» (STJ-3a. Turma, REsp 514454-SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02.09.03, DJ 20.10.03).
11. Conexão entre execução, ajuizada perante a Justiça Comum, e ação ordinária de revisão do contrato habitacional, junto à Justiça Federal
Qual procedimento a ser seguido diante da concorrência de um processo de execução hipotecária (e os respectivos embargos), aforado perante a Justiça Comum, com uma ação ordinária, de revisão do contrato de financiamento habitacional, esta tramitando perante a Justiça Federal? O Juiz estadual deve, reconhecendo conexão, remeter os autos da execução para a Justiça Federal? Mesmo que não reconheça a existência de conexão, a execução deve ser suspensa, por depender da sentença de mérito que será proferida naquela ação (ordinária de revisão), em obediência à regra do art. 265, VI, «a», do CPC?
Essas são questões recorrentes quando se trata de decidir sobre o andamento desses dois tipos de ações, ajuizadas em ramos diferentes da Justiça. Para dar um exemplo de como isso pode acontecer na prática, relembramos que a Caixa Econômica Federal alienou parte de sua carteira habitacional para bancos privados, que passaram a executar os mutuários em situação de inadimplência junto à Justiça Comum. Ocorre que esses mutuários, nas mais das vezes, já tinham promovido (ou vêm a promover) ações de revisão do contrato habitacional na Justiça Federal. Esta é competente para a primeira ação (revisão), mas não para a segunda (execução). As ações, contudo, guardam estreita conexão entre si. Elas devem ser reunidas ou simplesmente suspensa a execução?
Evidentemente, não se pode negar a existência de conexão entre a execução (os embargos) e a ação ordinária que tramita na Justiça Federal, nessas hipóteses. Ambas decorrem de um mesmo contrato, ou seja, têm a mesma causa de pedir (art. 103). A jurisprudência já registrava haver conexão entre execução e ação ordinária originárias do mesmo contrato (RT 718/163). Mais recentemente, o STJ reafirmou esse entendimento, deixando claro a existência de conexão entre embargos do devedor e a ação em que pretende a «revisão judicial das cláusulas constantes do título executivo extrajudicial, ou do contrato que o originou» (STJ-3a. Turma, REsp 514.454-SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.09.03, DJU 20.10.03).
Essa realidade, no entanto, não gera a obrigatoriedade de remessa do processo de execução para a Justiça Federal, ainda quando este juízo haja despachado em primeiro lugar. A regra do art. 219 do CPC, que define a prevenção do juiz que despacha em primeiro lugar, refere-se à competência relativa dos órgãos jurisdicionais. Quando o caso é de conexão entre causas submetidas a juízes de diversa competência territorial (espécie de competência relativa), prevento é aquele em cujo processo ocorreu citação válida (art. 219). Já em se tratando de juízes de mesma competência territorial, prevalece a regra do art. 106, que considera prevento o que despacha em primeiro lugar. Em ambas as situações, pode haver reunião dos processos propostos em separado perante o juiz prevento, «a fim de que sejam decididas simultaneamente» (art. 105), evitando-se, dessa forma, a possibilidade de decisões contraditórias. Ambos os dispositivos (art. 106 e 219), no entanto, regulam a conexão em face da competência relativa (territorial). Melhor dizendo, ambos contêm regras de deslocação da competência territorial. A conexão entre causas submetidas a juízos em razão da competência absoluta deles não produz a reunião de processos. Isso porque a conexão não modifica a competência absoluta, mas tão-somente a relativa (em razão do valor ou território), nos termos do art. 102 do mesmo Código.
Se a ação ordinária tramita perante a Justiça Federal em razão de a Caixa Econômica Federal figurar no pólo passivo, para tal processo é competente esse ramos da Justiça em azão da sua competência absoluta, definida constitucionalmente (art. 109 da CF), que a reserva para todo tipo de ação em que a União, suas autarquias, empresas e fundações públicas sejam partes ou interessadas. Já o processo que tramita na Vara da Justiça Comum não pode ser abarcado na sua competência (da Justiça Federal), se não incluir nenhuma dessas pessoas.
A jurisprudência tem consagrado o entendimento de que, na hipótese de conexão de causas em que ambos os juízos são absolutamente incompetentes para julgar uma das demandas, não ocorre a reunião das ações, permanecendo elas em seu leito judicial original:
«AGRAVO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA NA JUSTIÇA FEDERAL (UNIÃO ASSISTENTE) QUESTIONANDO A NULIDADE DE CONTRATO E MONITÓRIA NA JUSTIÇA ESTADUAL QUERENDO O CUMPRIMENTO DO MESMO. CONEXÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DA REUNIÃO DOS PROCESSOS.
Somente os juízos determinados pelos critérios territorial ou objetivo em razão do valor da causa, chamada competência relativa, estão sujeitos à modificação de competência por conexão (art. 102, CPC).
A reunião dos processos por conexão, como forma excepcional de modificação de competência, só tem lugar quando as causas supostamente conexas estejam submetidas a juízos, em tese, competentes para o julgamento das duas demandas. Sendo a justiça federal absolutamente incompetente para julgar ação monitória entre particulares, não se permite, na hipótese, a modificação de competência por conexão (STJ-2a. Seção, AGRCC 35129/SC, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 26.06.02, DJ 24.03.03)».
Ainda:
COMPETENCIA. CONFLITO. JUIZOS FEDERAL E ESTADUAL. CONEXÃO. ANULATORIA PROPOSTA CONTRA BANCO CREDOR E ENTES FEDERAIS EM LITISCONSORCIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. EXECUÇÃO E EMBARGOS. COMPETENCIA ABSOLUTA. ART. 102, CPC. ART. 109, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES.
I – Nos termos do art. 102, CPC, a competência prorrogável por conexão ou continência é somente a relativa.
II – A competência da Justiça Federal, fixada na Constituição, somente pode ser ampliada ou reduzida por emenda constitucional, contra ela não prevalecendo dispositivo legal hierarquicamente inferior.
III – Não há prorrogação da competência da Justiça Federal se em uma das causas conexas não participa ente federal (STJ-2a. Seção, CC 14460-PR, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, ac. un., j. 14.02.96, DJ 18.03.96).
Como se vê, a competência cível da Justiça Federal não se prorroga, não atraindo causa submetida a outro juízo. A reunião de processos perante essa Justiça, em obediência ao princípio do privilégio de foro (da parte), só ocorre se, em relação ao outro processo aforado originariamente na Justiça estadual, a União (ou suas autarquias, fundações e empresas públicas) intervém no feito e demonstra seu interesse pela causa (nesse sentido: CC 12620-DF, rel. Ministro Demócrito Reinaldo, j. 04.04.95, DJ 15.05.95; CC 27627-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 24.10.01, DJ 04.02.02). A preferência da Justiça Federal para a reunião dos processos, de maneira a evitar decisões conflitantes, só pode ocorrer quando ela detém competência para ambas as ações, por figurar nelas um dos entes federais já mencionados ou quando um deles, embora não constando como parte originária no feito, vem depois manifestar seu interesse na causa.
A respeito do tema, já decidiu o Fórum dos Juízes das Varas Cíveis do Estado de Pernambuco:
«Enunciado 27 FVC-IMP: «A conexão entre execução, ajuizada perante a Justiça Comum, e ação ordinária de revisão do contrato habitacional, junto à Justiça Federal, não autoriza a reunião dos processos quando esta última não detém competência para julgar ambos» (unânime)».
Concebido que a causa de competência (absoluta) da Justiça estadual não se transfere, por conexão, para a Justiça Federal, então deve-se concluir pela necessidade de suspensão do curso da execução, naquele juízo? A resposta é negativa. Não há motivo para que seja sobrestado o regular curso da execução.
O que se alega costumeiramente em favor da suspensão é que, em sendo dado provimento à ação ordinária proposta (na Justiça Federal), o título executado se torna ilíquido e incerto. Ainda se costuma ajuntar o argumento de que o devedor corre o risco de sofrer prejuízo irreparável, caso se permita a continuidade dos atos executórios, antes de resolvida a questão da revisão contratual (por sentença do juízo federal). Esse raciocínio tem respaldo em corrente jurisprudencial, confortada inclusive em decisões do próprio STJ, no sentido de que «não pode o agente financeiro prosseguir na execução extrajudicial enquanto pendente de julgamento a medida cautelar ou a ação principal em que se discute o critério a ser adotado no reajuste das prestações da casa própria» (1a. Turma, REsp 0017742-MG, rel. Min. Garcia Vieira, DJU 01.06.92; 3a. Turma, REsp 508944-DF, rel. Min. Pádua Ribeiro, j. 10.06.03, DJ 28.10.03). Essa argumentação, no entanto, só está aparentemente correta, pois o prosseguimento da execução não frustra necessariamente eventual reconhecimento de direito (diminuição ou anulação da própria dívida) do devedor, em outro processo. Além do mais, é preciso buscar a exata compreensão e sentido prático dessa jurisprudência, sob pena de trazer prejuízos de ordem processual para o credor.
Com efeito, não se deve paralisar a execução no início ou logo após garantido o juízo pela penhora. Deve-se deixá-la prosseguir até fase que represente, aí sim, uma possibilidade de dano irreparável, e tal só acontece quando está ela pronta para a realização do leilão. É com o ato do leilão e a emissão da carta de arrematação que se ultima o processo de adjudicação do bem ao agente do sistema financeiro ou da transferência a terceiro. Nessa fase final do procedimento pode ser enxergado risco ao direito do executado sobre o imóvel; não antes. É razoável que o mutuário requeira a suspensão da realização do leilão ou a emissão da carta de arrematação, porque, uma vez transferida a titularidade do bem imóvel objeto da execução hipotecária, seria ineficaz eventual reconhecimento de direito na conexa ação revisional. O que não parece lógico é paralisar uma execução no seu nascedouro, até que decisão em outra causa seja proferida, porque isso representaria a possibilidade de maiores prejuízos à outra parte. Contando com a reconhecida morosidade da máquina judiciária, que pode demorar anos para oferecer um pronunciamento definitivo (inclusive com a possibilidade de a causa ascender às instâncias extraordinárias), na prática o resultado seria uma suspensão indefinida da execução.
A paralisação de um processo de execução logo no início representaria, por via transversa, um impedimento ao direito constitucional de ação do exeqüente. A jurisprudência tem entendido que o devedor não pode impedir a parte contrária de ingressar em juízo com a ação ou execução que tiver contra ele (RSTJ 10/474, 12/418, JTA 105/156, RF 304/257), sob pena de cercear-lhe seu direito (do credor) de recorrer ao Judiciário, garantido pelo art. 5o., XXXV, da CF. Impedir que ele não ingresse com a execução ou que não a movimente, na prática, tem o mesmo efeito.
Deixar, portanto, para decidir sobre eventual suspensão da execução somente na fase dos procedimentos finais (simplesmente suspendendo-se a emissão da carta de arrematação), é medida que traz menos prejuízos e é compatível com o próprio espírito da Lei 5.741/71.
12. Conclusões:
1a. O Juiz não deve conhecer, nas ações de revisão de contrato bancário, de pedido de repetição de indébito ou qualquer outro que implique em acertamento econômico do contrato, cumulado com o pedido de declaração de nulidade de cláusulas contratuais. A definição do quantum debeatur deve ficar para fase pré-executória, de liquidação de sentença, ou mesmo com a apresentação do cálculo aritmético que o exeqüente do crédito eventual deverá elaborar junto com a inicial de sua execução, em forma de planilha contendo memória discriminada e atualizada do cálculo, que deverá observar e tomar por base os parâmetros já definidos na sentença do processo de conhecimento.
2a. O autor de ação de revisão não pode deixar de juntar cópia do contrato bancário cuja revisão pretende, sob pena de a inicial ser considerada inepta, por falta de causa de pedir. Além de instruir a petição com a cópia do contrato, deve o autor apontar uma a uma as cláusulas que entende abusivas, juntando, quando for o caso, demonstrativo da evolução da dívida e da efetiva ocorrência de práticas ilegais, sob pena de indeferimento.
3a. Não cabe pedido de tutela antecipada, em ação de revisão, para compelir banco a trazer aos autos cópia do contrato bancário firmado com o autor. Tal providência há de ser requerida em processo próprio, de natureza cautelar, preparatório à ação de revisão. A juntada do contrato com a inicial é pressuposto da ação de revisão e dela depende a verificação da causa de pedir e a própria formulação do pedido.
4. Não deve ser admitida a concessão de liminar para retirar o registro no sistema de proteção ao crédito do nome do devedor, ao só argumento de que o simples ajuizamento de uma ação revisional já torna a dívida discutível. É preciso que o pagamento da dívida esteja garantido, demonstrando a boa-fé do devedor e sua real intenção quanto ao cumprimento da prestação. Além do depósito da quantia sobre a qual não há controvérsia, é indispensável que o autor demonstre que a sua negativa quanto à cobrança da parcela controversa se funda na aparência do bom direito ou em jurisprudência consolidada.
5a. O simples ajuizamento de uma ordinária de revisão não tem o condão de impedir o curso normal da ação de busca e apreensão, com a liminar correspondente, certo que houve a necessária constituição em mora. O procedimento executivo lato sensu do Dec. Lei 911/66 não pode ser sobrestado pela mera propositura de ação ordinária. Eventuais abusos e ilegalidades na cobrança de juros e outras taxas contratuais podem ser reprimidos pelo Juiz no próprio procedimento da busca e apreensão, sabendo-se que ele tem o poder de, ao autorizar a purga da mora, ajustar o contrato aos termos da lei, definindo os parâmetros para elaboração do cálculo.
6a. O valor da causa na ação de revisão de contrato bancário deve corresponder à diferença entre o valor cobrado pelo banco e aquele que o autor entende como devido, salvo se o devedor não indicar o benefício econômico que pretende com a revisão, caso em que o valor, para efeito das custas judiciárias, deve equivaler ao valor integral do contrato.
7a. A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores, mas o reexame de forma retroativa (incidente sobre os contratos originários) somente pode ser viabilizado em sede de ação revisional, nunca no âmbito de embargos à execução do título executivo resultante da versão renegociada ou confessada da dívida.
8a. O ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não impede que a respectiva ação de execução seja proposta e tenha curso normal. O art. 791 do CPC, que trata das hipóteses específicas de suspensão da execução, não previu, dentre as situações que ali enumera, a existência de causa conexa pendente de julgamento. Além disso, a paralisação de um processo de execução logo no início representa, por via transversa, um impedimento ao direito constitucional de ação do exeqüente.
9a. Existe conexão entre ação de revisão e a execução quando decorram do mesmo contrato, mas a necessidade de reunião dos processos vai depender da existência dos embargos do devedor, quando ficar evidenciada a possibilidade de sentenças conflitantes.
10a. A conexão entre execução, ajuizada perante a Justiça Comum, e ação ordinária de revisão do contrato habitacional, junto à Justiça Federal, não autoriza a reunião dos processos quando esta última não detém competência para julgar ambos. Não é o caso também de se suspender a execução que corre no juízo estadual, pois o prosseguimento dela não frustra necessariamente eventual reconhecimento de direito (diminuição ou anulação da própria dívida) do devedor, naquele outro processo (de revisão).
[1] Enunciado 34 do Fórum dos Juízes das Varas Cíveis de Pernambuco.
[2] Nesse sentido foi editado o Enunciado n. 11 do Fórum dos Juízes das Varas Cíveis, criado pelo Instituto dos Magistrados de PE, de seguinte teor: «»Na ação de busca e apreensão (Dec. Lei nº 911/69), o juiz, ao autorizar a purgação da mora, pode, de ofício, ajustar o contrato aos termos da lei, definindo os parâmetros para elaboração do cálculo» (unânime).
[3] O seguinte aresto confirma esse entendimento: «Objetivando-se a reparação por danos morais, só fixado o ‘quantum’ se procedente a ação, ao final, lícita a estimativa feita pelo autor, posto que de caráter provisório, podendo ser modificada quando da prolação da decisão de mérito» (JTJ 203/241).
[4]«A petição da ação de revisão deve ser instruída com cópia do contrato bancário, devendo o autor apontar uma a uma as cláusulas que entende abusivas, juntando, quando for o caso, demonstrativo da evolução da dívida e da efetiva ocorrência de práticas ilegais, sob pena de ser indeferida» (Enunciado n. 34 do Fórum dos Juízes das Varas Cíveis de Pernambuco)
[5] O art. 598 do CPC manda aplicar subsidiariamente ao processo de execução as disposições que regem o processo de conhecimento.
[6] No sentido de que não é exaustivo o elenco das causas de suspensão constantes do art. 791: RT 482/272. Em sentido contrário: Amagis 12/85.
[7] É o caso, por exemplo, de suspensão da execução quando o devedor não é encontrado. Essa hipótese não está prevista expressamente no art. 791, mas a jurisprudência a tem admitido (STJ-3a. Turma, REsp 2.329-SP, rel. Min. Gueiros Leite, DJU 24.9.90).
[8] Pelo menos na hipótese de suspensão do processo por falta de bens a penhorar (inc. III do art. 791), a jurisprudência se divide sobre se prescrição corre durante esse período. No sentido de que a prescrição não tem curso durante o prazo em que a execução se acha suspensa: STJ-4a. Turma, REsp 38.399-4-PR, rel. Min. Barros Monteiro, DJU 2.5.94). Em sentido contrário: RSTJ 82/177). Especificamente sobre execução fiscal, o Superior Tribunal de Justiça editou recentemente a sua súmula 314, de seguinte teor: «Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente».
[9] Se recebidos com efeito suspensivo, nas hipóteses em que o prosseguimento da execução puder causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação – art. 739-A, § 1º.
[10] Nesse sentido, voto do Min. Eduardo Ribeiro no julgamento do REsp 221903-RS, 3a. Turma do STJ, j. 30.09.99, DJ 07.02.00), do qual se destaca o seguinte trecho: «Enquanto não houver sentença, com trânsito em julgado, declarando que o depósito efetuado satisfaz o que seria exigível, aquele terá sido apenas um ato unilateral do devedor. Dele não se pode concluir esteja a mora afastada. Assim fosse, bastava efetuar um depósito qualquer para impedir a ação do credor».
Cautelar para emprestar efeito suspensivo à apelação
Cautelar para emprestar efeito suspensivo à apelação ainda não recebida
Competência do tribunal
A exibição da prova eletrônica em juízo
A exibição da prova eletrônica em juízo. Necessidade de alteração das regras do processo civil?
Com o aumento da capacidade dos computadores para processar informações e da utilização cada vez em maior escala das ferramentas de comunicação telemática, advogados, juízes e profissionais do Direito de um modo geral vão se deparar com significantes problemas relacionados à preservação da prova eletrônica. Todo o processamento de uma informação por computadores ou a comunicação realizada entre eles, quer seja na forma do envio de um e-mail, na publicação de uma notícia em um web site ou na inserção de informações em uma base de dados, deixa registros na forma de arquivos que, em determinadas situações, podem ser relevantes para a prova de um determinado fato jurídico. Por conseguinte, arquivos formados por mensagens de e-mail, arquivos do Word, arquivos em HTML ou qualquer outra linguagem de programação para confecção de páginas web, podem ser imprescindíveis à demonstração da existência e verificação de um fato jurídico, e as partes litigantes em processo judicial podem requerer sua preservação para posterior apresentação e apreciação pelo juiz.
A produção em juízo da prova eletrônica tem amparo legal em razão da regra adotada pelo nosso Código de Processo Civil, no seu artigo 332, que admite «todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos» para a prova da verdade de fatos. Vigora, pois, no processo civil brasileiro, a regra da atipicidade dos meios de prova, significando que os fatos podem ser provados por qualquer meio, ainda que não os típicos (depoimento pessoal, confissão, exibição de documento ou coisa, testemunha, perícia ou inspeção judicial). Ademais disso, o documento eletrônico produzido de acordo com as regras da Medida Provisória 2.200-2/01, cuja autenticidade possa ser certificada por órgão competente vinculado à estrutura da ICP-Brasil, pelo sistema de chaves pública e privada, tem caráter de documento público ou particular (art. 10), presumindo-se verdadeiro quanto ao signatário (par. 1º).
Nesse sentido, sendo válida a apresentação de prova na forma eletrônica, para a comprovação de algum fato relevante ao julgamento de um processo judicial, e dada a utilização massificada das tecnologias da informação na sociedade atual, assistiremos a uma fase onde as requisições para produção desse tipo de prova passarão a ser uma constante nas lides cartorárias. Sérios prejuízos para uma parte decorrente da perda de informações potencialmente importantes podem se concretizar se não adotadas medidas para a sua preservação.
Acontece que a prova eletrônica em tudo difere da que é produzida em papel, em razão de suas características de intangibilidade, forma, volume e persistência. A informação armazenada eletronicamente é caracterizada pelo seu enorme potencial de volume quando comparada com aquela que é acondicionada em suportes tangíveis. Grandes corporações medem a capacidade de armazenamento de suas bases de dados em terabytes, unidade que isoladamente representa o equivalente a 500 milhões de páginas de texto escrito. Essas mesmas empresas recebem milhões de e-mails mensalmente. Além disso, a informação em formato eletrônico é também dinâmica: o mero ato de ligar ou desligar um computador pode alterar a informação que ele armazena. Os computadores quando em funcionamento reescrevem e deletam informação, quase sempre sem o conhecimento específico do operador. Uma terceira e importante característica é que a informação armazenada eletronicamente, ao contrário de textos escritos em papel, pode se tornar incompreensível quando separada do sistema que a criou.
Essas e outras diferenças fazem com que a apresentação em juízo da prova eletrônica se torne um processo muito mais complicado, demorado e dispendioso do que a simples juntada aos autos do processo de um documento na forma de papel. Sobretudo a questão da preservação da prova eletrônica, dado o seu caráter dinâmico, ganha importância nesse contexto. Essa realidade impõe que as normas processuais que regulam a produção da prova em juízo – especificamente o incidente de «exibição de documento ou coisa», previsto nos arts. 355 a 363 do CPC – sofram alteração para levar em conta a evolução das tecnologias da informação.
Com efeito, não parece sensato pretender estender o conceito de «documento» presente no art. 355 para englobar a exibição da prova eletrônica, pois a inteligência do Código é exageradamente restrita e construída dentro de uma concepção relacionada com a prova em forma de papel. A lei processual deve ser alterada para tratar a informação armazenada eletronicamente como categoria de prova distinta de «documentos» e «coisas».
A distinção entre as diversas espécies da prova será importante no que se refere à administração da coleta e submissão ao juízo da informação armazenada eletronicamente. Por exemplo, a parte ou terceiro ao cumprir com o dever de exibição de um arquivo eletrônico deve apresentá-lo no seu formato original (formato «nativo»), tal qual se encontre presente em seu sistema informático, ou deve oferecê-lo em roupagem que possa ser revisado pela outra parte ou pelo autoridade judiciária? Se o arquivo na moldura original não puder, por questões técnicas, ser facilmente compreendido, quem deve arcar com os custos da transmutação? A regra processual precisa ser alterada, portanto, para permitir à parte que requer a exibição especificar a forma da produção da prova eletrônica em juízo. Do contrário, salvo ordem judicial especificando esse aspecto, a parte a quem cabe o dever de exibição pode apresentar o arquivo solicitado na forma de arquivo «nativo», com todos os entraves que isso pode gerar.
Mas não é somente essa a dificuldade que surge quando se trata de obtenção, preservação e apresentação da informação armazenada em forma eletrônica, ante juízes e tribunais. O problema de lidar com informação privilegiada, assim considerada aquela submetida a algum privilégio legal ou constitucional de respeito à privacidade e sigilo profissional, dentre outros, também vai se tornar muito mais sensível. Na coleta da prova eletrônica, dado que o volume da informação apreendida em resposta a uma requisição judicial pode ser enorme, e que certas formas em que é produzida pode dificultar a análise de seu conteúdo, vai ser sempre mais difícil separar pedaços de informação privilegiada do restante do manancial informacional produzido e trazido a juízo em respeito à uma ordem judicial (de exibição ou preservação de prova) (1).
Outro ponto que certamente necessitará ser alterado na lei, em relação à prova eletrônica, diz respeito às hipóteses em que a parte pode se recusar a efetuar a exibição. O acesso a um dado eletrônico nem sempre é tão simples como a procura de um livro ou documento guardado em arquivo físico. Uma parte ou terceiro pode ser dispensado de produzir prova eletrônica em função dos altos custos e dificuldades que possa representar essa produção. Por exemplo, a informação solicitada pode já não mais estar disponível em razão da existência de sistema informático que faça eliminação periódica de arquivos, por estar contida em sistema não mais em uso, em back-up exclusivo para casos de desastres etc. Se uma das partes requerer a produção de dados em tais circunstâncias, à outra parte deveria ser dada oportunidade de mostrar que seu acesso não é razoável, dados os custos e dificuldades envolvidas na sua coleta. Um juiz pode considerar essas dificuldades e impor as condições para a produção da prova, inclusive que as despesas sejam suportadas pela parte que a requereu ou pode, por outro lado, entender que a prova requerida não é realmente útil e necessária para o julgamento da lide, e simplesmente indeferir sua produção (2).
Ainda podemos citar outro aspecto delicado quanto à produção de prova eletrônica em juízo. Diz respeito a identificar táticas de litigância baseadas em má-fé. Uma parte ou terceiro pode simplesmente destruir as informações contidas em seu computador, relacionadas com as questões discutidas em juízo e objeto de pedido de exibição, assim que toma conhecimento ou desconfia que poderão ser requisitadas. Em se tratando de informação armazenada eletronicamente, vai sempre ser mais difícil identificar se a perda das informações se originou de um ato intencional e doloso da parte ou foi resultante do processo normal de funcionamento do sistema informático.
Uma das características dos sistemas informáticos é que eles funcionam reciclando, reescrevendo e alterando a informação armazenada eletronicamente. Esse é um problema que não se tem de lidar quando se cuida da preservação de uma prova na forma estática representada pelo papel; a sua destruição não pode ocorrer a não ser como resultado de um ato consciente de uma determinada pessoa. Os sistemas computacionais, ao contrário, alteram e destroem parte da informação armazenada como conseqüência de suas operações de rotina, fazendo com que o risco de perda da informação eletrônica seja significantemente superior ao da informação inserida em suporte físico (papel). Por essa razão, a lei processual deve conter exceções quando se tratar de impor sanções à parte que deixar de exibir informação armazenada eletronicamente, nos casos e que fique demonstrado que a sua perda foi resultado de uma operação de rotina do sistema informático e que não houve má-fé (3) .
Essas apenas algumas questões que devem ser discutidas e melhor analisadas quando se trata da produção e exibição da prova eletrônica, diante da nova realidade do desenvolvimento das tecnologias da informação. Em abril do ano passado, a Suprema Corte dos EUA aprovou um relatório contendo sugestões de alteração em regras do Federal Rules of Civil Procedure, na parte que trata do procedimento do Discovery. Essas sugestões foram encaminhadas ao Congresso e entraram em vigor em 1º de dezembro deste ano. É claro que não poderíamos simplesmente reproduzir para o Direito interno essas regras que alteraram o procedimento do Discovery , em razão das diferenças essenciais entre o Common Law e o nosso sistema jurídico. Na fase do Discovery, as partes têm que revelar às outras as informações e documentos que dão suporte às alegações autorais e da defesa; cada parte tem que fornecer o nome e qualificação das pessoas que pretende ouvir e cópia de todos os documentos que estão em sua custódia, que pretenda utilizar em sua defesa processual . É portanto uma realidade procedimental completamente diferente da nossa sistemática processual civil, o que impede esse tipo de solução. Mas as alterações legais que lá foram feitas revelam que os norte-americanos estão na nossa frente no que diz respeito ao problema da coleta, preservação e apresentação da prova eletrônica .
Isso serve ao menos para despertar entre nós a necessidade de começar por aqui a discussão sobre o assunto. De nossa parte, podemos recomendar que, como primeira medida, pode ser retocada a redação do art. 355 do CPC, para que passe também a fazer referência à informação armazenada eletronicamente. Sua redação ficaria assim: «O juiz pode ordenar que a parte exiba documento, coisa ou informação armazenada eletronicamente que se ache em seu poder».
(1) O art. 363 do CPC estabelece que a parte e o terceiro podem se recusar a exibir documento ou coisa em juízo, quando a exibição acarretar a divulgação de fatos concernentes à própria vida da família (inc. I) ou a cujo respeito, por estado ou profissão, devam guardar segredo (IV).
(2) É forçoso reconhecer que o art. 363 do CPC já contém norma autorizando a recusa da exibição de prova diante de «outros motivos graves», segundo prudente arbítrio do juiz.
(3) Assim, nessas hipóteses de circunstâncias especiais, em que fique provado que a parte falhou em apresentar uma prova eletrônica em razão da perda de informação resultante de uma operação de rotina do sistema informático, e que estava de boa-fé, o Juiz pode deixar de considerar verdadeiros os fatos que a outra parte pretendia provar. Se for um terceiro que faltar com o dever de exibição em razão das mesmas circunstâncias, o Juiz deixa de atribuir responsabilidade por crime de desobediência – sanção hoje prevista no art. 36
Recife, 21.09.06
A decisão contra o Pirate Bay
A decisão contra o Pirate Bay e sua repercussão sobre o futuro do direito autoral na Internet
Quatro diretores do famoso site Pirate Bay[1] foram condenados, na última sexta feira (dia 17 de abril), a um ano de prisão e ao pagamento de indenização no valor de US$ 3,6 milhões (cerca de R$ 7,6 milhões), a título de danos e prejuízos a gigantes da indústria audiovisual (como Warner Bros, Sony Music Entertainment, EMI e Columbia Pictures), por cumplicidade na violação de direitos autorais sobre filmes, jogos eletrônicos e músicas. A Justiça sueca considerou que a lei sobre direitos autorais foi violada porque os condenados auxiliavam milhões de usuários a fazer download de arquivos de música, filmes e jogos de computador protegidos legalmente. O julgamento, que durou três semanas, era considerado um dos mais importantes na luta da indústria do entretenimento contra a pirataria.
Fundado em 2003, o Pirate Bay é um dos sites mais populares da Internet. Estima-se que tenha 22 milhões de usuários. Possibilita a troca de arquivos de filmes, músicas e jogos por meio da tecnologia do bitorrent, que é um protocolo de processamento rápido que permite ao utilizador fazer download (descarga) de arquivos indexados em websites. O Pirate Bay hospeda os torrents, arquivos que funcionam como guias para baixar filmes, músicas e jogos espalhados pela Internet. O usuário, ao utilizar o torrent, consegue reunir vários trechos ou pedações do filme, música ou jogo desejado, que estão alocados nos computadores de outros usuários da rede[2]. Nenhum material, no entanto, fica hospedado no servidor do Pirate Bay.
Em razão da peculiaridade dessa tecnologia – os arquivos protegidos por direitos autorais não ficam hospedados no servidor do site -, os seus diretores alegaram que não poderiam ser responsabilizados pela troca ilegal de conteúdo, devendo a responsabilização recair sobre os internautas que realizam o compartilhamento. A indústria fonográfica discorda. Seus advogados alegam que ao financiar, programar e administrar o site, os quatro estão infringindo os direitos autorais dos titulares dos arquivos baixados.
A Corte sueca, como se viu, terminou dando razão à acusação. Todos os quatro diretores condenados haviam sido acusados, pela Promotoria, de «assistir no ato de fazer o conteúdo protegido pelo direito autoral disponível». A Corte considerou que o compartilhamento de arquivos mediante a utilização dos serviços do Pirate Bay «constitui uma ilegal transferência para o público de conteúdo protegido pelo direito autoral». A Corte ainda acrescentou que os quatro acusados trabalhavam em equipe, foram advertidos de que material protegido estava sendo trocado por meio do site e que eles auxiliaram e assistiram nas infrações. Ficou assentado na decisão judiciária que os acusados ajudaram os usuários a cometer as informações «provendo um website com sofisticadas funções de procura, simples funções de download através do rastreador ligado ao website«. O Juiz Tomas Norstrom ainda registrou que a Corte convenceu-se de que o site era dirigido com fins comerciais, circunstância sempre negada pelos condenados. «O crime foi cometido de forma comercial e organizada», disse o Juiz.
Essa não foi uma decisão definitiva. Os dirigentes do site Pirate Bay já anunciaram sua disposição de recorrer para um tribunal superior, o que pode significar que o destino do site não está selado e que uma definição sobre o caso pode levar anos. Analistas duvidam que a decisão restrinja o download ilegal de conteúdo digital na Internet. «Sempre que você se livra de um representante desse tipo de serviço, outro maior aparece. Quando o Napster se foi, vieram diversos outros. O problema é que a troca de arquivos na internet cresce a cada ano, dificultando qualquer ação da indústria», afirmou o analista Mark Mulligan, especialista da Forrester Research para o setor musical[3]. Alguns apontam, ainda, que a inexistência de uma lei internacional para os direitos autorais permite que sites dedicados ao download ilegal de conteúdo protegido simplesmente se mudem para um novo país, se a legislação de seu país de origem ficar mais rígida. Além do mais, existem diversos outros sites que desempenham a mesma função do Pirate Bay. Ele é apenas um dos maiores – e provavelmente o mais emblemático – entre os sites buscadores de torrents que existem espalhados pela Internet, daí que se for fechado[4], não fará muita diferença, uma vez que existem outros locais na rede que oferecem meios para o compartilhamento de arquivos pirateados. É o que argumentam.
É evidente, no entanto, que o recente julgamento representa mais uma vitória das gravadoras e da indústria de filmes na luta que estabeleceram contra empresas e fabricantes de softwares de redes peer-to-peer. A decisão deixa claro, por outro lado, algumas tendências na batalha judicial que vem sendo travada há anos entre essas partes.
Uma das primeiras conseqüências que podem ser observadas como resultado do julgamento sueco é a acertada estratégia processual de mirar nos fabricantes e dirigentes de empresas que facilitam a troca de arquivos digitais. A indústria fonográfica e grandes estúdios de filmes têm tomado medidas judiciais também contra os usuários que compartilham arquivos pirateados. Essa iniciativa, no entanto, tem se mostrado pouco eficaz, além de angariar a antipatia e aversão dos internautas e de grupos e entidades civis ligados à defesa das liberdades civis. Na Europa, por exemplo, a maioria das pessoas parecem inclinadas a defender o direito de troca de músicas e filmes livremente na Internet. Duas semanas atrás, os legisladores franceses rejeitaram um projeto de lei que permitia aos provedores interromper a conexão à Internet de usuários que compartilham músicas e filmes ilegalmente. Some-se a isso o fato de que muitas cortes judiciárias e magistrados têm se negado a autorizar que os provedores forneçam dados pessoais de usuários que trocam arquivos na Internet (se for para processá-los por infração de direitos autorais), sob o fundamento de que pode haver desnecessária invasão da privacidade.
Já quando se trata de acionar empresas e grupos de pessoas que desenvolvem ou distribuem programas e tecnologias que facilitam a troca de arquivos digitais, o resultado das cortes judiciárias tem sido quase sempre favoráveis aos detentores dos direitos autorais. É só lembrar o desfecho de casos famosos, como os julgamentos do Napster, do Grokster e do Kazaa.
A utilização de estrutura descentralizada de tecnologia para troca de arquivos também parece não livrar os distribuidores dos dispositivos e protocolos de algum tipo responsabilização. Como todos se recordam, o Napster foi o primeiro site popular que permitia aos usuários trocarem arquivos de áudio sem ter que pagar coisa alguma. Depois de uma longa batalha judicial, o responsável pela criação do site foi considerado um «infrator colaborativo», que à luz do direito autoral (copyright law) significa uma pessoa que não pratica diretamente um ato ilícito mas colabora de alguma maneira com a infração cometida por outra. Pesou na decisão da corte norte-americana que julgou o caso a circunstância de que os arquivos de música eram hospedados no servidor do site processado. A partir daí, outras empresas continuaram a fornecer softwares para redes peer-to-peer, apesar do potencial deles para piratear músicas e vídeos protegidos pelo direito autoral, apenas utilizando uma tecnologia de compartilhamento diferente da do Napster, ou seja, sem hospedagem dos arquivos em seu servidor. Foi o caso do Grokster e do Morpheus, que permitiam a troca de arquivos pela Internet, através de conexão entre os próprios computadores dos internautas[5]. No julgamento do caso MGM v. Grokster, a Justiça norte-americana acabou[6] aplicando um tipo de responsabilidade solidária e condenado a empresa ré por infração a direitos autorais. A Suprema Corte entendeu que os fabricantes não só tinham conhecimento das infrações cometidas por seus usuários, mas também, ainda que indiretamente, incentivavam essas atividades, devendo ser responsáveis pelos atos resultantes dos terceiros que se utilizavam do produto[7].
Essa é uma linha de pensamento assemelhada à que foi adotada, agora, no caso do Pirate Bay. O site não fornece diretamente os arquivos pirateados, mas nele o internauta pega os torrents, arquivos que funcionam como guias para baixar filmes, músicas e jogos espalhados pela Internet. Ou seja, é evidente que o Pirate Bay auxilia (fornecendo previamente os torrents) a ação do internauta de se conectar para reunir vários trechos ou pedações dos filme, música ou jogo desejados, que estão alocados nos computadores de outros usuários da rede.
Portanto, a tendência parece ser de que as cortes judiciárias vão considerar responsáveis solidários, no cometimento de infrações a direitos autorais, quem de qualquer forma auxilie, incentive ou assista os internautas a baixarem, embora por seus próprios meios, arquivos ou obras protegidos pelo direito autoral. A disseminação de novos tipos de arquitetura descentralizada para compartilhamento de arquivos não livrará os disseminadores desse tipo de tecnologia da responsabilização. Além do mais, embora não se tenha uma lei internacional (que valha em todos os países) sobre proteção de direitos autorais, as leis dos países nessa matéria são bem parecidas, e quase sempre dão margem à responsabilização solidária com o contrafator direto, quando evidenciada a participação (ainda que indireta) na utilização não autorizada da obra intelectual.
O Pirate Bay apenas provia a tecnologia que aponta para onde os arquivos estão armazenados e obviamente, ao fazer isso, não poderia escapar da responsabilização, já que sua intenção em facilitar a reprodução não autorizada de filmes, músicas e outros conteúdos digitais protegidos era evidente. Diga-se, ainda, que sem a responsabilização das empresas e pessoas que desenvolvem tecnologias com a intenção de serem utilizadas na pirataria de obras intelectuais, será impraticável a proteção dos direitos autorais na Internet. Responsabilizar somente os infratores diretos é tarefa quase impossível, dado o imenso número de internautas (milhões de pessoas) que se utilizam de tecnologias para o compartilhamento de arquivos digitais. A única alternativa prática é ir diretamente contra o distribuidor de dispositivo tecnológico que permite a reprodução ilegal, sob o fundamento da responsabilidade solidária.
A decisão da Corte sueca demonstrou que mesmo empresas que tenham sede ou servidores instalados fora dos Estados Unidos estão sujeitas a esse tipo de responsabilização. A recente decisão não significa, entretanto, que os problemas das grandes gravadoras e estúdios de cinema (e titulares de direitos autorais em geral) cessaram por aí ou que tenham vencido a guerra contra os piratas. Mas esse novo precedente demonstra que cortes européias também não estão dispostas a tolerar a facilitação da pirataria.
Os críticos da decisão alegam que a Corte sueca decidiu sobre pressão dos EUA. Para alguns usuários, os operadores do Pirate Bay são verdadeiros heróis, que têm contribuído para livre acesso a músicas, filmes e outras produções necessárias à difusão do conhecimento humano. Para a Corte sueca, eles não passam de criminosos.
Recife, 17.04.09.
[2] Segundo informação disponibilizada na Wikipedia, «na rede BitTorrent os arquivos são quebrados em pedaços de geralmente 256Kb. Ao contrário de outras redes, os utilizadores da rede BitTorrent partilham pedaços em ordem aleatória, que podem ser reconstituídos mais tarde para formar o arquivo final. O sistema de partilha optimiza ao máximo o desempenho geral de rede, uma vez que não existem filas de espera e todos partilham pedaços entre si, não sobrecarregando um servidor central, como acontece com sites e portais de downloads, por exemplo. Assim, quanto mais utilizadores entram para descarregar um determinado arquivo, mais largura de banda se torna disponível».
[3] Em reportagem publicada no site G1 da Globo.com, em 17.04.09 – link para a notícia: http://g1.globo.com:80/Noticias/Tecnologia/0,,MUL1088598-6174,00.html
[4] No caso decidido pela Justiça sueca, foram processados os dirigentes do site, pessoas físicas.
[5] Tanto um software quanto o outro (o Grokster e o Morpheus), ambos distribuídos gratuitamente, não necessitavam de um computador (servidor) central para funcionar como mediador na troca de arquivos entre os usuários. Os softwares permitiam que os usuários trocassem arquivos eletrônicos através de redes peer-to-peer, assim chamadas porque os computadores se comunicam diretamente uns com os outros, e não através de um servidor central, como acontecia no caso do Napster. Quando um usuário faz uma pesquisa por algum tipo específico de arquivo (de música, filme ou outro qualquer), a solicitação é enviada para outros computadores conectados na rede, os quais, por sua vez, vão repassando-a adiante até que encontre um computador que tenha armazenado o arquivo solicitado. A resposta é, então, comunicada ao computador que fez a requisição, e o usuário pode a partir daí fazer o download do arquivo, sem a necessidade de um computador central (servidor) que intercepte ou faça a mediação da transferência. Não há, nesse tipo de rede para troca de arquivos, um ponto central que intercepte ou controle as pesquisas e buscas por arquivos, como acontecia com o Napster.
[6] O caso foi julgado pela Suprema Corte dos EUA, no dia 29 de junho de 2005.
[7] Ver, a respeito desse julgamento (MGM v. Grokster), dois artigos que escrevemos, ambos publicados no site do IBDI – Instituto Brasileiro de Direito da Informática, e que podem ser acessados nos seguintes links: http://www.ibdi.org.br/site/artigos.php?id=75 e http://www.ibdi.org.br/site/artigos.php?id=64
A responsabilidade dos bancos pelos prejuizos resultantes do phising
A responsabilidade dos bancos pelos prejuizos resultantes do phising
Sumário:
1- Introdução.
2- Definições
2.1 – Definição de phishing
2.2- Definição de pharming
2.3- Definição de DNS poisoning
3- Inviabilidade de se responsabilizar o provedor de acesso à Internet ou de hospedagem
4- Inviabilidade de se responsabilizar os provedores de serviços de e-mail
5- Insuficiência das leis que criminalizam a conduta do ofensor direto (phisher)
6. Teoria da responsabilidade dos bancos prestadores de serviços de Internetbanking
a) argumento de ordem econômica.
b) incentivo ao desenvolvimento de ferramentas tecnológicas.
c) argumento da possibilidade técnica de evitar a fraude
6.1. Adequação do novo padrão de responsabilidade à legislação existente
6.1.1 Responsabilidade contratual regida pelo CDC
7. Soluções tecnológicas empregadas pelos bancos para evitar fraudes eletrônicas
a) Firewall
b) Criptografia de dados (SSL)
c) Teclado Virtual
d) Certificado Digital
8. Proporção entre adoção de práticas seguras pelos bancos e a diminuição do grau de responsabilização
9. Conclusões
1- Introdução
O desenvolvimento do comércio eletrônico está intimamente relacionado com as medidas que os legisladores e juízes adotam em respeito a certos temas que assomam no ciberespaço. O incremento dos negócios e a evolução da própria rede dependem de como os legisladores e as cortes judiciárias se posicionam em relação a conflitos que surgem a cada dia. Um exemplo de decisão judicial que certamente tem impacto no mundo dos negócios na rede mundial é aquela relacionada com a responsabilidade civil dos bancos por ataques de phishing (1). Dependendo de como os tribunais e juízes passem a decidir essa questão, responsabilizando (ou não) os bancos pela reparação dos seus clientes, vítimas desse tipo de fraude tecnológica, pode haver alteração no modelo de negócios hoje estabelecido e disseminado na rede. Não é difícil, por exemplo, prever uma diminuição da utilização dos serviços bancários on line, se os clientes de banco perderem a certeza quanto a uma reparação completa dos danos financeiros decorrentes do phishing. Por outro lado, os bancos certamente procederão a modificações no modelo de relacionamento bancário na Internet, se a Justiça se inclinar a responsabilizá-los de forma objetiva por toda e qualquer fraude financeira.
Como se vê, o tema da responsabilidade dos bancos no ressarcimento dos prejuízos causados pelos ataques de phishing é realmente delicado, e de interesse de todo o conjunto da sociedade, em razão da disseminação dos serviços de Internetbanking (2), já tão incorporados ao nosso dia-a-dia e sem os quais não mais seria possível o atendimento bancário de forma eficiente. Sem o uso das tecnologias da informação, sobretudo a utilização da rede mundial de comunicação (Internet), na prestação dos serviços bancários, é certo dizer que seria impraticável o fornecimento desses serviços de forma massificada, conveniente e eficiente, tal qual são prestados atualmente. O maior desafio nessa área, no entanto, é superar os problemas de segurança e definir responsabilidades pelas conseqüências de ataques e invasões de sistemas informáticos. Definir, com precisão, as responsabilidades dos prestadores dos serviços bancários on line ajuda a impulsionar o desenvolvimento desse mercado, já que elimina as incertezas quanto a quem deve e em quais circunstâncias arcar com os prejuízos do phishing e outras práticas tecnológicas fraudulentas.
Acontece que estabelecer esquemas de atribuição de responsabilidade civil nesse contexto não é tão fácil, dada a intricada cadeia de papéis e funções que cada um dos atores da comunicação informática assume. Para propiciar a comunicação na prestação do serviço de Internetbanking, exige-se algum tipo de envolvimento ou participação do provedor de Internet, do fabricante do programa gerenciador de e-mail, do fabricante dos softwares e soluções de segurança, do fabricante do software de navegação, da instituição bancária, da pessoa que desenvolve e dá manutenção ao sistema (de Internetbanking) e do próprio internauta (cliente do banco). É justamente a participação e o envolvimento desses diversos atores da comunicação informática que faz com que se torne difícil definir qual deles e em quais circunstâncias pode ser responsabilizado a reparar os prejuízos financeiros resultantes de fraudes tecnológicas como o phishing. Isso faz com que esse tema se torne pouco explorado e dos mais complexos.
A complexidade e a importância do tema nos instigou a incursionar na matéria, para colaborar na tarefa de definir esquemas de imputação de responsabilidade aos prestadores de serviços bancários on line. O aumento gradativo dos ataques de phishing nos últimos anos (3), e a apreensão que isso tem causado ao comércio eletrônico, também nos estimulou a escolher esse tema como foco de nossa investigação científica. A falta de trabalhos doutrinários sobre a matéria da mesma forma funcionou como fator decisivo na escolha da definição do campo de pesquisa. Pelo menos até onde sabemos, não há registro na doutrina brasileira de qualquer trabalho sobre a questão da responsabilidade civil dos bancos pelas conseqüências dos ataques de phishing. Mesmo na doutrina alienígena (de acordo com pesquisa que fizemos na Internet) (4), não encontramos referência a qualquer artigo ou ensaio científico sobre esse assunto. Alguns autores estrangeiros escreveram sobre a possibilidade da responsabilização dos intermediários da comunicação eletrônica (como os provedores de acesso à Internet) (5), mas não especificamente sobre a responsabilidade civil dos bancos diante desse tipo de fraude financeira.
No nosso trabalho, procuraremos identificar o esquema de imputação de responsabilidade – se baseado na culpa, fundado no dever objetivo de reparar o dano (responsabilidade objetiva) ou apoiado na noção de vício (do serviço) – que melhor se enquadra aos bancos, em face dessas situações (ataques fraudulentos). Em outro trecho, mostraremos a inviabilidade de se responsabilizar o provedor de acesso à Internet pelos prejuízos decorrentes do phishing.
É importante esclarecer que só iremos tratar da responsabilização do banco pelos tipos primitivos (e mais conhecido) de phishing, aqueles que pressupõem sempre o logro ao destinatário de uma mensagem eletrônica (e-mail), que o faz repassar suas informações pessoais (bancárias) ao criminoso (fraudador), seja clicando num link (que descarrega o vírus), abrindo arquivo anexo (que contém o vírus) ou inserindo manualmente informações em um site falso. Em ambas essas situações, o indivíduo recebe previamente a mensagem de e-mail enganosa, induzindo-o a abrir o arquivo anexo contendo vírus ou a clicar em um link que descarrega o vírus ou o leva para um site falso.
Esses são os casos mais comuns de «identity theft» (furto de identidade, traduzido para o português) cometidos com uso de comunicações eletrônicas, em que o primeiro estágio da fraude consiste no logro do usuário do serviço de Internetbanking, levando-o a pensar que está fornecendo suas informações pessoais à instituição confiável, com quem mantém relação contratual, quando na verdade está repassando seus dados bancários ao phisher (agente do crime de phishing). O destinatário da mensagem também é enganado quando é induzido a clicar sobre um link (no corpo da própria mensagem) ou abrir arquivo anexado a ela, ação que descarrega um programa malicioso (malware) que se apodera de seu computador e repassa as informações nele contidas ao phisher, ou intercepta as comunicações feitas pelo terminal infectado com os sites de bancos (6), capturando informações como número de contas e senhas.
Esses tipos de fraudes, portanto, compreendem sempre esse elemento, da burla, do ato ou efeito de enganar a pessoa para que forneça seus dados pessoais. Isso ocorre tanto quando um indivíduo preenche um formulário em um spoofing site (site falso estruturado com a aparência do site legítimo) ou quando abre um arquivo que contém vírus, o qual é ativado e, apropriando-se de sua máquina (da vítima), funciona repassando os dados contidos no computador para o fraudador (hacker ou criminoso cibernético). Em ambas essas situações, o indivíduo recebe previamente a mensagem de e-mail enganosa, induzindo-o a abrir o arquivo anexo contendo vírus ou clicar em um link que descarrega o vírus ou o leva para um site falso.
Faremos uma exceção para incluir em nosso trabalho um único tipo de fraude que não pressupõe necessariamente, no seu iter criminoso, a remessa prévia de uma mensagem de e-mail para o sujeito vítima da trama. Trata-se da fraude conhecida como pharming, procedimento que redireciona os programas de navegação (browsers) dos internautas para sites falsos. Podemos explicar a razão dessa inclusão. Mesmo essa espécie pressupõe um ataque dirigido à pessoa do usuário (cliente) dos serviços bancários, para captura de informações. Mesmo aí ainda há o elemento do logro ao usuário, o qual, apesar de não ter recebido uma mensagem prévia de e-mail (7), teve seu browser direcionado para um site falso. O engano corresponde a encarar o site falso como legítimo, e por conta desse engano, entrega suas informações pessoais ao criminoso, pensando estar diante do operador do site legítimo. O alvo primário do criminoso, mesmo nesse caso de pharming, é sempre o cliente bancário (ou seu computador pessoal).
Uma modalidade de pharming não será enquadrada dentre os tipos de fraude objeto do nosso estudo, já que nessa hipótese o provedor de acesso à Internet é o juridicamente responsável (na órbita civil) pela reparação de seus efeitos. É o chamado DNS poisoning (algo próximo a «evenenamento do DNS»). Nessa modalidade também ocorre, como nos demais casos, uma ação destinada a coletar informações pessoais da vítima (para depois serem utilizadas na fase seguinte do crime). Com o servidor DNS do provedor «envenenado», e alteradas as configurações de um determinado endereço web, o internauta é direcionado para um site falso mesmo teclando o endereço correto. Nessa situação, no entanto, o ataque inicial não foi direcionado ao computador da vítima (cliente do banco), mas sim ao sistema informático do seu provedor de Internet, que pode, por essa razão, ser tido como responsável pelas conseqüências do ataque, por falha de segurança do sistema (8).
Em suma, o nosso trabalho abrange a investigação sobre responsabilização dos bancos em todos aqueles casos em que a fraude tem como alvo primário o cliente bancário. É o seu computador que é infectado por um vírus ou é a própria vítima que, induzida por uma mensagem fraudulenta, repassa as informações para o fraudador. Não se trata de invasão ou ataque direto ao próprio sistema informático do banco, nem tampouco ao do provedor de Internet ou exploração de alguma falha no software de navegação (ou qualquer outro). Todas as modalidades de phishing a serem estudadas como pressuposto para a responsabilização do banco (fornecedor do serviço de Internetbanking), têm no elemento do logro ao usuário ou infecção do seu computador a origem do procedimento criminoso. São casos em que o alvo primário da fraude é o cliente do banco, de quem (ou de seu computador) são capturadas as informações pessoais para a consecução das etapas seguintes do esquema criminoso. O sistema informático do banco não sofre propriamente um ataque em que são exploradas suas vulnerabilidades ou falhas de segurança, pois o criminoso nele ingressa como se fosse o legítimo usuário (já que se apropria previamente das informações pessoais e sigilosas deste). O acesso se dá pelos meios permitidos pelo próprio sistema, através da digitação da senha e informações do usuário.
É em face desse tipo de fraude ou ação criminosa que examinaremos a responsabilidade do banco, pelos prejuízos econômicos ao patrimônio das vítimas (clientes). Nesse esforço, investigamos se o fundamento da responsabilidade deve ser o do risco de sua atividade (responsabilidade objetiva), se deve responder com base no aspecto subjetivo de sua conduta (culpa) ou se lhe deve ser reconhecida uma responsabilidade especial (fundada na noção de vício do serviço). Uma vez definida a noção de vício como fundamento da responsabilização, procuramos apontar quais situações específicas podem denotar a imprestabilidade do serviço on line (vício de inadequação) capaz de justificar o dever do banco de reparar o dano sofrido por seus clientes.
Estamos certos de que, com esse escorço que ora apresentamos, contribuímos de forma decisiva para a evolução da teoria da responsabilidade civil em nosso país, já que, conforme antes referimos, ainda não existe na doutrina brasileira qualquer trabalho sobre a matéria objeto de nossa investigação.
2- Definições
Antes de passar a examinar propriamente as teorias da responsabilidade civil, salientamos a importância da compreensão dos fenômenos ocorrentes no campo das comunicações informáticas, sem a qual não seria possível o desenvolvimento de raciocínio jurídico para identificar os sujeitos responsáveis pela reparação dos prejuízos econômicos. É preciso, antes de mais nada, saber diferenciar cada um dos aspectos técnicos das diversas modalidades de golpes e truques informáticos com objetivo de furto de informações pessoais, para identificar quem, entre os diversos atores da comunicação informática, pode ser responsabilizado pelos danos causados à vítima (o sujeito que tem os dados pessoais furtados).
A primeira etapa do phishing consiste na apropriação de informações de outra pessoa (como nome, informações de conta e senha bancária), para serem utilizadas fraudulentamente nas fases seguintes da trama (transferências de numerários de contas correntes e aplicações financeiras). É um ato de «impersonificação» (numa incorporação para o português do termo inglês impersonation), consistente na apropriação de informações pessoais do cliente do banco com finalidades ilegais. O criminoso se apodera da informação de outra pessoa, sem o conhecimento desta, que é enganada de forma fraudulenta. Nesse sentido, o phishing pode ser enquadrado na rubrica do «furto de identidade» (identity theft), que é a expressão utilizada para denominar de forma genérica o crime de maior tendência ao crescimento nos tempos atuais (9). O furto de informações pessoais pode ser realizado com as mais diversas finalidades, tanto para imigração ilegal, espionagem, terrorismo ou mesmo para fins aparentemente menos ilícitos, como o marketing e publicidade dirigida. As estratégias para a apropriação dos dados pessoais também podem variar, com a utilização de meios tecnológicos ou não. Os dados podem ser obtidos em sites e bancos de dados informáticos ou em qualquer arquivo físico ou fichário. Mas consiste sempre numa exploração dos meios de identificação de uma pessoa para finalidades ilegais. O phishing, como espécie de furto de identidade, apenas tem a peculiaridade de ser realizado em ambientes de redes informáticas (Internet) e objetivar o furto de informações específicas (dados bancários), para finalidades também específicas (transferência de numerário existente em contas bancárias) (10). Não deixa, no entanto, de ser uma exploração ilegal de informações pessoais alheias e, como tal, forma específica do crime de «furto de identidade».
Como diversos esquemas inteligentes são empregados para burlar a vítima do phishing (e se apoderar de suas informações bancárias) – que pode ter seu computador invadido, ser levada a ingressar em site falseado através de link em mensagem eletrônica recebida ou ter seu programa navegador infectado (levando-a a um endereço diverso do site legítimo, mesmo sem receber qualquer tipo de e-mail) -, é imprescindível a visualização e conhecimento das diversas técnicas fraudulentas, para compreender a participação do prestador dos serviços bancários on line e dos demais atores da comunicação informática e, dessa forma, poder apontar em quais situações uma determinada conduta justifica a imposição de responsabilização.
Relacionando e compreendendo os mecanismos e objetos necessários à realização de cada ação ou operação fraudulenta, podemos definir responsabilidades na órbita civil, daí a importância da compreensão de conceitos fundamentais como phishing, pharming e DNS poisoning, que são fornecidos nos itens seguintes.
2.1 – Definição de phishing
A palavra phishing, uma corruptela do verbo inglês fishing (pescar, em português), é utilizada para designar alguns tipos de condutas fraudulentas que são cometidas na rede. São muito comuns as mensagens eletrônicas (e-mails) onde são feitas propagandas de pechinchas comerciais, são solicitadas renovações de cadastro, são feitos convites para visitação a sites pornográficos, são ofertadas gratuitamente soluções técnicas para vírus, entre outras. Não sabe a pessoa que recebe tais tipos de e-mail que as mensagens são falsas, enviadas por alguém disposto a aplicar um golpe (11). Geralmente, o destinatário é convidado a clicar sobre um link que aparece no corpo da mensagem ou abrir um arquivo anexo e, ao fazê-lo, aciona o download de um programa malicioso que vai penetrar no seu computador e capturar informações sensíveis. Também ocorre de, ao clicar no link sugerido, ser enviado a um site falso, com as mesmas características de apresentação gráfica de um site popularmente conhecido (a exemplo do site um grande banco ou um site de comércio eletrônico) (12). Ao chegar no site falseado, a pessoa é instada a inserir informações pessoais (número de cartão de crédito ou de conta bancária) e, uma vez de posse dessas informações, o fraudador as utiliza para fazer saques e movimentações bancárias ou outras operações (em nome da vítima).
A categoria delituosa em questão consiste exatamente nisso: em «pescar» ou «fisgar» qualquer incauto ou pessoa desavisada, não acostumada com esse tipo de fraude, servindo a mensagem de e-mail como uma isca, uma forma de atrair a vítima para o site falso (onde será perpetrado o golpe, de furto de suas informações pessoais). O phishing, portanto, é uma modalidade de spam, em que a mensagem além de indesejada é também fraudulenta (scam).
2.2- Definição de pharming
Recentemente tem sido registrada uma nova modalidade de ataque phishing que não é perpetrada através do envio de mensagens de e-mail. Trata-se de um tipo de golpe que redireciona os programas de navegação (browsers) dos internautas para sites falsos. A essa nova categoria de crime tem sido dado o nome de pharming.
O pharming opera pelo mesmo princípio do phishing, ou seja, fazendo os internautas pensarem que estão acessando um site legítimo, quando na verdade não estão. Mas ao contrário do phishing, o qual uma pessoa mais atenta pode evitar simplesmente não respondendo ao e-mail fraudulento, o pharming é praticamente impossível de ser detectado por um usuário comum da Internet, que não tenha maiores conhecimentos técnicos. Nesse novo tipo de fraude, os agentes criminosos se valem da disseminação de softwares maliciosos que alteram o funcionamento do programa de navegação (browser) da vítima. Quando esta tenta acessar um site de um banco, por exemplo, o navegador infectado a redireciona para o spoof site (o site falso com as mesmas características gráficas do site verdadeiro). No site falseado, então, ocorre a coleta das informações privadas e sensíveis da vítima, tais como números de cartões de crédito, contas bancárias e senhas.
No crime de pharming, como se nota, a vítima não recebe um e-mail fraudulento como passo inicial da execução, nem precisa clicar num link para ser levada ao site «clonado». Uma vez que seu computador esteja infectado pelo vírus, mesmo teclando o endereço (URL) correto do site que pretende acessar, o navegador a leva diretamente para site falseado. O pharming, portanto, é a nova geração do ataque de phishing, apenas sem o uso da «isca» (o e-mail com a mensagem enganosa). O vírus reescreve arquivos do PC que são utilizados para converter os endereços de Internet (URL´s) em números que formam os endereços IP (números decifráveis pelo computador). Assim, um computador com esses arquivos comprometidos, leva o internauta para o site falso, mesmo que este digite corretamente o endereço do site intencionado.
2.3- Definição de DNS poisoning
A mais preocupante forma de pharming é conhecida como «DNS poisoning» (traduzindo para o português, seria algo como «envenenamento do DNS»), por possibilitar um ataque em larga escala. Nessa modalidade, o ataque é dirigido a um servidor DNS (13), e não a um computador de um internauta isoladamente.
Como se sabe, o sistema DNS (Domain Name System) funciona como uma espécie de diretório de endereços da Internet. Toda navegação na Internet (no seu canal gráfico, a World Wide Web) tem que passar por um servidor DNS. Quando um internauta digita um determinado endereço web na barra de seu navegador (www.ibdi.org.br, por exemplo), o seu computador pessoal se comunica com o servidor do seu provedor local de acesso à Internet, em busca do número IP que corresponde àquele determinado endereço. Se o endereço procurado estiver armazenado no cache do servidor do provedor local, então ele mesmo direciona o programa de navegação para o endereço almejado ou, caso contrário, transfere a requisição para servidor de um provedor maior, e assim por diante, até encontrar aquele que reconheça o endereço procurado e faça a correspondência (14).
Um hacker pode invadir o servidor DNS de um provedor de acesso à Internet e alterar endereços arquivados na memória cache. Se o servidor é «envenenado», alteradas as configurações relativas a um determinado endereço web, internautas podem ser direcionados para um site falso mesmo teclando o endereço (URL) correto. O ataque, assim praticado, produz resultados em muito maior escala do que a outra forma de pharming, em que os «pharmers» vitimam uma pessoa de cada vez, infectando os seus PC´s com vírus. O ataque ao servidor DNS de um provedor de Internet pode atingir inúmeros usuários de uma única vez.
O fato é que, se de um ataque a um servidor DNS resultar prejuízo efetivo ao usuário do provedor, este responde pela reparação completa. Se o usuário tiver suas informações colhidas no site falso, a que foi levado em função da alteração nas configurações do servidor DNS do seu provedor de acesso à Internet, pode pedir reparação dos danos que venham a resultar do uso indevido dessas informações. Se o «phisher» fizer uso do número de sua conta bancária e senha e sacar valores depositados em sua conta, é o provedor que teve o sistema invadido que deve reparar os prejuízos. A situação aqui é diferente da modalidade simples de ataque de phishing, onde a segurança dos serviços do provedor não é comprometida.
Definimos esse tipo de ataque específico (DNS poisoning) apenas para diferenciá-lo do pharming típico, que é direcionado contra o computador pessoal da vítima, usuário de provedor de Internet e de sistema de on line banking. A responsabilidade pelas conseqüências e danos materiais (ao usuário) resultantes de uma investida inicial ao sistema informático do provedor de Internet, é do próprio provedor, porque aí fica caracterizada uma falha de segurança na prestação do serviço, indicadora da culpa como fundamento da responsabilização (16). Como são fenômenos parecidos, cuja diferenciação envolve um certo grau de conhecimento técnico, entendemos conveniente a apresentação antecipada dessas definições, de forma a propiciar ao leitor melhores condições para compreender as diversas situações de investidas fraudulentas contra sistemas informáticos e, dessa maneira, poder acompanhar o raciocínio lógico-jurídico em torno da teorização da responsabilidade pela reparação dos danos (17).
3- Inviabilidade de se responsabilizar o provedor de acesso à Internet ou de hospedagem
De logo, queremos afastar a responsabilidade do provedor de serviços de hospedagem ou de acesso à Internet, pelos prejuízos decorrentes de phishing e outras fraudes do gênero. Como os perpetradores diretos das fraudes (phishers) não são facilmente identificáveis, pela razão de que utilizam técnicas de «anonimização» e como regra estão situados em território não submetidos à jurisdição do país da vítima (18), discute-se a possibilidade da responsabilização de outros intermediários da cadeia informática, a exemplo dos provedores de hospedagem de conteúdo na Internet (sites e páginas eletrônicas). Embora não sendo o executante primário e direto da fraude, poderia o provedor que hospeda o site falso (spoofed webpage) (19) ser responsabilizado pelos danos financeiros sofridos pela vítima (cliente do banco) do phishing?
A resposta é negativa (embora não totalmente incontroversa)(20). É certo que a página eletrônica utilizada na fraude (spoofed webpage) é hospedada com o concurso do sistema informático do provedor. Se não pratica ou executa o ilícito, nem por isso deixa de fornecer os meios materiais e físicos (tecnológicos) para a hospedagem. Embora não seja o responsável pela fraude, é no seu sistema que o conteúdo do fake site é armazenado, o que, de certo modo e em certa extensão, pode relacioná-lo com ou vinculá-lo ao autor direto do ato.
Essa relação que o provedor pode ter com alguém que eventualmente contrata seus serviços para hospedar o site que serve de instrumento para a fraude, contudo, não é suficiente, por si só, para acarretar sua responsabilização. O princípio geral que se tem consagrado em torno da atividade dos provedores de Internet é o da não responsabilização por material informacional ilícito colocado por terceiro. O provedor não tem uma «obrigação geral de vigilância» sobre as informações que os usuários do sistema transmitem ou armazenam, bem como não tem uma «obrigação geral de procurar ativamente fatos ou circunstâncias que indiciem ilicitudes». Simplesmente atua provendo a infra-estrutura técnica para acesso à rede de comunicação, serviço que não acarreta uma co-obrigação de controle de conteúdo, de zoneamento visando à exclusão de informação ou material ilícito. Assim, prevalece um princípio geral de irresponsabilidade do provedor por material ilícito, depositado pelos usuários ou que de qualquer forma transita em seu sistema informático.
Esse princípio da irresponsabilidade do provedor sustenta-se em uma constatação de ordem prática: de que em razão das enormes quantidades de material informacional que abriga em seu sistema, o provedor não tem como fiscalizar o seu conteúdo. A grande massa de informações que transita no sistema informático de um provedor decorre da circunstância de que qualquer usuário da rede pode atuar como um emitente da informação, aumentando numa quantidade extraordinária o volume de mensagens circulantes e impedindo, com isso, o controle sobre o manancial informativo.
Em relação à divulgação de conteúdo difamatório ou ofensivo em páginas na Internet, ainda existe um grau de responsabilização do provedor. De fato, considera-se que o provedor de hospedagem é responsável pelo conteúdo ilegal de websites hospedados em seu sistema, quando tem prévio conhecimento da ilicitude do material informacional e não toma qualquer providência no sentido de fazer cessá-la (retirando a página ou site que contenha esse material). Mas em relação às fraudes e ataques de phishing, na prática nem esse resíduo de responsabilidade (da omissão por inércia na retirada do site), pode ser atribuído ao provedor. É que em regra os phishers não deixam as spoofed webpages hospedadas por longo tempo; é somente o suficiente para aplicar o golpe em algumas vítimas, o que pode ser questão de dias ou de horas (21). Assim, o provedor, em se tratando desse tipo de golpe, na prática nem sequer pode ser acusado de inércia na remoção do conteúdo ilícito (site), pois são os próprios criminosos quem toma a iniciativa de remover o material, logo após a execução das tentativas do golpe.
Como se vê, em relação ao phishing e outros tipos de fraudes, o provedor de Internet não tem o mesmo grau de controle sobre a ação dos causadores diretos do dano. O contexto em que se posiciona o provedor é largamente distinto do que ocorre em relação aos crimes cometidos simplesmente pela distribuição de conteúdo ilícito (assim genericamente considerados os casos de difamação). Nos casos mais comuns de difamação, que ocorrem através da transmissão de informações prejudiciais à imagem ou nome de um indivíduo qualquer, o provedor tem as condições técnicas para, por exemplo, remover a página eletrônica onde foram publicadas as notícias ilícitas. Daí a efetividade e plausibilidade de se construir teoria de responsabilização para eles, caso se mostrem negligentes na remoção desse material, quando tenham conhecimento de forma apropriada do ilícito e são solicitados a produzir a remoção. Se a página eletrônica está hospedada no seu sistema informático, e o provedor permanece inerte, mesmo após solicitado a retirá-la, assume comportamento capaz de ensejar sua condenação à reparação dos danos produzidos à vítima. Nessa hipótese, o provedor, que tem as condições técnicas de prevenir o ato criminoso ou ao menos fazer cessar seus efeitos, mas se mantém em inércia, pode ser responsabilizado solidariamente. Quanto aos ataques de phishing e outras fraudes do gênero os provedores de Internet não têm o mesmo poder de controle sobre a conduta dos internautas ou capacidade para fazer cessar os efeitos do ato ilícito. Em se tratando de ataques que exploram falhas de segurança, categoria em que podem ser incluídos os golpes de phishing, o grau de influência que o provedor tem sobre a ação do internauta (agente criminoso) ou aptidão para eliminar os efeitos dos seus atos é imensamente menor. Em regra, os praticantes dessa categoria de atos ilícitos são muito mais sofisticados, em termos de técnicas empregadas. Qualquer pessoa pode difamar outra na Internet, bastando que tenha conta em provedor, através do qual possa hospedar uma página eletrônica ou enviar mensagem de e-mail. Já os golpes de phishing envolvem um maior refinamento técnico e, por isso, são praticados por agentes com maiores conhecimentos de informática, os quais se valem de meios para encobrir sua identidade e evitar a repressão sobre suas ações. Além disso, a própria natureza do ato de difamação pressupõe a continuidade do ato ilícito, através da permanência da divulgação da ofensa (conteúdo) na página eletrônica. Daí o domínio que o provedor exerce sobre o autor da difamação, podendo refrear sua conduta e conter os efeitos de sua ação através simplesmente da retirada do material ou conteúdo informacional ofensivo (retirada do site ou página da Internet). O provedor não tem, todavia, essa mesma aptidão ou poder para conter as investidas de phishing, uma vez que os sites falseados (quando utilizados como instrumento ou meio para execução do golpe) ficam hospedados apenas pelo intervalo de tempo suficiente (em regra muito curto) para o logro da vítima (coleta de suas informações pessoais). Nesse contexto, o provedor não exerce o mesmo papel ou poder de controle sobre a atividade do agente criminoso; situa-se em posição diferente da que assume em relação aos ilícitos realizados mediantes simples disseminação de conteúdo, quando tem condições de reprimir a ação criminosa ou eliminar seus efeitos.
Essa observação da diferença de contexto quanto à prevenção de certos ilícitos e condutas é feita por Ronald J. Mann e Seth Belzley. Esses autores agrupam os casos de pornografia, difamação e pirataria sob a rubrica genérica de ilícitos realizados mediante a disseminação de conteúdo (dissemination of content), enquanto que os tipos e condutas ilícitas que são perpetrados mediante vírus, spam, phishing e hacking são classificados e incluídos na categoria de falhas de segurança (breaches of security). Em relação a essa última categoria de ilícitos, os provedores de Internet não têm o mesmo poder de controle sobre a conduta dos internautas. Considera-se que eles não têm como controlar e prevenir esses tipos de fraudes, pois lhes faltam condições técnicas para tanto:
«The context of security harms differs in two obvious respects from that paradigm. First, it is not all clear that any intermediary readily can control the conduct in question. Perhaps the actors who are best able to increase internet security are the software manufacturers that develop the applications that make the internet useful. (…) And it seems unlikely that ISPs serving those that introduce viruses and spam into the internet community can control the misconduct, if only because of the difficulty of identifying the transmissions that cause the problem and filtering out the malicious code (22).
É tecnologicamente difícil para os provedores de Internet filtrar o tráfego de informações para prevenir as fraudes e ataques que exploram falhas de segurança (vírus, spam, phishing e hacking) nos computadores dos internautas. Embora seja certo que certas modalidades de phishing scams requeiram o uso de um provedor para hospedar o spoofed site, este tem pouca duração e o provedor não tem controle sobre ele. Em sendo diferente o contexto e o modo como são praticados os ataques que exploram falhas de segurança e a posição em que se coloca o provedor diante desses tipos de ilícitos, o esquema de atribuição de responsabilidades não pode ser o mesmo aplicado aos ilícitos praticados mediante simples disseminação de conteúdo (ofensas contra a honra e nome das pessoas). Diferentes tipos de esquemas de responsabilização devem ser aplicados a diferentes e específicos tipos de conduta. Se o contexto dos ataques de phishing é diferente daquele encontrado nos ilícitos praticados por disseminação de conteúdo ofensivo, o esquema de atribuição de responsabilidades também deve ser diferente.
A aplicação da teoria da responsabilização dos intermediários somente pode ser viável para alguns tipos específicos de conduta, parecendo-nos não ser aceitável tomá-la de empréstimo para responsabilizar o provedor por fraudes (phishing e outras do gênero) e ataques que exploram falhas de segurança (23), cometidas por terceiros não identificáveis.
Obviamente que, na hipótese de a spoofed webpage não ser retirada imediatamente pelo próprio phisher, e o provedor toma conhecimento de que sua estrutura de hospedagem está sendo utilizada como meio para a prática do golpe, sua inércia diante do fato, sem tomar medidas para «derrubar» a página eletrônica falsa, constitui circunstância que pode levá-lo a ser responsabilizado secundariamente pelos resultados. Se, comunicado (pelo ofendido ou terceiro qualquer) da existência da página ou do envio recorrente de e-mail com mensagens fraudulentas, e tendo meios para retirá-la de circulação ou bloquear a expedição de novos e-mails da mesma fonte, o provedor assim não procede, revela que endossa a atividade ilícita ou que se mostra de certa forma conivente, assumindo o risco de ser responsabilizado (24).
Mas essa circunstância exemplificada, de a spoofed webpage permanecer hospedada e ser facilmente localizada e identificada como tal, não costuma ocorrer na maioria dos ataques de phishing, onde as ações se desenvolvem de maneira muito mais veloz, sem dar tempo de o provedor esboçar qualquer reação eficaz em termos de evitar a concreção de prejuízos para as vítimas da fraude. O seu domínio em relação às fraudes de phishing é simplesmente inexistente, sem qualquer influência na repercussão do ilícito. Sendo limitado o seu controle, não parece correto atribuir-lhe responsabilidade.
4- Inviabilidade de se responsabilizar os provedores de serviços de e-mail
Muito dificilmente se pode invocar a responsabilidade do provedor de serviços de e-mail (25) pelos prejuízos sofridos por um usuário vítima desse tipo de golpe. Não só aqui como em outros países, a tendência tem sido a de isentar o provedor pelo conteúdo das informações que trafegam em seus sistemas, sobretudo quando postadas por terceiros com os quais não mantém vínculo contratual. Em relação aos serviços de e-mail, não se pode exigir que o provedor tenha uma obrigação de triagem das mensagens. Ainda que no caso de simples spams, o provedor não pode ser obrigado a indenizar por perdas e danos, mesmo quando as mensagens indesejadas conduzam vírus (em arquivos atachados), a menos que o contrato com o usuário contenha cláusula expressa nesse sentido, com a promessa de uso de sistemas especiais e infalíveis de filtragem (firewalls e outros sistemas de bloqueio)(26) . Algumas mensagens de phishing sequer vêm acompanhadas de arquivos infectados (programas maliciosos ou vírus), daí que a idéia de imputação ao provedor de responsabilidade por falha de segurança fica ainda mais insustentável. Sem conter anexos, fica difícil para o provedor detectar a natureza delas (se fraudulentas ou não).
A única medida que parece razoável exigir por parte dos provedores (de serviços de e-mail), em matéria de phishing (e de um modo geral em relação a qualquer prática fraudulenta via spam), é que prestem informações aos seus usuários sobre essa prática, deixando bem claro até onde se responsabilizam e como configurar seu servidor de e-mail, indicando as medidas e a tecnologia de que se vale para (se não evitá-las) minimizar suas conseqüências. A informação do usuário sobre as características fundamentais do funcionamento do serviço é de suma importância. Ele deve ser esclarecido sobre os aspectos técnicos dos serviços, tais como suas limitações e riscos a que pode ficar sujeito, a fim de que possa formar sua convicção e melhor exercer sua opção quanto à escolha da prestadora. Deve também o usuário ser devidamente orientado sobre cuidados imprescindíveis, visando à sua própria conduta, como as cautelas que deve ter com a utilização do serviço de e-mail.
O Gmail (27), serviço de webmail do Google (28), divulgou recentemente que está testando uma ferramenta desenhada para alertar seus usuários contra mensagens que aparentem ser ataques de phishing. Quando o usuário abre uma mensagem suspeita, a tela exibe um alerta. Trata-se de uma ferramenta que funciona com a mesma lógica dos instrumentos técnicos que operam contra o spam. Quando o time de técnicos do Gmail toma conhecimento de um determinado ataque de phishing, configura o sistema para que automaticamente identifique futuras mensagens semelhantes. Um tipo de filtro similar ao que automaticamente desvia as mensagens de spam para uma pasta específica – a mensagem não entra na «caixa de entrada» (ou «inbox»), faz com que o sistema mostre um aviso, alertando para a possibilidade de ataque phishing, de modo a que o usuário tome cuidados antes de clicar em um link e fornecer informações pessoais.
As políticas de combate à atuação de fraudadores, no sentido de criar barreiras ou algum tipo de proteção contra o phishing, não diferem muito das políticas que já são empregadas em relação ao spam em geral. E não poderia ser diferente, já que, como se disse, o phishing é uma modalidade mais letal de spam. As tecnologias disponíveis permitem um grau limitado de impedimento de chegada das mensagens fraudulentas à caixa postal dos usuários. Em geral, os prestadores de webmail divulgam um compromisso de combater o spam, através da utilização de filtros e outras ferramentas que se utilizam de inteligência artificial para apagar ou bloquear automaticamente mensagens não solicitadas (29). Outra técnica também bastante difundida é a de possibilitar que os próprios usuários bloqueiem certos endereços de e-mail. Ao receber múltiplas mensagens da mesma fonte, e desejando bloquear o endereço de envio, o usuário pode ativar um bloqueador para não receber e-mails daquele endereço ou domínio (30). Mas são sempre recursos limitados, que não garantem uma eficácia absoluta. A mesma dificuldade de natureza técnica se observa em relação ao phishing. As informações no site do Gmail deixam bem claro que o sistema anti-phishing não é infalível, tanto que possibilita ao usuário validar uma mensagem indicada como tal ou relatar uma tentativa de ataque não detectada.
Realmente, tendo em vista a natureza do serviço de e-mail e o atual estado da técnica referente às comunicações e transmissões eletrônicas de dados via Internet, não é razoável exigir que os provedores sejam responsabilizados pelos danos que mensagens de phishing (ou qualquer modalidade de spam) possam acarretar aos computadores dos usuários. O que é aceitável se esperar, em termos de conduta do provedor nessa matéria, é que empregue seus melhores esforços para assegurar que os serviços de e-mail funcionem da melhor forma e com o melhor padrão de segurança possível (31). Colocar a responsabilidade do controle das mensagens indesejadas e fraudulentas nos ombros do provedor pode, por outro lado, provocar conseqüências socialmente prejudiciais. Tal solução levaria os provedores a regular de forma mais rígida o controle dos filtros, aumentando as probabilidades de bloqueio de uma quantidade maior de mensagens lícitas (32), com o risco de liquidar ou prejudicar o valor real do e-mail como ferramenta de comunicação, comprometendo o desenvolvimento da Internet. Portanto, a política mais acertada é a da responsabilização penal e civil do phisher (ou spammer), e não do provedor (33).
5- Insuficiência das leis que criminalizam a conduta do ofensor direto (phisher)
Leis que estabelecem sanções criminais contra os praticantes do phishing estão sendo editadas em vários países, como forma de combater esse tipo de fraude. A Pensilvânia e a Flórida, bem como vários outros Estados dos EUA, estão tratando como crime o ato de enviar e-mail fraudulento ou a criação de um website falso. No nível federal, o Senador Patrick Leahy apresentou um projeto de lei, denominado Anti-Phishig Act of 2005, que pretende criminalizar as fraudes de Internet que envolvam a obtenção de informações pessoais, prevendo cinco anos de pena prisional e multa para indivíduos que cometam «furto de identidade» (identity-theft) falsificando websites ou e-mails .
Em nosso país, existe também iniciativa legislativa para criminalizar o phishing. No projeto sobre Crimes Tecnológicos em tramitação no Congresso Nacional (PLC 89-2003 no Senado, PL 84/99 na Câmara), foi incluído um tipo chamado de «falsidade informática», por meio do acréscimo do art. 154-C ao Código Penal. Já em substitutivo que foi apresentado, posteriormente, no âmbito da Comissão de Educação do Senado, a mesma conduta recebe o nome de «fraude eletrônica». Embora com redações diferentes, ambas as propostas pretendem tipificar as condutas de fraudes na Internet, tais como «phishing» ou «scam»(34).
Alguém poderia discordar da necessidade desse tipo de ação legislativa, de positivar o crime de phishing ou pharming, já que, como categoria de fraude, poderia ser sancionado através da invocação do art. 171 do CPC, que prevê a figura do estelionato. O phishing, é certo, amolda-se perfeitamente ao descritor normativo desse dispositivo, já que o ato do criminoso corresponde a «obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento». Todos os elementos componentes da descrição do crime de estelionato, portanto, estão presentes na ação delituosa do phisher. Com efeito, nesse tipo específico de delito, o agente obtém, para ele ou outrem, vantagem ilícita (numerário subtraído de conta bancária), em prejuízo de alguém (a vítima, cliente de banco) mediante o emprego do artifício da construção de uma página eletrônica falsa ou envio de mensagem eletrônica (e-mail) de conteúdo fraudulento. Não haveria, como se disse, qualquer dificuldade de enquadramento do praticante do phishing no art. 171 do CPC, impondo-lhe as sanções previstas nesse dispositivo (reclusão, de um a cinco anos, e multa). Além do mais, quando o criminoso implementa o último estágio da execução phishing, que é a subtração não autorizada dos fundos existentes na conta da vítima, a jurisprudência tem entendido que aí está caracterizado o crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º., II (35).
Esse tipo de legislação criminal especificamente editada para descrever e, por conseguinte, reprimir os crimes de phishing e pharming tem a vantagem de facilitar o enquadramento criminal em determinadas situações, como por exemplo nas condutas que possam representar mera tentativa. Nos termos do Anti-Phishig Act of 2005, por exemplo, o simples envio do e-mail fraudulento ou a estruturação do falso website já são consideradas ações criminosas, mesmo que nenhum usuário ou cliente venha a ser fraudado como decorrência desses atos iniciais. Ou seja: mesmo que as informações pessoais do indivíduo alvo da fraude não sejam coletadas ou não lhe sobrevenha qualquer outro tipo de dano, ainda assim os agentes serão responsabilizados criminalmente. Diante apenas das normas existentes no vigente Código Penal, talvez se tornasse mais difícil inserir essas condutas dentro da moldura de crime tentado (art. 14, II, CP) de estelionato ou furto. Daí a validade, nesse aspecto, da legislação que trata especificamente do crime de phishing. A previsão de ilicitude específica para a conduta do phisher supre eventuais brechas da legislação penal e evita insegurança jurídica.
Todavia, permanecem dúvidas quanto à eficácia de uma legislação criminal que somente pune o agente direto, praticante do phishing (36). Todas as leis penais mencionadas e outras que ainda estão em gestação tomando por base o modelo das precedentes, não criam qualquer tipo de previsão quanto à responsabilização solidária de outros partícipes da corrente informática. Como os phishers atuam sob técnicas que favorecem o anonimato na rede e em regra desferem ataques contra pessoas situadas em outros países, quase sempre não conseguem ser identificados (37) e, mesmo quando tal acontece, não estão submetidos à jurisdição da localidade da vítima. Portanto, na prática o que vai se verificar é que, devido às próprias características técnicas da Internet, que permitem um alto grau de ocultação de identidade e comunicação em escala global, leis que se limitam a uma previsão sancionadora exclusivamente para o arquiteto da fraude eletrônica, não oferecem resposta social satisfatória e efetiva, sobretudo quando se tem em mira a pessoa da vítima.
Esse cenário revela a necessidade do desenvolvimento de teoria de responsabilização na órbita civil, para impedir que as vítimas da fraude, que têm seu patrimônio dilapidado, não fiquem sem qualquer tipo de reparação. É preciso identificar outros meios de se oferecer resposta eficaz para a pessoa que sofre o dano, pois o Direito não pode tolerar que ofensas fiquem sem reparação. Se «o interesse em restabelecer o equilíbrio violado pelo dano é a fonte geradora da responsabilidade civil»(38) , nada impede que se visualize a responsabilidade de outro intermediário da comunicação eletrônica, para atender a uma necessidade moral, social e jurídica de garantir a restauração do patrimônio da vítima violado pelo ato lesivo.
É com esse sentir que voltamos nossa atenção para os bancos, prestadores do serviço de Internetbanking, cujos fundamentos da responsabilidade civil (por ato lesivo causado pelos fraudadores aos seus usuários) examinaremos no tópico seguinte.
6. Teoria da responsabilidade dos bancos prestadores de serviços de Internetbanking
A responsabilização tem por finalidade impor ao infrator a contrapartida legal pelos prejuízos e custos sociais decorrentes de sua conduta. Aquele que pratica ato que cause prejuízo a outrem, quer seja por dolo ou culpa, está obrigado a reparar o prejuízo. Esse é um princípio geral da responsabilidade: o homem apenas é responsável pelos prejuízos causados diretamente por ele e por seu fato pessoal.
Nem sempre, no entanto, é possível a imposição eficaz de penalidades ao autor direto de um gesto ou conduta, quer porque razões de ordem prática impedem seja alcançado, quer porque pode não dispor de solvabilidade. Essas circunstâncias servem como justificadoras para imposição de responsabilidade a outra pessoa, que não é o autor direto do gesto ou ato danoso, mas que mantém com este ou com a vítima algum tipo de relação, que, de certa forma, o liga ao resultado nocivo. A ineficácia ou falta de efetividade na atribuição de responsabilidade ao praticante direto do ato é que justifica voltar-se contra terceiro, que guarda alguma relação com aquele ou que está de alguma forma posicionado de modo a interferir em sua conduta (do ofensor primário). Essa situação é particularmente ilustrada no âmbito da Internet, onde o elevado grau de anonimato, permitido pela arquitetura da rede, impede ou ao menos dificulta a detecção do infrator primário, ou, quando isso é possível (ou seja, quando o transgressor é identificado), pode ocorrer de ser ele uma criança ou pessoa não responsável civil ou criminalmente por seus atos, ou pode se tratar de um indivíduo que não disponha de meios patrimoniais suficientes para reparar os prejuízos causados, ou ainda pode ser residente em território não submetido à jurisdição do país da vítima.
Como resultado dessas possibilidades, tem-se como justificável a imposição de responsabilidade a terceiros, outros participantes da comunicação informática, por atos praticados pelos infratores primários. A limitação da responsabilidade aos infratores primários poderia comprometer o nível da segurança jurídica das relações que se estabelecem em meios eletrônicos. A dificuldade de imposição de responsabilidade aos agentes funciona como causa justificadora de sanção aos intermediários. Por atos cometidos por outrem, estes podem responder.
E quais, dentre os diversos intervenientes e fornecedores da cadeia eletrônica de comunicação podem e devem ser chamados à responsabilização por atos cometidos pelos phishers, quando estes não puderem ser identificados ou de qualquer maneira não puderem ser responsabilizados diretamente?
Já vimos nos itens anteriores (39), que é inviável tentar responsabilizar o provedor de acesso à Internet ou de hospedagem e também o provedor de serviços de e-mail, uma vez que não têm poder de controle sobre a conduta dos criminosos ou capacidade para fazer cessar os efeitos do ato ilícito. Dentre os demais partícipes da cadeia de comunicação telemática, é o banco (prestador dos serviços de Internetbanking) quem está mais visivelmente posicionado de forma a interferir e impedir os efeitos da ação do phisher. Por ser a parte que controla tecnicamente o acesso ao serviço de Internetbanking, pode prevenir os ataques de forma mais eficaz do que qualquer outro agente intermediário da cadeia eletrônica de comunicação. E é justamente por isso, por ser o agente intermediário que tem o maior controle tecnológico para evitar a consecução da fraude, que pode ser chamado à responsabilização, para reparar os efeitos patrimoniais do ilícito. Além disso, nenhum outro intermediário da cadeia de comunicação informática está tão ligado à vítima de phishing do que o seu próprio banco, com quem mantém uma relação contratual para prestação de serviços de Internetbanking.
Os bancos redargúem apontando a não razoabilidade dessa teoria, já que não podem ser responsabilizados por falha de segurança, nesses casos, uma vez que são os próprios usuários do sistema que fornecem (ainda que involuntariamente) as senhas aos infratores. No caso de phishing, sustentam, não há propriamente nenhuma invasão ao sistema informático dos bancos. Os phishers, mediante artifícios enganosos, se apossam previamente das senhas dos verdadeiros usuários, e de posse delas acessam livremente o sistema do banco, como se fossem legítimos usuários. Sob essa ótica, o ataque não é cometido contra o sistema informático do banco, que permanece invulnerável em termos de segurança, não sendo razoável impor à instituição bancária a reparação dos danos patrimoniais resultantes da fraude. Os bancos sustentam ainda que a solução para o combate ao phishing passa pela educação do usuário, que deve ter o cuidado de utilizar softwares atualizados (antivírus, firewalls, navegadores de última versão etc.) e não ser displicente com as senhas de acesso ao sistema (40) .
Essa tentativa de se colocar exclusivamente nas mãos do próprio usuário a responsabilidade de se precaver desse típico específico de fraude não é satisfatória, quando se tem em vista as características dinâmicas do ciberespaço e o papel que os bancos desempenham no mercado de serviços on line. Por mais bem informado que possa ser o internauta, em termos de noções básicas de navegação segura e utilização de programas de proteção, não se tem como eliminar completamente a probabilidade de ser vítima da fraude. As técnicas de phishing estão se sofisticando a cada dia, criando sempre maiores dificuldades para a pessoa saber quando está diante de uma tentativa de golpe (41) . Portanto, o senso comum que as pessoas têm nos ambientes físicos, quando se protegem de ardis e esquemas fraudulentos, não é aplicável ao ambiente do ciberespaço. Uma coisa é a pessoa ser abordada em casa, no meio da rua ou mesmo no interior de uma agência bancária por um estelionatário, o qual, se passando por um funcionário do banco, solicita e obtém a senha e cartão do banco. Os clientes de banco ou usuário de caixa eletrônico sabem que não devem fornecer suas senhas a qualquer outra pessoa. Outra situação completamente diferente é a da navegação em ambiente eletrônico, onde a ausência de conhecimentos técnicos e a natural falta de aptidão para lidar com inovações tecnológicas, somadas às características dinâmicas da Internet, que permitem o aparecimento de variadas formas e a sofisticação das fraudes eletrônicas, colocam o usuário em situação de ainda maior fragilidade. Essa diferenciação de situações impede que se tome de empréstimo de forma absoluta os padrões de conduta dos ambientes físicos para construção de analogias com o ciberespaço, quando se trata de alocar os riscos financeiros da utilização de sistemas de pagamento e transações on line. Os riscos devem ser alocados às partes mais capazes de lidar com eles e que, no caso em questão, são justamente os bancos.
A visão de que o phishing é um ataque que se executa de forma completamente externa ao sistema do banco, também não é apropriada. Na verdade, os computadores pessoais dos clientes são uma extensão do sistema de Internetbanking. Os bancos poderiam fornecer computadores dotados de programas atualizados de proteção contra golpes cibernéticos, mas optaram em utilizar os próprios computadores pessoais dos clientes como um recurso disponível. Essa deliberada opção tem o condão de vinculá-los a um mais elevado grau de riscos e perdas. As perdas decorrentes das fraudes financeiras devem integrar os custos do sistema escolhido. Já que os bancos escolheram permitir aos usuários se valerem dos seus computadores pessoais para, através da rede mundial, fazer conexão com o Internetbanking, toda a rede nesse caso se considera como uma extensão do sistema (42). Encarada a questão por esse ângulo, a fraude dirigida ou cometida contra o computador pessoal do cliente do banco, pode ser comparada à fraude que é cometida contra o cliente no interior de uma agência bancária ou caixa eletrônico. Essa é a analogia mais perfeita e que pode justificar a responsabilização do banco pela não adoção de dispositivos eficientes de proteção contra o phishing.
Portanto, a educação dos usuários dos serviços de Internetbanking, para que adotem comportamentos e práticas seguras de navegação e utilização de softwares de proteção, é um recurso válido e que pode ser utilizado na redução de fraudes e ataques informáticos, mas que, por si só, não tem o efeito de externalizar integralmente os custos e perdas financeiras deles decorrentes. Mesmo que os bancos disponham em seus websites informações sobre o phishing e sobre como evitá-lo, tal iniciativa não é, por si só, suficiente para excluir a responsabilidade pelos efeitos lesivos desse tipo de fraude aos usuários. O esforço de educação deve ser visto como uma iniciativa dos bancos imbuída da boa-fé, objetivando diminuir as fraudes. Prover dicas e informações ao usuário, sobre como se proteger de fraudes eletrônicas, auxilia certamente na defesa deles e da própria instituição bancária, uma vez que reduz os custos do crime. No entanto, por mais que se dê informação ao cliente, este sempre estará sujeito a riscos na operação dos serviços de on line banking, pois novas formas de golpes e ataques fraudulentos são desenvolvidos a cada dia (43). A educação do cliente, através de um contínuo processo de fornecimento de informações sobre como proteger seu micro de pragas eletrônicas é certamente um recurso que reduz o nível das fraudes, mas não as elimina por completo.
A responsabilização dos bancos na reparação dos efeitos financeiros resultantes do phishing, ainda pode ser justificada levando-se em consideração os seguintes argumentos adicionais:
a) argumento de ordem econômica.
Trata-se de argumento não propriamente jurídico, mas que nem por isso deixa de influenciar na definição da responsabilidade. Essa teoria é explorada por Assaf Hamdani, em relação à possibilidade da escolha de uma pessoa (intermediário) para responder pelos atos ilícitos praticados por um terceiro na rede, quando este não for passível de sanção de modo efetivo e que traga resultados práticos e úteis. Nesse caso, deve ser a parte para quem a atividade de fiscalização e monitoração represente custos mais baixos (44).
Ao analisar a responsabilidade dos bancos pelos prejuízos resultantes de phishing e outras fraudes semelhantes não se pode desconsiderar o argumento econômico de que são eles quem menos sofrem com a imposição dos custos da reparação. O fornecedor dos serviços bancários na Internet, pela sua supremacia econômica, é o que se chama na doutrina anglo-americana de o «least cost avoider», ou seja, a pessoa para quem a imposição do dever da reparação econômica representa o menor peso, considerando-se sua capacidade econômica. E aqui deve ser entendido que os bancos não somente podem «internalizar» mais facilmente os custos com a reparação dos prejuízos decorrentes de phishing, mas que são os únicos que dispõem de capacidade econômica para investir no desenvolvimento de soluções tecnológicas para combater esse tipo de fraude. Portanto, os bancos podem, em determinadas circunstâncias, suportar o ônus pelas conseqüências danosas do phishing, em substituição ao praticante direto da fraude, recorrendo-se à aplicação de princípios econômicos por meios dos quais se pode atribuir responsabilidade ao «least cost avoider». A responsabilidade pela reparação dos prejuízos financeiros pode ser expandida para a parte cujos custos de prevenção pelas fraudes são mais baixos.
Chamamos a atenção para a circunstância de que esse argumento, de ordem mais econômica do que jurídica, é utilizado com mais freqüência para justificar a responsabilidade objetiva de alguns atores que desenvolvem certos tipos de atividade (em geral de natureza periculosa) na sociedade, embora possa também influir na visualização e definição de outros padrões de responsabilidade. De fato, a própria jurisprudência brasileira, na aplicação da teoria contratualista – fusão entre a teoria do risco profissional e da culpa – às instituições financeiras, sempre considerou que a responsabilidade deve recair sobre aquele que extrai maior lucro da atividade que deu margem ao dano, nas hipóteses em que não resulta configurada culpa do correntista ou do banco (45). Mesmo quando se trata de definir responsabilidade fundada na teoria pura da culpa, o argumento econômico pode ter extrema valia. A idéia é de que aqueles que se beneficiam com a venda de serviços e obtêm lucros excessivos nesse comércio devem ser responsabilizados ao menor sinal de negligência.
b) incentivo ao desenvolvimento de ferramentas tecnológicas.
A admissão da responsabilização dos bancos (obviamente, dentro de certas circunstâncias) também produz um incentivo para que desenvolvam ferramentas tecnológicas anti-phishing. As fraudes causam aos bancos tanto perdas financeiras como a erosão da confiança dos clientes nos sistemas de pagamentos e transações on line. De fato, incentivos mercadológicos já parecem estar dirigindo os bancos a lutarem contra o phishing da melhor forma que podem. As fraudes praticadas contra usuários de serviços na Internet ameaçam o desenvolvimento do comércio eletrônico. Se eles perdem a confiança na segurança das transações eletrônicas, quer seja porque não estão certos da identidade do site que visitam, quer porque temem de inadvertidamente divulgar informações pessoais, a conseqüência é um possível abalo ao modelo existente de e-commerce. O reconhecimento, no âmbito da teoria jurídica, de que os bancos podem sofrer a responsabilização pelo ressarcimento dos prejuízos causados ao seu cliente, vítima de golpe de phishing, funcionaria como incentivo adicional para desenvolverem dispositivos capazes de eliminar esse tipo de praga tecnológica. Sofrendo responsabilização, e conseqüentemente sendo obrigados a reparar os danos resultados das fraudes, os bancos (e as empresas de comércio eletrônico de uma forma geral) sentir-se-ão incentivados a adotar medidas tecnológicas de segurança mais adequadas a lidar com a nova realidade do phishing.
c) argumento da possibilidade técnica de evitar a fraude
Para se determinar a pessoa que deve responder pelos prejuízos produzidos por fraudes bancárias em ambientes eletrônicos é imprescindível a noção de que a responsabilidade deve ser imposta a quem é capaz de detectar a ação criminosa e preveni-la.
Os bancos têm a capacidade tecnológica para prevenir transações fraudulentas, já que são os únicos com acesso a todos os dados e com habilidade para evoluir seus sistemas.
Por outro lado, os custos econômicos para o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas de combates a fraudes tecnológicas são razoáveis, em relação os prejuízos que buscam prevenir, daí que a teoria a ser evoluída nesse campo específico da responsabilidade civil deve reconhecer o papel de interesse público que as instituições bancárias devem ter na atribuição de segurança a essas transações.
6.1. Adequação do novo padrão de responsabilidade à legislação existente
Já vimos que o banco é quem guarda a relação mais estreita com a vítima do golpe de phishing, a quem está vinculado por meio de uma relação contratual. É o prestador direto do serviço, cuja segurança, no caso de ataque, é que está mais suscetível a acusações de falha.
A imputação de responsabilidade aos bancos, no entanto, não pode ser feita de forma aleatória, mas deve adequar-se aos esquemas de responsabilidade civil (contratual) existentes em nosso sistema jurídico. Examinando os esquemas existentes, bem como seus fundamentos, é que identificamos aquele que pode servir de padrão à responsabilidade do prestador de serviços bancários on line, na reparação de danos causados à vítima (cliente) de golpe de phishing.
6.1.1 Responsabilidade contratual regida pelo CDC
Nenhum outro intermediário da cadeia de comunicação informática está tão ligado à vítima de phishing do que o seu próprio banco, com quem mantém uma relação contratual para prestação de serviços de Internetbanking. A responsabilidade do banco, portanto, é uma responsabilidade de origem contratual e o vínculo que o prende ao seu cliente forma uma relação de consumo, a ser regida pelas normas da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). De fato, o cliente bancário se enquadra no conceito de consumidor definido no art. 2º. do CDC, já que adquire e utiliza o serviço de Internetbanking na condição de «destinatário final». Por sua vez, a instituição bancária é considerada fornecedor, para fins de aplicação das normas do Código, na medida em que desenvolve atividade de prestação de serviços (art. 3º.). Além disso, ao definir serviço, o § 2º. do art. 3º. alcança «qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária«.
A jurisprudência inclusive já vem fazendo recurso de normas do CDC quando se trata de definir a responsabilidade dos bancos em matéria de fraudes eletrônicas. Por exemplo, a 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve, por unanimidade, sentença do Juiz Franco Vicente Piccolo, da 1ª Vara Cível de Brasília, que condenou um banco a indenizar um correntista que teve sua conta invadida (46). Para fundamentar a condenação do banco, a sentença invocou a responsabilidade orientada pela teoria do risco profissional, nos termos da qual é responsável pela reparação dos danos aquele que maior lucro extrai da atividade que lhe deu origem (47). O próprio STJ vem enfrentando essas questões sob a ótica das normas do CDC, com a diferença de que tem firmado o entendimento de que o uso do cartão magnético e da senha é de responsabilidade do correntista, daí que se os entrega a terceiro incide a regra do § 3º. do art. 14, que isenta o fornecedor de responsabilidade quando a culpa é exclusiva do consumidor (48).
Esse tipo de compreensão do problema, data vênia, incorre em erro técnico-jurídico, uma vez não se deve enfrentá-lo por via da utilização do esquema de imputação de responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC. Como se sabe, o CDC criou dois regimes diferentes de vícios do produto ou serviço. O primeiro, se refere aos vícios de insegurança, capazes de provocar o fato do produto ou serviço, ou seja, o defeito de insegurança que atinge o consumidor (ou terceiro) na sua integridade física ou psíquica. O defeito de segurança provoca danos à esfera da saúde física ou psíquica da pessoa, causando o acidente de consumo. A responsabilidade pelos danos causados por esse tipo de vício é de natureza extracontratual e independe de culpa. Trata-se de uma responsabilidade objetiva ou responsabilidade não culposa, já que os arts. 12 e 14 do CDC atribuem responsabilidade a certos fornecedores «independentemente da existência de culpa» pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos do produto ou relativos à prestação dos serviços (49). Já o regime dos vícios de inadequação ou de funcionalidade (tratados no art. 18 e ss.) (50) não caracteriza uma responsabilidade objetiva. Ao contrário dos arts. 12 e 14 (que tratam do fato do produto ou serviço), os arts. 18 e 20 (que regulamentam a responsabilidade por vício do produto ou serviço) não se utilizam da mesma expressão, ou seja, não indicam que o fornecedor responde pela reparação «independentemente da existência de culpa». Em assim sendo, pode-se dizer que o regime dos vícios de inadequação, de natureza contratual, tem amparo numa «responsabilidade especial»(51).
Os prejuízos decorrentes de phishing são de ordem exclusivamente patrimonial. Ou seja, a vítima da fraude sofre apenas danos materiais, não sendo atingida em sua integridade física ou psíquica, daí que não se configura o instituto do fato do serviço (ou acidente de consumo) e não se pode invocar a aplicação do art. 14 do CDC como fundamento da responsabilidade do banco (fornecedor). A situação pode ser representativa apenas de um típico vício por inadequação do serviço (de Internetbanking), enquadrando-se no descritor normativo do art. 20, para efeito de justificar a responsabilização do prestador do serviço falho ou inadequado (52).
Por outro lado, o que é relevante não é o aspecto subjetivo (da conduta do banco). Na definição do dever de reparação do fornecedor de serviços (bancários), o importante é um dado objetivo: se o serviço (de Internetbanking) é falho, no sentido de que não protege o usuário contra golpes de phishing. Mesmo não se tratando de uma responsabilidade puramente objetiva – a que é delineada no art. 20 do CDC – não exige culpa ou prova da culpa, mas apenas constatação do «vício». Trata-se de uma responsabilidade especial, dependente de parâmetros impostos nas previsões legais específicas (art. 20 e seu § 2º.). De fato, ao estabelecer que «o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo», o legislador criou um padrão de responsabilidade peculiar, que impõe a obrigação de liberar no mercado de consumo somente serviços isentos de vícios, não importando perquirir a culpa pelos danos causados em função do serviço viciado.
Cláudia Lima Marques é quem melhor explica que o CDC criou uma responsabilidade especial, um sistema específico para disciplinar a relação do fornecedor de produtos e serviços com o consumidor. De acordo com ela (53), o fundamento desta responsabilidade tem origem na teoria da qualidade, segundo a qual os produtos e serviços prestados trariam em si uma garantia de adequação para o seu uso e uma garantia de segurança. Nesse sentido, todo fornecedor tem um dever de qualidade, considerado um dever anexo à própria atividade produtiva no mercado de consumo. Portanto, o CDC impôs um dever legal para o fornecedor, uma garantia implícita de adequação e segurança dos seus produtos e serviços. Só há violação desse dever ou garantia se o bem introduzido no mercado apresenta um vício de qualidade ou defeito de segurança. Assim, para se estabelecer a responsabilidade do fornecedor pela reparação de danos não se deve perquirir se agiu com a diligência necessária (noção de culpa) ou o grau de risco criado pela sua atividade (fundamento da responsabilidade objetiva), mas se faltou com o dever de qualidade, ao inserir no mercado um produto ou serviço imprestável ou inseguro, causando, por causa desse vício ou defeito, algum tipo de dano ao consumidor.
Ao tratar diretamente dos vícios de inadequação, a citada doutrinadora explicita a pouca importância do aspecto subjetivo da conduta do fornecedor na definição de sua responsabilidade:
«Concretamente, o CDC impõe aos fornecedores a obrigação de liberar no mercado somente produtos isentos de vícios. Trata-se de uma obrigação de resultado, não importa perquirir a culpa de algum dos fornecedores da cadeia. O importante é o vício, que será reclamado, normalmente, perante o comerciante direto, último na cadeia»(54) (grifos nossos).
Mais adiante, o comentar o art. 20 do CDC, Cláudia Lima Marques volta a enfatizar que o esquema peculiar criado pelo diploma consumerista confere pouco valor ao agir do prestador de serviço, na definição da responsabilidade:
«…isto porque concentra-se na funcionalidade, na adequação do serviço prestado e não na subjetiva existência de diligência normal ou de uma eventual negligência do prestador de serviços e de seus prepostos. A prestação de um serviço adequado passa a ser a regra, não bastando que o fornecedor tenha prestado o serviço com diligência» (55).
E continua:
«Enquanto o direito tradicional se concentra na ação do fornecedor do serviço, no seu fazer, exigindo somente diligência e cuidados ordinários, o sistema do CDC, baseado na teoria da função social do contrato, concentra-se no efeito do contrato. O efeito do contrato é a prestação de uma obrigação de fazer, de meio ou de resultado. Este efeito, este serviço prestado, é que deve ser adequado para os fins que «razoavelmente dele se esperam»; é o serviço prestado, por exemplo, o transporte de passageiros, a pintura da parede da casa, a intervenção cirúrgica ou a guarda do automóvel na garagem, que deve possuir a adequação e a prestabilidade normal. Está claro que o fazer e o resultado são inseparáveis, conexos de qualquer maneira, mas o CDC como que presume que o fazer foi falho, viciado, se o serviço dele resultante não é adequado ou não possui a prestabilidade regular.
Se efetivamente o fornecedor agiu ou não com a diligência, o cuidado e a vigilância normal, quando da prestação de sua obrigação, importa apenas para a alegação de um eventual inadimplemento contratual. O recurso usado pelo CDC de instituir uma noção de vício do serviço facilitará a satisfação das expectativas legítimas dos consumidores também nos contratos de serviços, pois objetiva os critérios jurídicos para determinar se há ou não falha na prestação do fornecedor (56).
Como se observa, para fins de determinação dos limites da responsabilidade do fornecedor de serviços, o jurista deve se concentrar na análise do vício. O regime de vícios pressupõe o descumprimento de um dever anexo do fornecedor, um dever de qualidade, dever de adequação do serviço à finalidade a que se destina. Assentada essa teoria da qualidade, a definição da responsabilidade do banco em reparar os danos sofridos por seu cliente, passa necessariamente pela análise da funcionalidade do serviço de Internetbanking.
E aqui, pelas razões já expostas anteriormente, deve-se entender que um sistema de Internetbanking que não proteja o usuário contra golpes de phishing não pode ser encarado como isento de vício. Somente os bancos têm condições técnicas para monitorar, detectar e prevenir transações fraudulentas, além de capacidade econômica para investir no desenvolvimento de soluções tecnológicas para combater o phishing. Portanto, deve haver um reconhecimento generalizado de que se o banco não desenvolve dispositivos capazes de eliminar esse tipo de praga tecnológica, o serviço de Internetbanking que oferece no mercado é viciado, dotado de vício de inadequação às finalidades que dele se espera. O cliente desse serviço tem uma legítima expectativa de proteção contra fraudes eletrônicas e, se não atende a essa expectativa, não se mostra adequado para realizar a finalidade que razoavelmente dele se espera. O sistema de Internetbanking que não tenha evoluído para proteger o cliente contra golpes de phishing é «impróprio ao consumo», por conter vício de qualidade, já que se mostra inadequado aos fins que dele razoavelmente se espera (§ 2º. do art. 20 do CDC) (57).
7. Soluções tecnológicas empregadas pelos bancos para evitar fraudes eletrônicas
Como a definição da responsabilidade passa necessariamente pela análise da adequação do serviço, ou seja, se não padece de vício que comprometa sua funcionalidade, o dever de reparação dos danos de cliente bancário sofrido em decorrência de phishing vai exigir, em cada caso, a investigação das ferramentas tecnológicas que o banco emprega, em seu sistema informático, para proteger o usuário desse tipo de cilada eletrônica. Se verificado que a tecnologia empregada é capaz de eliminar completamente os efeitos do golpe de phishing, impedindo que o fraudador acesse os dados pessoais do cliente e realize (em nome deste) transferências de valores, o serviço de Internetbanking deve ser considerado como isento de vício, não gerando a responsabilidade do banco prestador do serviço. Se, ao contrário, ficar constatado que o sistema bancário é ineficiente, contendo furos que permitam o phisherman, por qualquer meio, coletar as informações pessoais suficientes à concretização do golpe, o serviço deve ser encarado como «impróprio ao consumo», portador de vício de qualidade, apto a desencadear a responsabilidade do banco (de acordo com o art. 20 do CDC).
Em assim sendo, é imprescindível um estudo dos variados tipos de mecanismos de segurança tecnológica que os bancos empregam em seus sistemas para transações e pagamentos on line. Ao longo dos anos, as instituições bancárias e sites de pagamentos têm implementado rigorosas medidas de proteção e tecnologias para garantir um nível superior de segurança, na tentativa de evitar a apropriação ilícita de dados dos seus clientes. A maioria delas não é capaz de garantir que a pessoa que acessa o banco virtual é mesmo o cliente, como veremos abaixo:
a) Firewall
É o nome dado ao dispositivo de uma rede de computadores que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto de controle da rede. Sua função consiste em regular o tráfego de dados entre redes distintas e impedir a transmissão e/ou recepção de acessos nocivos ou não autorizados de uma rede para outra (58). O termo inglês firewall faz alusão comparativa da função que este desempenha para evitar o alastramento de acessos nocivos dentro de uma rede de computadores à parede corta-fogo (firewall), que evita o alastramento de incêndios pelos cômodos de uma edificação (59).
Os bancos possuem uma complexa estrutura de segurança composta por sistemas de firewalls que filtram o acesso externo, protegendo assim os aplicativos e os dados internos. Por isso, apenas a identificação e senha possibilitam uma transação financeira na conta do cliente. Mas a utilização de dispositivo de firewall não elimina os efeitos do phishing, já que pressupõe que o cliente mantenha sigilo absoluto sobre sua identificação e senha, sem nunca cedê-la a outros. O firewall tem a função de impedir acessos nocivos ou não autorizados, mas o phisher, que se apossa previamente das senhas e dados bancário, acessa o sistema bancário virtual como se fosse o cliente legítimo.

Figura representativa de Firewall separando redes LAN e WAN.
b) Criptografia de dados (SSL)
Os sites dos bancos adotam protocolo de segurança SSL (do inglês Secure Sockets Layer), tecnologia considerada padrão de segurança na transmissão de dados pela Internet, de maneira que todos os dados que trafegam na rede durante o período da transação eletrônica são criptografados (embaralhados), possibilitando que tais informações sejam acessadas somente pelo cliente e pelo banco (60).
Esse tipo de dispositivo ou protocolo de encriptação é capaz de combater um programa malicioso específico, chamado de sniffer (na tradução para o inglês, seria algo como «farejador»), que é utilizado para capturar e armazenar dados trafegando em uma rede de computadores. O sniffer é usado por um invasor para capturar informações sensíveis (como senhas de usuários), em casos onde estejam sendo utilizadas conexões inseguras, ou seja, sem criptografia.
Se é certo que o protocolo SSL pode fornecer confidencialidade na comunicação entre um cliente e um servidor, através do uso da criptografia, não se conforma em medida capaz de suprimir o phishing, pela simples razão de que o phisher não é uma terceira pessoa estranha à transação (comunicação com o banco), mas é admitido pelo sistema como se fosse o próprio cliente, já que dispõe das senhas de acesso deste, adquiridas em fase anterior da execução da fraude. O tráfego de toda a informação – incluindo a senha – é encriptado, tornando quase impossível uma terceira pessoa obter ou modificar a informação depois de enviada. Entretanto, a criptografia por si sõ não elimina a possibilidade de hackers conseguirem previamente acesso ao computador doméstico vulnerável do cliente e interceptarem suas senhas.
c) Teclado Virtual
Os bancos disponibilizaram ainda um teclado virtual para aumentar a segurança no tratamento de senhas no navegador, dificultando o armazenamento em disco ou memória e também impedindo que programas ilícitos (trojans ou spywares) visualizem a digitação (das senhas). Portanto, o Teclado Virtual é uma fórmula implementada para aumentar a segurança no tratamento de senhas no programa navegador, dificultando que programas maliciosos possam «capturar» a senha do usuário, por meio do registro de teclas acionadas ou do posicionamento do mouse.
Alguns tipos de vírus (keyloggers) são capazes de gravar tudo o que é digitado pelo teclado convencional, inclusive senhas. Estes vírus entram no computador do cliente através de arquivos anexados em e-mails ou quando navega em um site suspeito. Uma vez instalados no computador do cliente, são capazes de capturar e armazenar (transferindo depois para o hacker) as teclas digitadas no teclado. A utilização do teclado virtual impede que esse tipo de vírus capte as informações, pois o registro das teclas acionadas não é armazenado no computador do cliente. Contudo, o teclado virtual não tem a capacidade de evitar que uma outra modalidade de vírus (screenlogger) permita que o fraudador capture as senhas da conta do cliente. O screenlogger é uma forma avançada capaz de armazenar a posição do cursor e a tela apresentada no monitor, nos momentos em que o mouse é clicado, ou armazenar a região que circunda a posição onde o mouse é clicado (ver figura abaixo).

Foto 1. Representação em tela de programa navegador de um teclado virtual.

Foto 2. Mostra como o screenlogger captura a posição do cursor e tela do monitor do usuário.
d) Certificado Digital
Um certificado digital é um arquivo de computador que contém um conjunto de informações referentes à entidade para o qual o certificado foi emitido (seja uma empresa, pessoa física ou computador). A geração, distribuição e gerenciamento dos certificados digitais é feito por meio de entidades conhecidas como autoridades certificadoras (AC’s). São essas autoridades certificadoras que vão garantir, por exemplo, que um certificado digital pertence realmente a uma determinada empresa ou pessoa. São elas que formam a cadeia de confiança que dá segurança ao sistema. Fazem o papel desempenhado pelos notários no sistema de certificação tradicional (61).
Nas relações em um website é possível a garantia de autenticidade por meio desse sistema. O internauta que acessa um site pode se assegurar que ele pertence realmente a uma determinada empresa através do certificado digital exibido. Esse certificado contém os dados de identificação da pessoa responsável pelo site (ver figura abaixo). Na prática, o gerenciamento da relação de confiança funciona através de aplicativo de software incorporado ao computador do usuário. Normalmente, o software que faz a verificação de um certificado digital tem algum mecanismo ou função para confiar em AC´s. Por exemplo, o programa utilizado para navegar na Internet (conhecido como browser) contém uma lista das AC’s em que confia. Quando o usuário visita um determinado site (por exemplo, de um shopping on line ou de um banco) e é apresentado ao navegador um Certificado Digital, ele verifica a AC que emitiu o certificado. Se a AC estiver na lista de autoridades confiáveis, o navegador aceita a identidade do site e exibe a página da Web. Em não sendo o caso, o navegador exibe uma mensagem de aviso, perguntando ao usuário se deseja confiar na nova AC. Geralmente o programa navegador dá opções para confiar permanente ou temporariamente na AC ou não confiar em absoluto. O usuário, portanto, tem controle sobre quais AC(s) deseja confiar, porém o gerenciamento da confiança é feito pelo aplicativo de software (neste exemplo, pelo navegador).
Esse tipo de tecnologia empregada em sites bancários não elimina o phishing. O cliente pode não ter a educação necessária para evitar transações em sites com certificados emitidos por AC´s não confiáveis ou o seu programa de navegação pode não ser de uma versão atualizada, falhando na apresentação de páginas ou na indicação de sites confiáveis. Além disso, nem sempre a coleta de informações (senhas bancárias) é realizada por meio do preenchimento de formulários em sites falsos. O phisher pode conseguir acesso aos dados pessoais do cliente bancário através da infecção de seu computador com um vírus que lhe transmita os arquivos contendo as informações.

Figura mostrando ao meio o certificado digital do site de um banco.
e) Duplo fator de identificação ou sistema de senhas múltiplas
Uma falha de segurança que se tornou óbvia, diante dos diversos ataques de phishing, é o uso de uma senha única para acesso ao sistema de pagamento e transações on line. Nos sites de Internetbanking que funcionam mediante senha única, os fraudadores (phishers) necessitam de um único pedaço de informação para quebrar o sistema de segurança do banco. Requerer um pedaço adicional de informação (duplo fator de identificação) constitui uma inteligente forma de dificultar a ação dos criminosos. Além do código de utilizador (nome do usuário) e da password (senha) de acesso, pode-se exigir uma segunda password (de negociação), que constitui o código de segurança de 2º. nível. Ainda mais seguro é implantar um sistema em que a segunda senha seja aleatória, utilizável uma única vez. Assim, mesmo que o phisher consiga coletar ambas as senhas, não terá como acessar o sistema do banco posteriormente, pois a segunda senha só valeu para aquela transação já realizada pelo próprio usuário. A segunda senha é sempre variável, valendo apenas uma única vez.
Vários bancos brasileiros já se utilizam de sistemas de dupla autenticação, com a segunda senha variável. Um dos métodos utilizados para se viabilizar a segunda identificação de forma aleatória é o da «Tabela de Senhas» (ver figura abaixo). Consiste em um cartão com uma lista de 50 ou 70 códigos numéricos exclusivos que o cliente digita ao fazer transações de pagamento (DOC, TED, transferências, resgates etc.)(62) . Cada código é formado por quatro dígitos (senha) e quando o usuário faz uma transação de pagamento, visualiza, na tela do site, um número que terá uma senha correspondente na «Tabela de Senhas», bastando digitá-la e dar seqüência à operação. Outra ferramenta utilizada como mais um nível de segurança, nos sistemas de Internetbanking, é o «token» ou cartão com display que emite senhas (ver figura abaixo). Esses dispositivos possuem um display embutido para emissão de senhas numéricas dinâmicas. Para reforçar a segurança nas transações de pagamento, o usuário tem que pressionar uma determinada área do «token» ou «displaycard», para receber uma combinação numérica que será utilizada uma única vez.

Fig. 1. Representação de uma «Tabela de Senhas»

Fig. 2. Token com display que emite senhas.
Os especialistas são concordes em afirmar que esse sistema da dupla autenticação (com segunda senha aleatória) é capaz de eliminar a atual ameaça do phishing (63). O sistema «two-factor» de autenticação, que já tem sido implementado por alguns bancos, é suficiente para estancar os ataques de phishing atualmente conhecidos.
O sistema de dupla autenticação, todavia, não é bastante para as formas de phishing que combinem alguma forma de «engenharia social» (social engeneering) (64). De fato, os phishers já começam a usar, além das mensagens de e-mail, outras táticas para iludir o usuário a fornecer os seus dados. Já há registros de novas versões para este tipo de ataque onde é utilizado contato telefônico. O ataque é similar só que a maneira primária do ataque não é o envio do e-mail mas sim o contato direto por telefone (65). O fraudador liga para o cliente, fazendo-se passar por algum funcionário do banco, e, alegando que está havendo algum defeito no sistema bancário, pede a senha para corrigi-lo. Caso o cliente entregue a senha, o suposto técnico pode realizar uma infinidade de atividades maliciosas, utilizando a sua conta de acesso à Internet e, portanto, relacionando tais atividades ao seu nome. Esses casos mostram ataques típicos de engenharia social, pois o discurso apresentado no exemplo procura induzir o usuário a realizar uma tarefa e o sucesso do ataque depende única e exclusivamente da decisão do usuário em fornecer informações sensíveis (66). A «Tabela de Senhas» ou o dispositivo eletrônico de emissão de senhas (token ou displaycard) pode não ser suficiente para deter essa nova forma de fraude, pois o fraudador pode solicitar à vítima (cliente) que forneça a senha (de 2º. nível), no momento em que está (do outro lado da linha) acessando o sistema.
8. Proporção entre adoção de práticas seguras pelos bancos e a diminuição do grau de responsabilização
Se os bancos, forçados por incentivos mercadológicos e por uma incerteza diante da definição de responsabilidade pela reparação dos prejuízos causados pelo phishing, adotaram medidas eficientemente fortes, a tendência é diminuição do seu grau de responsabilização. Se, ao contrário, as medidas não se mostrarem suficientemente vigorosas, a possibilidade de suportarem o ônus da reparação dos prejuízos aumenta. Em outras palavras, há uma verdadeira proporção entre as medidas de segurança adotadas pelos bancos e o seu grau de responsabilidade na indenização dos prejuízos decorrentes do phishing. Na medida em que os bancos adotam novas ferramentas tecnológicas de segurança, o phishing se torna menos eficiente, com a correspondente diminuição do risco de responsabilização. Se há uma compreensão de que os bancos tomaram iniciativas vigorosas, no desenvolvimento e implantação de medidas de segurança, voltadas à eliminação desse tipo de fraude tecnológica (phishing), então a probabilidade de sofrerem responsabilização diminui sensivelmente.
Como ficou evidenciado que a responsabilidade do fornecedor (banco) tem que ser examinada sob o aspecto objetivo da introdução (ou não) de um serviço com vício, e se esse vício foi determinante para causar dano ao seu consumidor (cliente) (67), a questão crítica, em cada caso concreto, é saber quando o sistema bancário está respondendo apropriadamente aos riscos impostos pelo phishing, ou seja, se evoluiu apropriadamente em resposta a essa ameaça tecnológica. A premissa deve ser a de que o banco que não tenha instalado método de autenticação com mais de um nível de segurança (sendo um deles através de senha aleatória) deve ser responsabilizado pelos prejuízos patrimoniais causados pelo fraudador (phisher) ao seu cliente. As soluções tecnológicas de segurança inicialmente implantadas pelos bancos, tais como firewall, criptografia de dados, teclado virtual e certificado digital, não são aptas a eliminar os efeitos do phishing, pela simples razão de que o fraudador acessa o sistema do banco como se fosse o legítimo usuário, já que se apossa previamente das senhas deste (68). Essas medidas de segurança, portanto, são ineficientes diante do phishing, e o banco que somente dispor delas deve ser inevitavelmente condenado a reparar os prejuízos sofridos pelo seu cliente. Nessa situação, o sistema de Internebanking deve ser encarado como um serviço que contém vício de funcionalidade (falha na adequação, na prestabilidade), já que não protege adequadamente a confidencialidade dos dados pessoais do cliente (para efeito de acesso ao sistema). Sendo o serviço inadequado às finalidades que dele se espera (proteger o usuário de fraudes tecnológicas), e portanto «impróprio ao consumo», o fornecedor (banco) responde pela reparação dos prejuízos decorrentes do vício, nos termos do art. 20 e seu § 2º. do CDC (69).
O fato é que as formas mais corriqueiras de phishing podiam ser completamente eliminadas se os bancos tivessem implementado certas medidas tecnológicas. Os ataques de phishing ainda têm eficácia atualmente, de certa forma, porque as instituições financeiras permitiram esse estado de coisas. Até que implantem procedimentos seguros, não deve haver mudança na atribuição de responsabilidades pelos danos decorrentes desses ataques.
A situação se inverte para os bancos que introduziram métodos de múltiplos níveis de autenticação, com um deles realizado através da inserção de senha aleatória fornecida por dispositivo cuja responsabilidade pela guarda é do usuário (tabela de senhas, token ou displaycard). A introdução desse método de segurança para transações de pagamento afasta a inicial constatação de ineficiência quanto ao resguardo dos dados pessoais (dos clientes). Quando ocorre de o phisher se apropriar da senha (password) de acesso, ele fica apenas com um pedaço da informação (dados do cliente), que não é suficiente para realizar uma transação de transferência de numerário. A segunda senha, por ser aleatória e informada somente no momento da efetivação da transação (pela tabela de senhas, token ou displaycard), só vale para uma única operação realizada pelo próprio usuário (que é quem controla e guarda o dispositivo eletrônico de emissão de senhas). Assim, mesmo que o criminoso colete também a senha de segundo nível, esta já perdeu sua validade, não servindo para uma segunda operação.
Portanto, serviço de Internetbankig que disponha de múltiplo fator de autenticação (com senha de segundo nível aleatória) não sofre de vício de inadequação, e se não dispõe de vício, o fornecedor (banco) não pode ser responsabilizado por eventuais prejuízos, cuja causa se entende como sendo outra qualquer (culpa exclusiva da vítima). O vício é que fundamenta o dever de reparação do fornecedor; sem vício, não pode ser condenado a reparar os danos provenientes do phishing, já que a origem dos prejuízos (causa), nessa hipótese, é considerada como do âmbito da conduta do próprio cliente. É de ser considerado, nessa hipótese, que a concretização dos efeitos da fraude (prejuízos patrimoniais à vítima) foi causada não por uma falha do serviço, indene de vício, mas por outra causa – culpa da própria vítima.
É certo, por outro lado, que o múltiplo fator de autenticação não protege totalmente de golpe de phishing mesclado com «engenharia social» (também chamado de «man in the middle»). Para além dos e-mails e dos sites falsos, os phishers também usam o telefone para contactar os clientes, fazendo-se passar por funcionários dos bancos. Mas, nesse caso, como a fraude não é exclusivamente tecnológica, deve haver um reconhecimento da exclusão da responsabilidade dos bancos, pela admissão de que os sistemas informáticos que utilizam duplo fator de autenticação (com a segunda senha aleatória) não podem ser considerados inadequados. Uma pessoa pode se passar por um funcionário do banco e solicitar o token do cliente, além de sua senha de primeiro acesso e, com isso, realizar operações de transferências de dinheiro. O próprio correntista, por confiança, pode passar o dispositivo e a senha para uma pessoa conhecida, que realiza a transação sem seu conhecimento. Ou seja, sempre haverá a possibilidade de um fraudador burlar um sistema de segurança. Mas, nesses casos, deve ser reconhecido que o sistema do banco é eficiente contra as fraudes meramente tecnológicas e que, quanto às hipóteses de fraudes cuja execução é mesclada pela «engenharia social», o próprio cliente é que deve assumir o prejuízo, por ter repassado negligentemente seus dados pessoais ao fraudador.
Nos golpes «puros» de phishing, o cliente do banco sequer sabe que outra pessoa está coletando seus dados – o criminoso se vale de vírus ou de um site falso para coletá-los; já nos golpes que envolvem «engenharia social», é o próprio cliente quem repassa seus dados para o fraudador (ainda que tenha sido ludibriado a achar que se trata de um representante legítimo do banco). O sucesso do ataque depende única e exclusivamente da decisão do usuário em fornecer informações sensíveis.
Para os bancos que tenham implantado sistema múltiplo de autenticação (com senha de segundo nível aleatória), mostra-se apropriada a jurisprudência do STJ sobre fraudes em sistemas eletrônicos de pagamento, que atribui o dever de vigilância sobre os dados pessoais ao próprio correntista, cabendo a este «cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso», não podendo «ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros», porquanto, «ao agir dessa forma, passa a assumir os risco de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários» (70). Essa jurisprudência reconhece que a funcionalidade do serviço eletrônico do banco pressupõe a utilização de senha pessoal e dispositivos de segurança, que são exclusivos do cliente e intransferíveis, assumindo este a obrigação de zelar pela sua guarda e sigilo e, havendo quebra desse dever, não há relação de causalidade entre a atuação do banco e o prejuízo eventualmente gerado por esse descuido (71).
Realmente, de alguma forma o cliente tem que ser responsável pela confidencialidade de sua senha e dispositivos de acesso, considerando que o banco fez a parte dele em termos de segurança informática, ao desenvolver a tecnologia do duplo fator de autenticação. Se os experts consideram que a tecnologia do duplo (ou múltiplo) fator de autenticação é eficaz contra o phishing (na sua forma pura), o restante é o correntista quem tem que cumprir. Os bancos já fizeram a sua parte implementando um sistema de segurança eficaz. Se o cliente não toma cuidado, e entrega todas as suas senhas e dispositivos de segurança (tabela de senhas, token ou displaycard) a outra pessoa, ele é no mínimo descuidado e totalmente responsável pelos seus atos. Não existe sistema de autenticação de acesso em que se possa prescindir a participação do cliente, adotando certas precauções. Assim, a segurança dos dados e transações do cliente é também, em alguma extensão, de sua responsabilidade.
É preciso ter em mente, por outro lado, que uma jurisprudência extremamente ampla em termos de responsabilização dos bancos pode simplesmente inviabilizar o «modelo de negócios» construído na web via serviços de online banking. Se o cliente não tem qualquer temor de que pode sofrer perdas financeiras, nunca vai ser estimulado a tomar cuidado com seus equipamentos de segurança (de acesso ao sistema bancário). Ademais, entender-se que em todos os casos de fraude o banco deve ser responsável pela reparação dos prejuízos, tal estado de coisas alimentaria a possibilidade de um cliente simplesmente forjar um «legítimo acesso», e depois pedir que o banco reembolsasse o dinheiro. O jurista deve ter em conta que a responsabilidade ilimitada dos bancos pode criar a indústria dos «falsos acessos», terminando por desmantelar o «modelo» de serviços bancários on line. Não se pode, portanto, adotar um padrão de responsabilidade estrito e exclusivo para os bancos, no sentido de que estes estariam sempre obrigados a responder por toda e qualquer operação fraudulenta no acesso ao sistema de serviços bancários on line, mesmo evidenciado certo grau de negligência ou descuido por parte do usuário.
Diante dessas observações, até que as instituições financeiras tenham implementado sistemas de múltiplas senhas devem sofrer responsabilização pelas conseqüências do phishing. É dizer: banco online que não disponha desse mais avançado padrão de segurança deve responder pelos danos patrimoniais causados aos seus clientes como resultado de fraude eletrônica (phishing), em razão da falha (vício) do serviço, que não oferece proteção contra esse tipo de ataque informático. A evolução do sistema de autenticação para o de múltiplas senhas (com senha de segundo nível aleatória), para efeito de acesso ao ambiente de Internetbanking, leva a uma transferência da responsabilidade para os próprios clientes, pela constatação de que não há nexo de causalidade entre a atuação do banco (o sistema passa a ser considerado como isento de vício de funcionalidade) e o prejuízo material.
9. Conclusões:
1ª.) É inviável tentar responsabilizar o provedor de Internet pelos prejuízos decorrentes do phishing, porque não tem uma «obrigação geral de vigilância» sobre o conteúdo do material que hospeda ou sobre as informações que os usuários transmitem através de seu sistema informático. Nem por inércia na remoção do conteúdo ilícito, quando comunicado da presença de uma spoofed webpage hospedada em seu sistema, o provedor pode ser responsabilizado, pois em geral os próprios fraudadores tomam a iniciativa de remover o material, imediatamente após as tentativas de execução do golpe.
2ª.) Também não é razoável exigir que os provedores de serviços de e-mail sejam responsabilizados pelos danos que mensagens de phishing scam possam acarretar aos seus usuários. A menos que o contrato com o usuário contenha cláusula expressa nesse sentido, o provedor não tem uma obrigação de triagem das mensagens e, tendo em vista a natureza do serviço de e-mail e o atual estado da técnica referente às comunicações e transmissões eletrônicas de dados via Internet, as tecnologias disponíveis permitem um grau limitado de impedimento de chegada de mensagens fraudulentas à caixa postal dos usuários.
3ª.) A legislação criminal que objetiva a punição exclusiva do agente direto, praticante do phishing, não produz resultado satisfatório em termos de resposta à pessoa da vítima. Como os phishers atuam sob técnicas que favorecem o anonimato, quase sempre não conseguem ser identificados, permanecendo a vítima sem a restauração de seu patrimônio. Daí a necessidade do desenvolvimento de teoria na órbita civil, que admita a possibilidade de responsabilização de outro intermediário da comunicação eletrônica, para suportar o ônus de reparar o dano causado à vítima da fraude.
4º.) Dentre todos os partícipes da cadeia de comunicação telemática, é o banco (prestador dos serviços de Internetbanking) quem está mais visivelmente posicionado de forma a interferir e impedir os efeitos da ação do phisher. Por ser a parte que controla tecnicamente o acesso ao serviço de Internetbanking, pode prevenir os ataques de forma mais eficaz do que qualquer outro agente intermediário da cadeia eletrônica de comunicação. E é justamente por isso, por ser o agente intermediário que tem o maior controle tecnológico para evitar a consecução da fraude, que pode ser chamado à responsabilização, para reparar os efeitos patrimoniais do ilícito. Além disso, nenhum outro intermediário da cadeia de comunicação informática está tão ligado à vítima de phishing do que o seu próprio banco, com quem mantém uma relação contratual para prestação de serviços de Internetbanking.
5º.) A imputação de responsabilidade aos bancos, no entanto, não pode ser feita de forma aleatória, mas deve submeter-se aos esquemas de responsabilidade civil (contratual) existentes em nosso ordenamento jurídico. Examinando a natureza do vínculo que prende o banco ao seu cliente, identificamos a presença de uma relação de consumo, a ser regida pelas normas da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). No universo textual do CDC, encontramos um esquema de responsabilidade especial (no art. 20), atribuível aos fornecedores por vícios de inadequação dos serviços que disponibiliza no mercado. É com esse enquadramento legal que deve ser definida a responsabilidade dos bancos pelas conseqüências resultantes do phishing.
6ª.) No regime dos vícios de inadequação do serviço, tratado no art. 20 do CDC, o que é relevante para definir a responsabilidade não é o aspecto subjetivo da conduta do fornecedor (banco). Na definição do dever de reparação, o importante é um dado objetivo: se o serviço (de Internetbanking) é falho (viciado) ou não. E um sistema de Internetbanking que não proteja o usuário contra golpes de phishing não pode ser encarado como isento de vício. O cliente desse serviço tem uma legítima expectativa de proteção contra fraudes eletrônicas e, se não atende a essa expectativa, não se mostra adequado para realizar a finalidade que razoavelmente dele se espera. O sistema de Internetbanking que não tenha evoluído para proteger o cliente contra golpes de phishing é «impróprio ao consumo», por conter vício de qualidade, já que se mostra inadequado aos fins que dele razoavelmente se espera (§ 2º. do art. 20 do CDC)
7ª.) Como a definição da responsabilidade passa necessariamente pela análise da adequação do serviço, ou seja, se não padece de vício que comprometa sua funcionalidade, o dever de reparação dos danos de cliente bancário sofrido em decorrência de phishing vai exigir, em cada caso, a investigação das ferramentas tecnológicas que o banco emprega, em seu sistema informático, para proteger o usuário desse tipo de cilada eletrônica. A premissa deve ser a de que o banco que não tenha instalado método de autenticação com mais de um nível de segurança (sendo um deles através de senha aleatória) deve ser responsabilizado pelos prejuízos patrimoniais causados pelo fraudador (phisher) ao seu cliente. As soluções tecnológicas de segurança inicialmente implantadas pelos bancos, tais como firewall, criptografia de dados, teclado virtual e certificado digital, não são aptas a eliminar os efeitos do phishing. A introdução dos métodos de múltiplos níveis de autenticação, com um deles realizado através da inserção de senha aleatória fornecida por dispositivo cuja responsabilidade pela guarda é do usuário (tabela de senhas, token ou displaycard), afasta a inicial constatação de ineficiência quanto ao resguardo dos dados pessoais (dos clientes) – os experts consideram que essa nova tecnologia de autenticação é eficaz contra o phishing (na sua forma pura). Portanto, serviço de Internetbankig que disponha de múltiplo fator de autenticação (com senha de segundo nível aleatória) não sofre de vício de inadequação, e se não dispõe de vício, o fornecedor (banco) não pode ser responsabilizado por eventuais prejuízos, cuja causa se entende como sendo outra qualquer (culpa exclusiva da vítima).
—————————————————————————————————
(1) O Departamento de Justiça dos EUA define phishing como «criação e uso criminosos de e-mails e websites, desenhados para parecer como renomadas e legítimas empresas, instituições financeiras e agências governamentais, de modo a enganar usuários de Internet para que revelem suas informações bancárias e financeiras ou outro dado pessoal como nome de usuário e senhas» (em DEPARTMENT OF JUSTICE, SPECIAL REPORT ON «PHISHING» (2004), disponível em: http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/Phishing.pdf
(2) Banco internético (do inglês internet banking), banco online, online banking, às vezes também banco virtual, banco eletrônico ou banco doméstico, são termos utilizados para caracterizar transações, pagamentos etc. pela Internet por meio de uma página segura de banco. Esse sistema permite ao usuário utilizar os serviços do banco fora do horário de atendimento ou de qualquer lugar onde haja acesso à Internet. Na maioria dos casos, um programa navegador (como o Internet Explorer ou o Mozilla Firefox) e qualquer conexão à Internet são suficientes, não sendo necessário nenhum software ou hardware adicional.
(3) Os incidentes de phishing têm crescido dramaticamente desde 2003. Sobre as taxas de crescimento desse tipo de fraude, recomendamos a leitura do ANTI-PHISHING WORKING GROUP, PHISHING ACTIVITY TRENDS REPORT (de junho de 2006), disponível em: http://www.antiphishing.org/reports/apwg_report_june_2006.pdf
(4) Inclusive no Google Acadêmico (Google Scholar) – http://scholar.google.com/
(5) A exemplo do trabalho de Camille Calman, sob o título: » BIGGER PHISH TO FRY: CALIFORNIA’S ANTIPHISHING STATUTE AND ITS POTENTIAL IMPOSITION OF SECONDARY LIABILITY ON INTERNET SERVICE PROVIDERS», publicado na Richmond Journal of Law & Technology, Volume XIII, Issue 1.
(6) Ou também sites de pagamento (como o Paypal), de comércio eletrônico, sites de leilão, etc.
(7) No caso do pharming, a vítima tem seu computador infectado de outras maneiras. Por exemplo, pode acontecer de a pessoa sofrer a inserção de vírus em seu computador simplesmente navegando por páginas da Internet. Esse vírus altera a configuração do programa de navegação da vítima (browser), fazendo com que, quando esta tenta acessar um site de um banco, por exemplo, o navegador infectado a redireciona para o site falso.
(8) Em artigo que escrevemos anteriormente, já identificamos a responsabilidade do provedor na reparação dos prejuízos sofridos por seu usuário nas hipóteses de «envenenamento» do DNS. Ver «A INFECÇÃO DO SISTEMA DNS: nova modalidade de phishing e a responsabilidade do provedor», artigo publicado no site Jus Navigandi – http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6978 , em julho de 2005.
(9) A expressão inglesa identity theft foi utilizada pela primeira vez em 1996, quando a Comissão Federal para o Comércio (Federal Trade Comission) alertou para o crescente número de utilização fraudulenta de dados de identificação de consumidores. Depois, a expressão foi incorporada na terminologia literária americana. Em verdade, não é fisicamente possível o furto da identidade de uma pessoa; o que é possível é o furto dos seus meios de identificação.
(10) O phishing na verdade tem uma acepção mais ampla, envolvendo qualquer tentativa de fraudulentamente se obter informação sensível como senhas e dados de cartões de crédito ou qualquer outro dado que permita a realização de transação em sistemas de pagamento on line (nonbank payment systems, como o Pay Pal e o e-Gold), sites de leilão e de comércio eletrônico em geral. Assim, o phisherman pode ter como alvo os dados de um usuário e respectivos números da conta e senhas bancárias, para serem utilizados em sites de Internetbanking, ou pode coletar dados de cartão de crédito e senhas utilizadas em sites de comércio eletrônico ou de leilão (como o e-Bay) e de sistemas de pagamento on line. Além disso, o phishing não somente pode ser executado por meio do envio de uma mensagem de e-mail como também através de comunicação em programas de instant messaging e até mesmo por telefone.
(11) As mensagens de phishing scam geralmente aparentam provenientes de uma fonte confiável. Os fraudadores manipulam o campo do cabeçalho da mensagem (campo «de:» ou «from:») com o nome do remetente, de forma a que o destinatário pense ser de fonte legítima.
(12) Esse tipo de atividade fraudulenta, em que se usam clones de websites com a aparência de sites respeitáveis, é também chamada de spoofing.
(13) Notícia publicada na eWeek.com (www.eweek.com), no dia 29.04.05, reporta provável ataque ao servidor da Network Solutions Inc., conhecido registrador de nome de domínios, através do qual hackers podem ter alterado as informações do endereço na Web da empresa Hushmail Communications Corp, de modo a redirecionar os visitantes da URL dessa empresa – hushmail.com – para um site falso.
(14) O sistema DNS é formado por uma rede global de servidores, compreendida de 13 servidores raiz espalhados pelo mundo. O original sistema de endereços usava apenas números, de difícil utilização portanto. A partir de 1984 foi introduzido o sistema DNS, permitindo aos usuários utilizar palavras (mais fácil de memorizar) e as organizando em forma de «nomes de domínio». Assim, todo endereço na web passou a ser formado por um nome de domínio (domain name), que tem que ser registrado num sistema central, de maneira a que corresponda a um número IP (Internet Protocol) – que é o endereço que realmente os computadores se utilizam para a troca de «pacotes» de informação entre eles. Portanto, a comunicação entre computadores ainda continua a se utilizar de números. Todo website tem um número de identificação único (número IP), através do qual o sistema o reconhece e direciona para ele a informação. Mas os internautas procuram endereços na web inserindo «nomes de domínio» na barra de seus programas navegadores. O servidor DNS faz a correspondência entre o nome de domínio e o respectivo IP, repassando a informação para o computador do internauta.
(15) Uniform Resource Locator, sigla que designa o endereço de um site na Web.
(16) Sobre os fundamentos jurídicos da responsabilidade do provedor de Internet por danos resultantes ao seu usuário de ataques de DNS poisoning, sugerimos a leitura de nosso artigo «A INFECÇÃO DO SISTEMA DNS: a nova modalidade de phishing e a responsabilidade do provedor», publicado no site Jus Navigandi – http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6978
(17) Em notícia recente (do dia 9.8.08) publicada no site da BBC, foi divulgada a existência de falha no programa navegador que permitiria um ataque de pharming, já que haveria a possibilidade de, explorando essa falha, os criminosos redirecionarem os internautas para sites falsos, mesmo teclando endereços corretos. A notícia dá conta de que a Microsoft e outras grandes empresas que desenvolvem softwares estão distribuindo patchs para conserto do defeito de segurança nos browsers de seus usuários. Na mesma notícia, ainda é feita referência de que não se tem comprovação de que a falha tenha sido utilizada. É certo, no entanto, que, em tendo sido efetivamente explorada para a efetivação de algum ataque, o fabricante do programa poderia ser responsabilizado. A vulnerabilidade que permitiu a concretização do golpe, nesse caso, não seria da responsabilidade do provedor de Internet.
A notícia, sob o título «Fix found for net security flaw», pode ser acessada em:
http://news.bbc.co.uk:80/2/hi/technology/7496735.stm
(18) Naftali Bennett, especialista em segurança computacional, afirma que 70% dos phishers produzem ataques em vítimas de países distintos . Ele acrescenta: «É quase impossível rastrear e processar os fraudadores Phishers estão se tornando mais sofisticados e mascarando suas identidades e localização. Eles estão se utilizando de PC´s «zumbis» e se escondendo de forma eficiente» (Citado por Gene S. Koprowski, Tough State Laws Won’t Stop «Phishing» Scams, Experts Say, TECHNEWSWORLD, Oct. 29, 2005, disponível em: http://www.technewsworld.com/story/46889.html
(19) O golpe de phishing típico envolve dois passos iniciais. No primeiro, o phisher obtém espaço para hospedar uma webpage junto a um provedor de serviços na Internet e, uma vez contratado isso, instala o falso website, parecido com o de um banco ou de comércio eletrônico. Somente depois, é que o phisher envia para a vítima o e-mail enganoso ou contendo vírus que se apodera de seu computador e direciona o programa de navegação na Internet (browser) para a URL onde já se encontra o spoofed website.
(20) Alguns autores estrangeiros sustentam a possiblidade de se responsabilizar civilmente o provedor, de forma solidária, pelas lesões financeiras decorrentes do phishing, É o caso, por exemplo, de Camille Calman, que sugere uma responsabilidade secundária do provedor, com fundamento na Lei Anti-Phishing da Califórnia (em Bigger Phish to Fry: California’s Antiphishing Statute and its potential imposition of secondary liability on Internet Service Providers, publicado na Richmond Journal of Law & Technology Volume XIII, Issue1; disponível em http://law.richmond.edu/jolt/v13i1/article2.pdf
(21) Segundo Jeordan Legon, que afirma que os phishers além de mascarar suas identidades, abrem e fecham suas operações rapidamente (em «Phishing» Scams Reel in Your Identity, CNN.COM, Jan. 26, 2004, disponível em: http://www.cnn.com/2003/TECH/internet/07/21/phishing.scam/index.html
(22) «The Promise of Internet Intermediary Liability», William & Mary L. Review, 47 (2005): 239, disponível em http://works.bepress.com/ronald_mann/24
(23) Sempre, é óbvio, quando a falha de segurança não se relacione com o próprio sistema do provedor. O alvo dos ataques de phishing, spam e disseminação de vírus em regra são os computadores dos usuários dos serviços de comunicação na Internet.
(24) Seria uma responsabilidade por ato de terceiro. Em que pese a ausência de previsão da responsabilidade dos provedores por atos de seus usuários no art. 932 do C.C., a responsabilidade dos intermediários seria mantida apoiada nos fundamentos da responsabilidade por ato alheio, sobre a base de uma culpa individual A inexistência de norma específica em relação aos provedores e operadores de sistema informáticos poderia ser explicada na circunstância de que as relações cibernéticas são um fenômeno da modernidade, não prevista pelo legislador civilista, daí porque, em nome da evolução do Direito, seria fácil sustentar a extensão da responsabilidade secundária, de forma a incluir também aqueles (provedores) como responsáveis solidários. Uma tal conclusão não seria destituída de razoabilidade jurídica, pois o Direito não pode tolerar que ofensas fiquem sem reparação. Se «o interesse em restabelecer o equilíbrio violado pelo dano é a fonte geradora da responsabilidade civil», nada impede que se visualize a responsabilidade dos intermediários da comunicação eletrônica, para atender a uma necessidade moral, social e jurídica de garantir a segurança da vítima violada pelo ato lesivo. Nesse sentido, os fundamentos da responsabilidade por ato alheio, calcada na falta de um dever de vigilância, podem ser invocados de modo a justificar a obrigação indenizatória de um controlador de sistema negligente.
(25) Que pode ser o seu próprio provedor de acesso à Internet, cujo servidor armazena em espaço em disco uma «caixa postal», onde ficam transitoriamente as mensagens até serem baixadas para o computador do usuário, que tem seu próprio programa gerenciador de e-mails (o Outlook Express, por exemplo), ou um provedor de serviços de webmail, onde as mensagens são armazenadas exclusivamente em seu servidor – o destinatário lê as mensagens na tela do programa que usa para navegar na Web. O Yahoo!, o Hotmail e o GMail são exemplos de provedores desses serviços de webmail. O internauta se conecta à rede Internet através de seu provedor de acesso e adentra nesses sites de serviços webmail pelo seu programa de navegação (browser). As mensagens que os usuários recebem ficam armazenadas de forma definitiva nos servidores desses prestadores de serviços.
(26) Nesse sentido é a posição defendida pelo Min. Castro Filho, do STJ, no artigo «Da Responsabilidade do Provedor de Internet nas relações de consumo», apoiando-se na opinião de Erica Barbagalo (Aspectos da Responsabilidade civil dos provedores de serviços de Internet, in LEMOS, Ronaldo (Org.). Conflitos sobre nomes de domínio: e outras questões jurídicas da Internet. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 345.
(28) O Google é uma das mais populares ferramentas de busca na Internet.
(29 O Yahoo! Mail utiliza a tecnologia patenteada como SpamGuard, que direciona automaticamente todas as mensagens de spam para uma pasta de «e-mails em massa».
(30) Enquanto o endereço de envio for o mesmo (assim como o domínio), o bloqueador baseado na informação do campo «De» (ou «From») é bastante efetivo.
(31) O Projeto de Lei n. 6.210/2002 apresentado na Câmara dos Deputados em 05.03.02, de autoria do Dep. Ivan Paixão (PPS-SE), trazia a seguinte disposição:
«§ 3º Não será responsabilizado pelo recebimento indevido de mensagem eletrônica não solicitada o provedor de acesso ou de serviço de correio eletrônico que tenha se utilizado, de boa fé, de todos os meios a seu alcance para bloquear a transmissão ou recepção da mensagem.». O projeto, no entanto, foi arquivado em 31 de janeiro de 2003. Ver informações a respeito no site da Câmara dos Deputados.
(32) As soluções técnicas, os filtros de spam, são soluções paliativas. Os programas de filtragem são constituídos de uma série de regras que visam a determinar a semelhança de uma mensagem analisada com um spam. Os programas são regulados para bloquear mensagens segundo alguns critérios pré-definidos, levando em conta, p. ex., se a mensagem é proveniente de alguns servidores listados como sendo de spammers, ou se é enviada para um número alto de destinatários, ou se contém certa palavra, entre outros padrões. Esses programas, contudo, são sempre limitados, e geralmente terminam filtrando mais mensagens do que o desejado.
(33) É nessa linha que se situam as leis alienígenas que regulam a atividade de envio de mensagens eletrônicas não solicitadas, a exemplo do CAN-Spam Act, a lei americana editada com a finalidade de combater o spam.
(34) Veja comunicado oficial, sobre a apresentação do projeto de lei no Senado Norte-Americano em: http://leahy.senate.gov/press/200503/030105.html . O texto completo da lei pode ser obtido em: http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=h109-1099 .
(35) «Configura crime de furto qualificado a subtração de valores de conta corrente, mediante transferência bancária fraudulenta, sem o consentimento do correntista» (STJ – 3ª Seção – CC 87.057-RS – Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura – j. 13.02.2008 – DJ 22.02.2008). Nesse caso julgado, o criminoso promoveu a transferência de valores por intermédio do Internet Banking da CEF. A relatora em seu voto esclareceu que: «A fraude, de fato, foi usada para burlar o sistema de proteção e vigilância do banco sobre os valores mantidos sob sua guarda, configurando, assim, crime de furto qualificado por fraude, e não estelionato».
(36) Ver, a propósito, Jim Harper, Diretor de Estudos de Política de Informação do Cato Institute, que afirma:
«Politicians who claim to protect consumers in this environment either don’t know that they are lying, or are deeply cynical» (citado por Gene S. Koprowski,, em Tough State Laws Won’t Stop «Phishing» Scams, ExpertsSay, publicado em TECHNEWSWORLD, Oct. 29, 2005, acessível em: http://www.technewsworld.com/story/46889.html
(37) Naftali Bennett, especialista em segurança computacional, afirma que 70% dos phishers produzem ataques em vítimas de países diferentes. Ele acrescenta: «É quase impossível rastrear e processar os fraudadores…. Phishers estão se tornando mais sofisticados e mascarando suas identidades e localização. Eles estão se utilizando de PC´s «zumbis» e se escondendo de forma eficiente» (Citado por Gene S. Koprowski, Tough State Laws Won’t Stop «Phishing» Scams, Experts Say, TECHNEWSWORLD, Oct. 29, 2005, disponível em: http://www.technewsworld.com/story/46889.html
(38) Nas palavras de Maria Helena Diniz, Curso de Direito Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 11a ed., 7o. vol., p.
(39) Ver itens 3 e 4, onde apontamos a inviabilidade de se pretender a responsabilização dos provedores de serviços na Internet.
(40) Para os bancos, é da alçada de responsabilidade do usuário a proteção do seu computador, devendo ter cuidados na utilização do correio eletrônico e do programa navegador. Indicam que o cliente deve dispor de antivírus atualizado e se manter atento ao phishing. Em seus websites, em geral informam que nunca enviam mensagens de correio eletrônico com links e que se o cliente receber mensagem desse tipo fica aleartado que provavelmente se trata de uma fraude. Informam ainda os clientes para nunca clicar em links de mensagens provenientes de fontes não fidedignas e não abrir arquivos anexados, bem como manter os dados de acesso reservados, nunca divulgando-os a outra pessoa, mesmo sendo de confiança. Essas medidas, no entanto, não são suficientes para impedir a responsabilização dos bancos, como veremos adiante.
(41) As mensagens de phishing primitivas eram mais facilmente detectáveis, pelo menos pelos usuários da Internet mais experientes. Muitas continham inclusive erros gramaticais e os endereços nos links eram exclusivamente numéricos, deixando revelar que a página eletrônica para a qual enviava não era a do site legítimo. Além disso, as mensagens eram enviadas de forma indiscriminada, alcançando usuários que não tinham relações com o banco ou website respectivo. Atualmente, as mensagens de phishing tendem a ser gramaticalmente corretas e quando contêm algum erro no título geralmente é posto de forma intencional, para evitar filtros que detectam spams. Muitos phishers só enviam mensagens para clientes da instituição cuja marca ou site eles tentam fraudar, numa técnica conhecida como spear-phishing. Além disso, os fraudadores desenvolveram técnicas para mascarar a URL do site falso, fazendo com que o correspondente ao site legítimo apareça no local da barra de endereços do programa de navegação.
(42) Pode-se usar a analogia de que a rede seria a estrada por meio da qual é feito o acesso à «casa» (site do banco). Essa analogia entre a rede de comunicação (para acesso ao sistema do banco) com uma estrada foi construída por Demi Getschko, Diretor-presidente do NIC.br. Diz ele, sobre a necessidade de se garantir a segurança do internauta contra fraudes de phishing: «A maioria dos bancos já têm sistemas muito seguros. Queremos resolver um problema de segurança das estradas, não das casas: garantir a segurança do usuário até que ele chegue ao site», afirma Getschko (em entrevista à Folha Online, http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u395485.shtml)
(43) A solução de anti-vírus é reconhecidamente ineficiente na detecção de novas modalidades de programas maliciosos. Um estudo conduzido pelo AusCERT em 2006 revelou que, em média, 60% das formas de vírus que coletam informações pessoais não são detectadas por programas anti-vírus, assim que são utilizados em um primeiro ataque. Portanto, os computadores dos clientes com as versões mais atualizadas de software anti-vírus são vulneráveis a ataques com novas formas de malwares.
(44) «Liability should be expanded only to those parties whose cost of preventing misconduct is sufficiently low» (ob. cit.).
(45) TRF-5ª. Reg., AC 212207/RN, rel. Des. Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria.
(46) Segundo os autos, foram feitas transferências de valores da conta poupança da cliente sem a sua autorização, tendo ela informado o banco sobre a fraude praticada pela Internet. O banco tentou eximir-se de responsabilidade, atribuindo culpa à cliente, já que as transações foram feitas com o uso de sua senha pessoal (Proc. n. 20040110053359, em notícia do site Consultor Jurídico, de 01.06.06).
(47) Em trecho de sua sentença, o Juiz Franco Vicente Piccolo assentou o seguinte:
«Sabe-se que a prestação de serviços por meios eletrônicos tende a fomentar a atividade bancária, reduzir os custos operacionais e aumentar os lucros da instituição financeira. (…) Cabe destacar que, em casos tais, a doutrina e a jurisprudência assinalam que a imputação da responsabilidade civil orienta-se pela chamada teoria do risco profissional, nos termos da qual é responsável pela reparação dos danos aquele que maior lucro extrai da atividade que lhe deu origem» (grifo nosso).
(48) STJ-4ª. Turma, REsp 601805/SP, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 20.10.05, DJ 13.11.05.
(49) O art. 12 do CDC disciplina a responsabilidade do fornecedor por fato do produto, enquanto que o art. 14 trata do fato do serviço.
(50) Os vícios por inadequação do produto são subdivididos em três tipos: vícios de impropriedade, vícios de diminuição do valor e vícios de disparidade informativa. Estes últimos também são denominados de vícios de qualidade por falha na informação ou simplesmente vícios de informação.
(51) Cláudia Lima Marques, explicando os critérios de responsabilidade por vícios dispostos no art. 18 do CDC, assevera: «Assim, no sistema do CDC, da tradicional responsabilidade assente na culpa passa-se à presunção geral desta e conclui-se com a imposição de uma responsabilidade legal» (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Editora Revista dos Tribunais, 2a. edição).
(52) Segundo o art. 20 do CDC, «O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo….».
(53) Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Editora Revista dos Tribunais, 2a. edição, p. 259. A doutrinadora explica também que o legislador brasileiro, ao criar esse sistema especial de responsabilização, sofreu a influência do sistema da common law, de garantia implícita (implied warranty) de adequação e segurança do produto ou serviço, mas também inspirou-se no sistema da Diretiva Européia (Diretiva 35/374/CEE, de 25.07.85), que parte da idéia de defeito do produto introduzido no mercado como fundamento da responsabilidade do fornecedor. Desta fusão resultou o sistema do CDC.
(54) Nos seus comentários ao art. 18 do CDC, ob. cit., p. 341.
(55) Ob. cit., p. 359.
(56) Ob. cit., p. 359 e 360.
(57) Nos termos do § 2º. do art. 20 do CDC, «são impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam».
(58) Conceito encontrado na Wikipedia.
(59 Existe na forma de software e hardware, ou na combinação de ambos (neste caso, normalmente é chamado de «appliance»). A complexidade de instalação depende do tamanho da rede, da política de segurança, da quantidade de regras que autorizam o fluxo de entrada e saída de informações e do grau de segurança desejado.
(60) Geralmente esse protocolo de segurança é indicado pela existência da figura de uma cadeado fechado, localizada no lado direito da barra inferior – chamada de barra de status – do seu navegador (a figura do cadeado aparece a partir da tela de acesso onde é solicitada a senha). A figura do cadeado mostra que a página é segura.
(61) Da mesma forma que os cartórios tradicionais, são organizadas segundo critérios legais e obedecem, na prestação dos seus serviços de certificação, a toda uma política de procedimentos, padrões e formatos técnicos estabelecidos em regimes normativos. Obedecem, portanto, a um modelo técnico de certificação e estrutura normativa, que define quem pode emitir certificado para quem e em quais condições. O conjunto ou modelo formado de autoridades certificadoras, políticas de certificação e protocolos técnicos compõe o que se convencionou chamar de «Infra-Estrutura de Chaves Públicas» ou simplesmente ICP
(62) O simples acesso para consultar saldos, extratos e realizar outras consultas não necessita da senha de 2º. nível, valendo apenas a senha de acesso.
(63) No relatório FDIC consta o depoimento de perito, nos seguintes termos: «[A]lmost all phishing scams in use today could be thwarted by the use of two-factor authentification.»). Two-factor identification combines factor one, a password, with factor two, either biometric information (such as fingerprints, eye scans, or a voice read) or a token (such as a USB device that plugs into the user’s computer’s USB port, or a smart card inserted into a reader). Systems protected by two-factor identification are far less vulnerable to phishers» (supra note 38, at 26).
(64) O termo Engenharia Social é utilizado para descrever um método de ataque onde alguém faz uso da persuasão, muitas vezes abusando da ingenuidade ou confiança do usuário, para obter informações que podem ser utilizadas para ter acesso não autorizado a computadores ou informações. Engenharia Social é uma modalidade de estelionato prevista no artigo 171 do Código Penal brasileiro.
(65) Também pode ocorrer a combinação dessas duas formas de contato. Alguns exemplos apresentam casos onde foram utilizadas mensagens de e-mail e contato telefônico. O cliente recebe uma mensagem de e-mail onde o remetente se passa pelo gerente ou o departamento de suporte do banco. No corpo da mensagem de e-mail é fornecido um número de telefone do suporte do banco, para o cliente mesmo fazer a ligação.
(66) Essa variedade do ataque de phishing que pressupõe a intervenção do agente humano, que atua no convencimento do cliente a entregar seus dados, é também chamada de «man in the middle».
(67) Ver item 6.1.1.
(68) Como vimos em item acima (item 7).
(69) O inc. II do art. 20 do CDC prevê expressamente que, além da restituição da quantia paga, o consumidor pode exigir do fornecedor a reparação de eventuais perdas e danos causados por vício de qualidade do serviço.
(70) STJ-4ª. Turma, REsp 601805-SP, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 20.10.05, DJ 14.11.05. A ementa desse julgado está assim expressa:
«RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS – SAQUES INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ART. 14, § 3º DO CDC – IMPROCEDÊNCIA.
1 – Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários. (RESP 602680/BA, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.08.2002).
2 – Fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o defeito inexiste ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC).
3 – Recurso conhecido e provido para restabelecer a r. sentença».
A única crítica que deve ser feita a esse julgado é a invocação do art. 14, § 3º. do CDC, ao invés do seu art. 20, par. 2º. Houve, nesse caso, um erro de apreciação entre o que seja fato do serviço e simples vício do serviço.
(71) Representativos dessa corrente jurisprudencial são os acórdãos abaixo ementados:
«CIVIL. CONTA-CORRENTE. SAQUE INDEVIDO. CARTÃO MAGNÉTICO. SENHA.
INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1 – O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário.
2 – Recurso especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial» (STJ-4ª. Turma, REsp 602680-BA, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 21.10.04, DJ 16.11.04).
«CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. EXTENSÃO INDEVIDA. CPC, ART. 333, I.
I. Extraída da conta corrente do cliente determinada importância por intermédio de uso de cartão magnético e senha pessoal, basta ao estabelecimento bancário provar tal fato, de modo a demonstrar que não agiu com culpa, incumbindo à autora, em contrapartida, comprovar a negligência, imperícia ou imprudência do réu na entrega do numerário.
II. Recurso especial conhecido e provido, para julgar improcedente a ação» (STJ-4ª. Turma, REsp 417835-AL, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 11.06.02, DJ 19.08.02).
A Jurisprudência Brasileira sobre responsabilidade do provedor por publicaçôes na internet
A Jurisprudência Brasileira sobre responsabilidade do provedor por publicaçôes na internet. A mudança de rumo com a recente decisão do STJ e seus efeitos
Recente julgamento da 3ª. Turma do STJ, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, parece ter criado verdadeiro «leading case» na jurisprudência brasileira sobre a questão da responsabilidade civil dos intermediários da comunicação informática. O julgado acatou a tese de que os provedores de serviço na Internet não podem ser responsabilizados por material informacional ilícito que transitam em seus sistemas, quando produzidos diretamente por seus usuários.
A tarefa de determinar a extensão ou limites da responsabilidade dos agentes nas redes de comunicação eletrônica sempre foi extremamente difícil, diante das peculiaridades de como ocorrem as interações sociais nos ambientes e espaços virtuais. Nem sempre elas se estabelecem da mesma forma ou guardando exata correspondência com os ambientes físicos ou mesmo com os contextos dos meios de comunicação tradicionais (televisão, rádio, imprensa escrita etc.), daí a dificuldade de fazer o enquadramento jurídico dessas situações, por não termos um corpo de leis definindo a responsabilização dos agentes intermediários na transmissão, publicação e armazenamento de mensagens e arquivos de dados.
Diferentemente de outros meios tradicionais de comunicação, na Internet nem sempre o operador ou controlador de um site, de um blog ou de um canal de chat é quem publica a informação. A sua posição é diferente de um editor de mídia tradicional, que geralmente tem o completo controle sobre o conteúdo que divulga em seu veículo de comunicação. Em face do trabalho que empreende, está em condições de examinar previamente o conteúdo da informação e, assim, decidir se a publica ou não. Diz-se que tem o controle editorial sobre a informação. Desse poder de controle, decorre a responsabilidade pela publicação de informações danosas. A pressuposição é de que, se decide publicar alguma coisa, é porque tem conhecimento da natureza da informação publicada. Por essa razão, responde solidariamente com o fornecedor da informação, ao levá-la ao conhecimento do público.
Os prestadores de serviços na Internet, como os mantenedores de sites de relacionamento, de fóruns eletrônicos de discussão e de canais de chat nem sempre têm esse mesmo poder sobre o conteúdo das informações que transitam em seus sistemas, por causa das tecnologias que empregam. Simplesmente permitem que mensagens, fotos e vídeos sejam postados instantaneamente, em espaços (virtuais) que fornecem em seus sistemas para que o usuário (internauta) por sua própria conta e iniciativa edite (publique) a informação. Para exemplificar, tomemos o sistema do site de relacionamento Orkut, por ser bastante popular e de utilização disseminada no Brasil. Nos seus subespaços, qualquer usuário pode criar um perfil ou comunidade e publicar a informação que desejar, sem controle (editorial) prévio da empresa que mantém esse serviço (a Google). Da forma como o sistema foi criado e funciona, o operador não tem como examinar previamente o conteúdo das mensagens antes de sua publicação. Em conseqüência, se convencionou que não pode ter o mesmo padrão de responsabilidade do editor de mídia tradicional.
Foi nesse sentido que se construiu e evoluiu a jurisprudência alienígena. No caso Cubby, Inc. v. CompuServe, um dos primeiros julgados sobre difamação na Internet (em 1991), a Corte Distrital de Nova Iorque concluiu que o provedor não teve oportunidade de rever o conteúdo da publicação antes dela ser enviada para o seu sistema, daí que não podia ser responsabilizado pela mensagem eletrônica1. A partir do julgamento desse caso, fortaleceu-se na jurisprudência estrangeira o princípio geral de que o operador de um site não pode, em regra, ser responsabilizado pelas mensagens postas em serviços eletrônicos de mensagens, à falta de controle editorial, já que, nesses casos, quem faz a «fixação prévia da mensagem para comunicação ao público» não é ele, mas sim um usuário do sistema. A idéia dominante passou a ser a de que um provedor notificado por um indivíduo que considera uma publicação difamatória, somente pode ser responsabilizado se não removê-la. As primeiras leis que surgiram no continente americano e no europeu, sem praticamente nenhuma exceção, trouxeram capítulos adotando o princípio geral da isenção de responsabilidade pela difusão de material ilícito realizada por terceiro2.
A jurisprudência brasileira, no entanto, seguiu inicialmente uma tendência contrária ao caminho que vinha sendo universalmente aceito. Apenas a título de exemplificação, cite-se a sentença do Juiz de Franca-SP, Dr. Orlando Brossi Junior, o qual, julgando ação promovida por uma pessoa jurídica que se sentiu ofendida por informações divulgadas em comunidade do Orkut, estabeleceu que o provedor de serviços (mantenedor do site de relacionamentos) tem o dever, sim, de vigilância sobre o conteúdo que transita em seu sistema3. Destacou que se «o provedor de hospedagem assumiu o risco de disponibilizar serviço que eventualmente possa ser mal utilizado,
lesando bens alheios», está obrigado a indenizar. Acatou o dever de vigilância como fundamento da responsabilização, assinalando que:
«a requerida realmente possui poder de gerência sob o conteúdo que hospeda, podendo verificar a idoneidade das informações que lhe são lançadas, reprimindo aquelas que afrontem os bons costumes e a moral, objetos de tutela jurídica. Saliente-se que não se trata de censura prévia, e sim de sopesar os princípios da liberdade de expressão, afastando os excessos ocorridos, com base na premissa neminem laedere.»
Como supedâneo de sua fundamentação, a sentença fez menção à anterior julgado do TJSP, que já acolhia a tese do dever de controle prévio do conteúdo divulgado no site, que guarda a seguinte ementa:
«DANO MORAL – Responsabilidade civil – Internet – Nomes e telefone das autoras indevidamente divulgados em «site» de relacionamento – Dados inseridos por terceiros, atribuindo-lhes a prática de programas sexuais – Negligência da ré em não efetuar controle prévio sobre a qualidade dos dados inseridos na rede, ou de sistema de rastreamento de usuários – Recebimento de ligações de interessados nos serviços – Ofensa à imagem das autoras – Valor indenizatório – Fixação segundo juízo jurisprudencial – Recursos não providos»4
Até aí, no entanto, a jurisprudência parecia caminhar no sentido de condenar o provedor por conteúdo postado por terceiros (usuários de serviços na Internet), mas utilizando o esquema de imputação de responsabilidade baseado na culpa. Porém, começaram a surgir decisões ainda mais imperativas do ponto de vista da responsabilização do provedor, pois o fundamento passou a ser a natureza de sua atividade. Alguns magistrados começaram a adotar o entendimento de que o risco agregado à atividade (de prestação de serviços informáticos) justificaria a responsabilização objetiva do provedor, isto é, independentemente de agir com qualquer grau de culpa em determinado episódio. Estava se consagrando a teoria do risco como fundamento da responsabilidade do provedor por publicações postadas por terceiros.
A 13a. Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais seguiu essa nova vertente, ao condenar o Google a pagar indenização em razão da divulgação de textos de conteúdo ofensivo no Blogspot, serviço de criação de blogs mantido por aquela empresa. Ao que parece, o risco que torna a atividade do provedor periculosa a ponto de justificar sua responsabilização, foi apontado na circunstância de não manter sistema de controle mais perfeito da identificação dos usuários do serviço. A relatora do processo, Desa. Cláudia Maia, deixou expressa sua opinião de que, sem algum tipo de controle dessa natureza e sem haver responsabilização do provedor por negligência na adoção de tal medida, qualquer um pode fazer comentários depreciativos na Internet e prejudicar a reputação e imagem de outra pessoa sem qualquer conseqüência, o que não se compatibiliza com o nosso sistema jurídico. Disse ela que:
«à medida que a provedora de conteúdo disponibiliza na internet um serviço sem dispositivos de segurança e controle mínimos e, ainda, permite a publicação de material de conteúdo livre, sem sequer identificar o usuário, deve responsabilizar-se pelo risco oriundo do seu empreendimento»5.
A ementa desse julgado ficou assim redigida:
«AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PUBLICAÇÃO DE MATERIAL OFENSIVO NA INTERNET SEM IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. RESPONSABILIDADE DA PROVEDORA DE CONTEÚDO. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. À medida que a Provedora de Conteúdo disponibiliza na Internet um serviço sem dispositivos de segurança e controle mínimos e, ainda, permite a publicação de material de conteúdo livre, sem sequer identificar o usuário, deve responsabilizar-se pelo risco oriundo do seu empreendimento. Em casos tais, a incidência da responsabilidade objetiva decorre da natureza da atividade, bem como do disposto no art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Não tendo o réu apresentado prova suficiente da excludente de sua responsabilidade, exsurge o dever de indenizar pelos danos morais ocasionados. O arbitramento do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato»6.
Ainda, como exemplo da linha jurisprudencial que adotou a responsabilidade objetiva do provedor por conteúdo informacional ilícito publicado por terceiro:
«INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ORKUT.
O prestador do serviço orkut responde de forma objetiva pela criação de página ofensiva à honra e imagem da pessoa, porquanto abrangido pela doutrina do risco criado; decerto que, identificado o autor da obra maligna, contra ele pode se voltar, para reaver o que despendeu» (TJMG.Apel. Cível nº 1.0701.08.221685-7/001. Relator: Des. Saldanha da Fonseca. J. 05/08/2009).
É importante registrar que a jurisprudência brasileira não foi apenas pontuada de decisões que sustentavam a responsabilidade do provedor por mensagens e informações publicadas por terceiros. Aos poucos foram também surgindo as manifestações em sentido contrário, antenadas com a jurisprudência estrangeira de que o provedor só é responsável pelo conteúdo que hospeda se recusar a identificar o ofensor direto do ato ou se demonstrar negligência na adoção de providências para cessar os efeitos do ato (como, p. ex., não removendo as informações ilícitas tão logo notificado a respeito). Confira-se abaixo os seguintes arestos:
«(…) CIVIL – DANO MORAL – INTERNET – MATÉRIA OFENSIVA À HONRA INSERIDA EM PÁGINA VIRTUAL – AÇÃO MOVIDA PELO OFENDIDO EM FACE DO TITULAR DESTA E DO PROVEDOR HOSPEDEIRO – CO-RESPONSABILIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CONTRATO DE HOSPEDAGEM – EXTENSÃO – PERTINÊNCIA SUBJETIVA QUANTO AO PROVEDOR – AUSÊNCIA – SENTENÇA QUE IMPÕE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – REFORMA. Em contrato de hospedagem de página na Internet, ao provedor incumbe abrir ao assinante o espaço virtual de inserção na rede, não lhe competindo interferir na composição da página e seu conteúdo, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade. O sistema jurídico brasileiro atual não preconiza a responsabilidade civil do provedor hospedeiro, solidária ou objetiva, por danos morais decorrentes da inserção pelo assinante, em sua página virtual, de matéria ofensiva à honra de terceiro.» (TJPR – 5ª Câmara Cível – Apelação Cível nº. 130075-8 – Rel. Des. Antônio Gomes da Silva – j. em 19/11/2002)
«RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO CONSIDERADA PELO AUTOR COMO SENDO FALSA E OFENSIVA A SUA HONRA E IMAGEM. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM RELAÇÃO À PRIMEIRA RÉ (UOL) E PROCEDÊNCIA EM FACE DA SEGUNDA (DUBLÊ) (…). ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 1ª RÉ, SIMPLES PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, E QUE, COMO TAL, APENAS CEDE ESPAÇO A TERCEIROS, OS QUAIS SÃO OS VERDADEIROS RESPONSÁVEIS PELO CONTEÚDO DE SEUS SITES (…).» (TJRJ – 3ª Câmara Cível – Apelação Cível nº. 2004.001.03955 – Rel. Des. Orlando Secco – j. em 04/11/2004)
«Civil e Processual Civil. Julgamento de ação cautelar em que se considerou a parte sem interesse processual de agir. Coisa julgada, no entanto, formada em agravo de instrumento julgado anteriormente pelo Tribunal reconhecendo o interesse processual. Provedor de internet, que apenas disponibiliza endereço eletrônico e permite ao usuário veiculação de página na rede, sem interferir em seu conteúdo. Ofensa moral veiculada na rede mundial de computadores. Responsabilidade que recai sobre membro usuário do serviço, e não do provedor. Inocorrência de solidariedade entre ambos, que não se presume. Artigo 896, do Código Civil de 1916. Apelação Cível parcialmente provida» (TJPR – 5ª Câmara Cível – Apelação Cível 0147550-7 – Rel.: Des. Salvatore Antonio Astuti – j. em 30/07/2007)
«DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INTERNET. SITE DE RELACIONAMENTOS: ORKUT.COM. PROVEDOR DE HOSPEDAGEM. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO EM RELAÇÃO AOS USUÁRIOS QUE ACESSAM PÁGINAS CRIADAS POR OUTROS USUÁRIOS. RESPONSABILIDADE FUNDADA NA TEORIA SUBJETIVA. CULPA DO PROVEDOR DE HOSPEDAGEM NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CRIADOR DA PÁGINA.
O provedor de hospedagem que se limita a disponibilizar espaço para armazenamento de páginas de relacionamento na internet não mantém relação de consumo com o usuário que acessa página produzida por outro usuário. A ausência de remuneração impede, no particular, o reconhecimento de relação de consumo com os usuários que acessam o site para buscas pessoais.
Impossibilidade de controle, pelo provedor de hospedagem, do conteúdo das páginas. Tratando-se de responsabilidade subjetiva, somente mediante a demonstração de culpa do provedor de hospedagem é que seria possível imputar-lhe o dever de indenizar.
Responsabilidade civil do provedor de hospedagem não configurada diante da inexistência de prova de sua culpa, ainda que concorrente, por página ofensiva à autora.
Desprovimento do recurso» (TJRJ – 13ª Câmara Cível – Apelação Cível nº. 2007.001.523346 – Rel. Des. Arthur Eduardo Ferreira – j. em 16/01/2008)
O mesmo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que antes produzia julgados afirmando a responsabilidade objetiva do provedor, mais recentemente, através de sua 18a. Câmara Cível, gerou acórdão dissonante dos anteriores pronunciamentos de outros órgãos fracionários, como revela a ementa abaixo:
«AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO DE TEXTO OFENSIVO EM SÍTIO VIRTUAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – APLICAÇÃO DA LEI DE IMPRENSA – IMPOSSIBILIDADE – PROVEDOR DE HOSPEDAGEM – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – AÇÃO CAUTELAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ABSTENÇÃO DE PUBLICAR TEXTOS FUTUROS – IMPOSSIBILIDADE- À falta de legislação específica, comumente tem-se aplicado às relações travadas na rede mundial de computadores o regramento atinente à lei de imprensa, equiparando-se o sítio virtual – ou site, para os menos apegados à língua pátria – à figura da «agência noticiosa» contemplada nos artigos 12 e 49, § 2º, da Lei nº. 5.250/67.- No entanto, essa exegese do referido artigo não pode ser feita de forma irrestrita, devendo-se atentar para as peculiaridades do meio de comunicação considerado. – A internet consiste em um conglomerado de redes de computadores dispersos em escala mundial, com o objetivo de realizar a transferência de dados eletrônicos por meio de um protocolo comum (IP = internet protocol) entre usuários particulares, unidades de pesquisa, órgãos estatais e empresas diversas.- Ainda que a internet seja um meio de comunicação relativamente recente, não há que se falar em necessidade de norma especial para sua regulamentação, salvo casos que versem sobre especificidades técnicas de sistemas de informática.- O provedor de hospedagem permite que o usuário publique informações a serem exibidas em páginas da rede. A relação jurídica aproxima-se de um contrato de locação de espaço eletrônico, com a ressalva de que poderá ter caráter oneroso ou gratuito.- Em regra, o provedor de hospedagem não é responsável pelo conteúdo das informações que exibe na rede, salvo se, verificada a ocorrência de ato ilícito, se recusar a identificar o ofensor ou interromper o serviço prestado ao agente. Isso porque não há que se falar em dever legal do provedor de fiscalizar as ações de seus usuários. Destarte, a responsabilidade civil do provedor de hospedagem é regida pelas normas do Código Civil, afastando-se a aplicação da lei de imprensa. (…) – Não se pode perder de vista que, além de inexistir norma que impute ao provedor de hospedagem o dever legal de monitoramento das comunicações, esse procedimento seria inviável do ponto de vista jurídico, pois implicaria fazer letra morta da garantia constitucional de sigilo (art. 5º, XII da CF/88)»7.
Numa das primeiras vezes em que o tema assomou no STJ (em março de 2010), tudo levou a crer que a Corte que tem a missão institucional de uniformizar a jurisprudência nacional penderia para a tese da responsabilização solidária do provedor por conteúdo ilícito gerado por terceiros. Isso porque a 2ª. Turma, conduzida por voto do Ministro Herman Benjamin desproveu recurso especial interposto pela Google do Brasil que pretendia modificar decisão do Tribunal de Justiça de Roraima (TJRO). A famigerada empresa norte-americana havia sido multada por não impedir a criação de novas páginas virtuais (ou comunidades) com teor ofensivo à honra de duas adolescentes. A ação, na origem, fora proposta pelo Ministério Público, que obteve tutela antecipada para que o Google retirasse as páginas eletrônicas com conteúdo ofensivo às vítimas, bem como para que atuasse de forma preventiva a fim de evitar a criação de novas «comunidades»8 semelhantes. O Google ingressou com agravo de instrumento para o TJRO, irresignado apenas contra a parte da decisão que determinava a obrigação de impedir a criação eventual de novas comunidades de teor semelhante, sob a alegação de que não teria meios técnicos e humanos para fiscalizar previamente o ambiente dos espaços virtuais concedidos aos seus usuários. O TJRO entendeu que a empresa não conseguiu comprovar a inviabilidade técnica ou deficiência de pessoal e manteve a decisão recorrida9. No STJ, o Ministro Herman Benjamin, embora ressaltando que o recurso era contra uma decisão provisória e que o Google teria oportunidade de produzir as provas que considerasse convenientes junto ao juízo da primeira instância (para validar seus argumentos de inexistência de tecnologia capaz de rastrear o conteúdo das páginas e comunidades criadas no Orkut), afirmou que «quem viabiliza tecnicamente a veiculação, beneficia-se economicamente e estimula a criação de comunidades e páginas de relacionamento na internet é tão responsável pelo controle de eventuais abusos e pela garantia dos direitos da personalidade dos internautas e de terceiros, como os próprios internautas que geram e disseminam informações ofensivas». «Reprimir certas páginas ofensivas já criadas, mas nada fazer para impedir o surgimento e multiplicação de outras tantas com conteúdo igual ou assemelhado, é, em tese, estimular um jogo de Tom e Jerry, que em nada remedia, mas só prolonga a situação de exposição, de angústia e de impotência das vítimas de ofensas», complementou o Ministro. A ementa desse julgado está vazada nos seguintes termos:
«PROCESSUAL CIVIL. ORKUT. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BLOQUEIO DE COMUNIDADES. OMISSÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. INTERNET E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ASTREINTES . ART. 461, §§ 1º e 6º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OFENSA.
(…)
5. A internet é o espaço por excelência da liberdade, o que não significa dizer que seja um universo sem lei e infenso à responsabilidade pelos abusos que lá venham a ocorrer.
6. No mundo real, como no virtual, o valor da dignidade da pessoa humana é um só, pois nem o meio em que os agressores transitam nem as ferramentas tecnológicas que utilizam conseguem transmudar ou enfraquecer a natureza de sobreprincípio irrenunciável, intransferível e imprescritível que lhe confere o Direito brasileiro.
7. Quem viabiliza tecnicamente, quem se beneficia economicamente e, ativamente, estimula a criação de comunidades e páginas de relacionamento na internet é tão responsável pelo controle de eventuais abusos e pela garantia dos direitos da personalidade de internautas e terceiros como os próprios internautas que geram e disseminam informações ofensivas aos valores mais comezinhos da vida em comunidade, seja ela real, seja virtual.
8. Essa co-responsabilidade – parte do compromisso social da empresa moderna com a sociedade, sob o manto da excelência dos serviços que presta e da merecida admiração que conta em todo mundo – é aceita pelo Google, tanto que atuou, de forma decisiva, no sentido de excluir páginas e identificar os gângsteres virtuais. Tais medidas, por óbvio, são insuficientes, já que reprimir certas páginas ofensivas já criadas, mas nada fazer para impedir o surgimento de outras tantas, com conteúdo igual ou assemelhado, é, em tese, estimular um jogo de Tom e Jerry, que em nada remedia, mas só prolonga, a situação de exposição, de angústia e de impotência das vítimas das ofensas.
9. O Tribunal de Justiça de Rondônia não decidiu conclusivamente a respeito da possibilidade técnica desse controle eficaz de novas páginas e comunidades. Apenas entendeu que, em princípio, não houve comprovação da inviabilidade de a empresa impedi-las, razão pela qual fixou as astreintes . E, como indicado pelo Tribunal, o ônus da prova cabe à empresa, seja como depositária de conhecimento especializado sobre a tecnologia que emprega, seja como detentora e beneficiária de segredos industriais aos quais não têm acesso vítimas e Ministério Público.
10. Nesse sentido, o Tribunal deixou claro que a empresa terá oportunidade de produzir as provas que entender convenientes perante o juiz de primeira instância, inclusive no que se refere à impossibilidade de impedir a criação de novas comunidades similares às já bloqueadas.
11. Recurso Especial não provido»10.
Ainda no final de 2010, ocorreria, no STJ, o julgamento que se tornará, na nossa opinião, o precedente com força para orientar a jurisprudência brasileira doravante quanto ao tema da responsabilidade (civil) dos intermediários (provedores de serviço de hospedagem e acesso à Internet) da comunicação telemática. O caso envolveu novamente a Google Brasil Internet Ltda., condenada em primeira instância a indenizar uma mulher por danos morais, em razão da publicação de ofensas contra a pessoa dela no site de relacionamentos Orkut. A sentença foi reformada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que entendeu que a empresa mantenedora do site (Google), na condição de provedor de serviço de hospedagem, não tem obrigação de vigilância do material informacional que circula em seus sistemas informáticos. Contra o acórdão do tribunal inferior foi interposto recurso especial para o STJ, ao fundamento da responsabilidade objetiva do provedor, na condição de prestador de um serviço colocado à disposição dos usuários da rede mundial de comunicação. A recorrente alegou, ainda, que o compromisso assumido pela empresa de exigir que os usuários se identifiquem não foi honrado, caracterizando a falha do serviço (apesar de gratuito), geradora da responsabilidade. A relatora do recurso, Ministra Nancy Andrighi, considerou que a fiscalização do conteúdo (das páginas virtuais elaboradas pelos próprios usuários) não é atividade intrínseca ao serviço prestado, de modo que não se pode considerar defeituoso o site que não examina e filtra o material nele inserido. A verificação antecipada, pelo provedor, do conteúdo de todas as informações inseridas em seu sistema informático eliminaria um dos maiores atrativos da internet, que é a transmissão de dados em tempo real. A Ministra ressaltou que mesmo em sendo possível do ponto de vista técnico implantar um sistema de rastreamento do material editado no site pelos usuários, o provedor se defrontaria sempre com o problema de definir o que vetar ou não, já que não tem como avaliar qual mensagem ou imagem é ilícita ou potencialmente ofensiva. A Ministra deixou claro seu ponto de vista de que os provedores de conteúdo não respondem objetivamente por informações postadas no site por terceiros, já que deles não se pode exigir que exerçam um controle informacional antecipado. Por fim, ressaltou que a responsabilização do provedor pode se dar quando, notificado da existência de uma mensagem de conteúdo ofensivo, não toma qualquer tipo de providência11.
Esse último acórdão do STJ, como se disse, está em sintonia com a jurisprudência alienígena e com a maioria das decisões anteriormente proferidas por juízes brasileiros sobre o tema da responsabilidade dos provedores de serviço na Internet. Ele traz em si a marca de duas grandes virtudes: a primeira, de evitar a propagação da tese da responsabilidade objetiva, de evidente inadequação tendo em vista que a atividade informática não pode ser considerada de periculosidade exagerada a ponto de invocar a teoria do risco12; a segunda, de colaborar para a estruturação de uma jurisprudência mais uniforme, garantindo mais segurança jurídica. Organizar e dar estrutura a uma jurisprudência de responsabilidades para os prestadores de serviços na Internet traz o resultado benéfico de torná-los conscientes com relação aos atos que praticam voluntariamente13. Até que tenhamos leis regulamentando o assunto, o novo aresto do STJ pode servir como norte em futuras questões que envolvam a definição de papéis e responsabilidades dos agentes intermediários da cadeia de informação.
Mas é preciso não subestimar as conseqüências indesejadas que podem advir de um padrão de imunização por demais estrito para os provedores. Não se pode admitir que empresas que desenvolvam certas tecnologias da informação – as quais, apesar trazerem enormes benefícios em termos de integração social, também podem ser utilizadas como ferramentas para ataques aos direitos das pessoas – nunca sejam responsabilizadas. Na maioria dos casos de disseminação de conteúdo ilícito na Internet, os agentes que editam a informação não conseguem ser identificados. A dificuldade de identificar o autor direto do dano funciona como circunstância que pode justificar o direito da vítima voltar-se contra o provedor. Repugna ao Direito a idéia de que ocorra um prejuízo a alguém sem que haja a correspondente reparação. Daí que não seria desarrazoado, por exemplo, se a jurisprudência começasse a exigir um maior grau de desenvolvimento ou melhorias nos sistemas de identificação dos usuários14 dos serviços gratuitos (a exemplo dos sites de relacionamento) prestados na Internet. É possível e mesmo viável a criação de uma teoria da responsabilidade subsidiária do provedor15, para enfrentar os problemas surgidos com a difusão de informações nos ambientes eletrônicos.
Recife, 08.02.11
1 Esse caso emergiu como resultado de uma ação judicial contra um dos maiores provedores de serviços on line do mundo, a CompuServe. Nesse caso, Cubby, Inc. v. CompuServe, uma mensagem eletrônica foi distribuída por via de um sistema de fórum on line, mantido pela CompuServe à disposição de seus usuários, contendo mensagens difamatórias sobre um provedor rival (Cubby). A Corte Distrital de Nova Iorque entendeu que, sem poder examinar e sem ter controle sobre a informação que circulava em seu sistema, a CompuServe não podia ter conhecimento do caráter danoso da mensagem, sendo isentada de responsabilidade.
2 Uma dessas primeiras iniciativas veio com o Communications Decency Act, lei editada nos EUA, em 1996. A Lei proibia a difusão de material obsceno e pornográfico na rede, colimando como fim último a proteção das crianças. Como parte desse Ato, no entanto, foi adicionada uma disposição atribuindo imunidade aos provedores que meramente transportam na rede conteúdo fornecido por outras pessoas. Ainda nos EUA, foi aprovado em 1998, o Digital Milllenium Copyright Act (DMCA), que estabelece várias regras sobre a utilização de obras intelectuais em meio eletrônico. Numa de suas seções, enuncia a regra da não responsabilização dos provedores por conteúdo colocado em rede por terceiros. Nos países europeus também foram estabelecidas várias tentativas de regulamentação da responsabilidade do provedor. No âmbito comunitário, cumpre referir a Diretiva da União Européia sobre comércio eletrônico (Diretiva 31/2000/CE), que traz uma seção completa sobre a «responsabilidade dos prestadores intermediários de serviços» (Seção 4 do capítulo segundo). Nos artigos 12o. a 15o. construiu um regime de responsabilidades muito parecido com o do DMCA, embora não se limitando à violação da proteção de obras autorais. A regra geral é a da não responsabilização do provedor por conteúdo de terceiro e quando se limite a prestar serviços de acesso e transmissão de informações (mensagens de e-mail, p. ex.). No que diz respeito à prestação de serviço de webhosting (armazenagem de páginas eletrônicas e outras informações fornecidas pelos usuários), o art. 14 prevê a possibilidade de responsabilização do provedor quando tem conhecimento da ilicitude do conteúdo que armazena ou de fatos e circunstâncias que a tornem aparente, e não adota nenhuma iniciativa no sentido de remover o conteúdo ou de impedir o acesso dos usuários a ele.
3 Processo Nº 196.01.2006.028424-6, Comarca/Fórum Fórum de Franca, Cartório/Vara 2ª. Vara Cível, autor: Carmen Steffens Franquias Ltda. Réu Google Brasil Internet Ltda. No caso julgado, terceiro não identificado criou uma comunidade indicando que a empresa autora encontrava-se em estado falimentar. A empresa, sentindo-se ofendida em sua honra objetiva, ingressou com ação por danos diretamente contra a Google (empresa a qual pertence o serviço Orkut), sustentando que a divulgação lhe causara danos ante o constrangimento da falsa informação. A defesa de mérito do Google centrou-se na alegação de que não tinha o dever de fiscalizar o conteúdo divulgado no site, não se lhe podendo atribuir culpa in vigilando.
4 Apelação Cível n. 431.247-4/0-00 – São Paulo – 8ª Câmara de Direito Privado – Relator: Salles Rossi – 22.03.07 – V.U.
5 Processo 1.0439.08.085208-0/001. Nesse caso, a vítima foi um diretor de faculdade, que, após demitir um coordenador do curso, passou a sofrer hostilidades em um blog com textos de conteúdo ofensivo. Ele ajuizou ação contra a Google e, além da retirada do conteúdo ofensivo do blog, pediu indenização por danos morais. Em sentença proferida em agosto de 2008, o juiz Marcelo Alexandre do Valle Thomaz, da 3ª Vara Cível de Muriaé, julgou procedentes seus pedidos, condenando a Google a pagar vinte mil reais.
6 TJMG-13a. Câmara Cível, Apelação Cível n. 1.0439.08.085208-0/001, relator Cláudia Maia, ac. un., j. 12.02.09, DJ 16.03.09
7 Apelação Cível n. 1.0105.02.069961-4/001, rel. Des. Elpídio Donizetti, j. 18.11.08, DJ 10.12.08.
8 Uma comunidade on line compreende grupos de pessoas que compartilham informações (textos, vídeos, músicas, fotos e quaisquer outros artefatos digitais), além de experiências.
9 O argumento utilizado pelo TJRO para considerar que o provedor teria meios de vigilância sobre o conteúdo das comunidades criadas no Orkut foi um tanto quanto extravagante, pois comparou a situação posta nos autos com o que acontece na China, onde existe vigilância na Internet. Nos termos do voto-condutor, «o provedor de serviços responsável pela manutenção do orkut já se utiliza da fiscalização de conteúdo em outros países, como é o caso da China, não sendo possível vislumbrar, de início, em que a situação ora analisada difere da que vem sendo empregada naquele país».
10 STJ-2ª. Turma, REsp 1.117.633-RO, rel. Min. Herman Benjamin, ac. un., j. 09.03.10, DJe 26.03.10.
11 STJ-3ª. Turma, REsp 1193764-SP, rel. Min. Nancy Andrighi, ac. un., j. 14.12.10. Não tivemos acesso à integra do acórdão, que ainda não foi publicado. As informações sobre os fundamentos do voto da relatora foram colhidas em notícia publicada no site do STJ, em 20.01.11.
12 A responsabilidade pelo risco tem como fundamento não um erro de conduta do agente, mas o simples exercício de atividade que possa trazer perigo de lesão ao patrimônio moral (à vida ou saúde) ou material de outras pessoas. Com efeito, estabelece o § único do art. 925 do C.C. que «haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem». É difícil conceber que a atividade dos provedores de serviços na Internet tem um risco especial, uma carga elevada de perigo com grande probabilidade de risco às pessoas. Tradicionalmente, somente as atividades que criam situações com grande possibilidade de ano à vida ou à saúde de terceiros, como, p. ex., a produção e distribuição de energia elétrica ou nuclear, de explosivos e o transporte de combustíveis, é que têm sustentado a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva.
13 Um operador de sistema informático não advertido dos problemas legais que sua atividade acarreta pode tanto falhar em reduzir ou eliminar conteúdo prejudicial em áreas submetidas a seu controle, como pode restringir alguns serviços desnecessariamente, pelo simples temor de ser responsabilizado.
14 Atualmente, os provedores exigem o preenchimento de cadastro como condição para liberação do serviço, mas não têm como conferir a real identidade da pessoa (usuário). O ideal seria que instalassem sistemas mais seguros, capazes de checar a identidade antes do início da prestação do serviço.
15 A responsabilização do provedor que estamos a cogitar seria sempre uma responsabilidade «substituta» ou «secundária», só operante nas situações onde não for possível identificar o infrator primário. Não seria nunca uma responsabilidade solidária (entre o provedor e o autor direto do dano), no sentido de o ofendido poder escolher contra quem demandar. Admitimos, unicamente, uma responsabilidade secundária, significando a possibilidade de chamar o provedor à responsabilização como substituto do autor direto do dano, diante de uma situação fática que impede alcançá-lo.
Porque o CISPA amedronta tanto?
Porque o CISPA amedronta tanto? – a tentativa de extinção da garantia de autorização judicial para interceptação de comunicações eletrônicas
Há cerca de um mês atrás (no dia 18.04.13), foi aprovado na Câmara de Representantes[1] (deputados) dos EUA (por 288 votos a 127) um controverso projeto de Lei, denominado de CISPA (Cyber Intelligence and Protect Act)[2], que, se aprovado, irá permitir às agências de inteligência requisitar informações aos provedores de Internet e serviços de telecomunicação ou fazer varreduras em suas bases de dados, sem necessidade de mandado judicial[3]. Um deputado democrata, Alan Grayson, ainda tentou inserir uma emenda[4] que previa a exigência de mandado judicial para que as agências de inteligência (NSA–National Security Agency, FBI–Federal Bureau of Investigation e o Department of Homeland Security-DHS) tivessem acesso aos cadastros e conteúdo das mensagens pessoais dos usuários dos serviços de comunicação, mas foi vencido. Isso significa que as políticas de privacidade e termos de uso das grandes empresas da Internet, como Google, Facebook e Twitter, não terão nenhuma eficácia, pelo menos em relação ao Governo Federal, se aprovado o projeto de Lei.
O CISPA tem como objetivo anunciado o aparelhamento dos serviços de segurança dos EUA para a chamada cyberwar, por isso reescreve algumas disposições do Ato de Segurança Nacional (National Security Act) de 1947, para acrescentar o conceito de uma «cyber threat intelligence», definida como toda informação que tem relação com vulnerabilidades de redes ou sistemas informáticos (do governo ou do setor privado) ou ameaças à confidencialidade e integralidade das informações. Objetiva também possibilitar a investigação de crimes graves cometidos através de redes informáticas contra menores, como pornografia infantil digital, exploração sexual e sequestros. A parte complicada aparece quando, na tentativa de atingir esses relevantes objetivos, incentiva a troca de informações entre as agências do Governo e as companhias privadas, bem como quando imuniza as empresas de qualquer responsabilidade civil ou criminal por eventual uso ilegal posteriormente feito com informações transferidas. Assim, sob o texto do CISPA, qualquer empresa privada poderá fazer uso de seu sistema informático para identificar uma «cyber threat information» e, em seguida, repassá-la para os órgãos de inteligência do Governo. E-mails, mensagens de texto, arquivos armazenados em «nuvem», enfim, qualquer informação pessoal poderá ser transferida, desde que a transferência seja feita para propósitos de cibersegurança. O projeto estabelece certas restrições ao uso das informações pessoais, prevendo sanções para os agentes federais que utilizá-las para outros fins, consideradas todavia insuficientes para proteger a privacidade e liberdades individuais.
A atual legislação norte-americana, especialmente a Lei conhecida como Wiretap Act[5], proíbe os provedores de Internet de interceptar as comunicações dos usuários, salvo quando isso é necessário para o fornecimento do próprio serviço ou obtiverem consentimento prévio. A interceptação, como regra, depende de autorização judicial expressa. Mas a própria Lei prevê uma exceção para a exigência de mandado judicial, ao estabelecer que os provedores de serviços de comunicações eletrônicas podem repassar informações ou auxiliar os agentes policiais na interceptação ou monitoramento das mensagens quando certificado por escrito pelo Advogado Geral da União (ou pessoa por ele designada) da desnecessidade de mandado judicial, ante a excepcionalidade da medida. Essas cartas escritas aos provedores, que lhes imunizam de responsabilidade pela interceptação e entrega do conteúdo das comunicações dos seus usuários, ficaram conhecidas como «2511 letters», uma referência ao capítulo do Código federal onde o Wiretap Act foi incrustado (18 USC § 2511). Assim, ainda que de alcance limitado, o braço executivo do Governo federal norte-americano já dispõe de instrumento legal para requisitar informações diretamente dos provedores de serviços de comunicações.
O problema é que o Governo pretende expandir seu programa de cibersegurança, o que implica a necessidade de processar uma quantidade muito maior de informações pessoais pelas agências de inteligência. Depois dos ataques de hackers a sites do Governo, o Presidente Obama assinou uma ordem executiva em fevereiro deste ano[6], autorizando o Advogado-Geral, o Departamento de Segurança Nacional (Homeland Security Department) e a NSA (National Security Agency) a expandir programas de monitoramento e de coleta de informações para proteger setores considerados essenciais da infraestrutura de serviços públicos, como a rede de distribuição de energia elétrica, instituições financeiras, sistema de controle de tráfego aéreo, hospitais e centros de assistência à saúde, entre outros. O objetivo principal, como se disse, é aumentar o volume de troca de informações entre os provedores privados de serviços de comunicação e as agências de inteligência, de forma a evitar novos ataques. Mas o Executivo não tem autoridade para autorizar um monitoramento mais extenso, a não ser que o Congresso altere a legislação existente. Se o CISPA for aprovado, as agências de inteligência do Governo federal poderão requisitar informações em volume ilimitado aos provedores de comunicações e serviços na Internet, sem necessidade de recorrer às «2511 letters» (de uso restrito) e sem supervisão ou autorização judiciária.
Da mesma forma que aconteceu com as famigeradas SOPA (Stop Online Piracy Act) e PIPA (Protect IP Act), projetos que pretendiam combater a pirataria e alargar o âmbito de proteção a direitos autorais na Internet[7], mas que terminaram não passando no Congresso[8], o CISPA está sofrendo uma reação muito grande de grupos e associações ligadas à defesa das liberdades civis. A Electronic Frontier Foundation[9], ONG que defende a privacidade dos usuários na Internet, condenou a aprovação do projeto na Câmara dos Representantes. Já a Fight for the Future reuniu 1,5 milhão de assinaturas em petição para que os deputados rejeitassem o projeto. Agora, essa ONG pretende derrubar o projeto no Senado. Para tanto, vem fazendo uma grande mobilização na Internet. Montou um site[10] só para recolher apoios contra o CISPA, prometendo organizar o maior protesto on line da história.
Elas alegam que o projeto pode eliminar garantias tradicionais estabelecidas em leis como o Cable Communications Policy Act, o Wiretap Act, o Video Privacy Protection Act e o Electronic Communications Privacy Act, os quais preveem supervisão judicial e outras proteções que proíbem as empresas de trocar informações privadas. De fato, o CISPA pode tornar ineficaz esse conjunto de normas, pois um dos seus artigos dispõe que, «a despeito de provisões existentes em outras leis», «as empresas podem trocar informações com qualquer outra entidade, incluindo o Governo Federal», para fins de cibersegurança. Além disso, o projeto de lei confere uma imunidade quase absoluta às empresas, que ficarão isentas de culpa caso terceiros ou o Governo use os dados repassados de forma indevida, desde que ajam de «boa-fé» ao repassar as informações.
A diferença é que, dessa vez, o projeto vem recebendo um amplo apoio do setor empresarial. Grandes companhias como IBM, Intel, AT&T, Verizon, Oracle, Symantec, Comcast e outras que formam o consórcio Internet Security Alliance[11] já anunciaram seu firme suporte à reintrodução do CISPA, escrevendo cartas ao Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes (House of Representatives) endossando a iniciativa. Quando da introdução do SOPA e do PIPA, gigantes da Internet como Google e Facebook apressaram-se em condená-las publicamente, dizendo que esse tipo de legislação permitiria que as autoridades federais fechassem muitos sites e plataformas de distribuição de arquivos sem o devido processo legal, além de atentar contra a liberdade de expressão, o que levou outros formadores de opinião e empresas na Internet a fazer o mesmo. Até o presente momento, o Google e o Facebook não endossaram a nova versão do CISPA, mas parece que também não se pronunciaram oficialmente contra[12].
O texto ainda precisa passar pelo Senado (onde os democratas têm maioria) e, se aprovado, pela sanção do Presidente Barack Obama. Mesmo que seja aprovado no Senado, dificilmente receberá a sanção presidencial, pois o Presidente já ameaçou vetar o CISPA[13]. Em pronunciamento oficial[14] feito pela Casa Branca, foi dito que o CISPA ameaça a privacidade dos cidadãos norte-americanos e imuniza os provedores de serviços de comunicações de forma inapropriada. Mas o projeto segue em caminho à aprovação. O sentimento geral entre as empresas é de que elas precisam de uma legislação que lhes possibilite receber informações do Governo sobre ameaças à segurança de suas estruturas de rede e serviços informáticos.
A perspectiva da aprovação do projeto de lei é realmente preocupante, não somente para os norte-americanos mas para qualquer cidadão de qualquer nacionalidade que se utilize da rede mundial de comunicação. Sem as devidas garantias, o CISPA pode se transformar em um grande sistema de monitoramento da Internet. A chamada «cybersecurity bill» irá afetar, assim, a vida de todos os cidadãos que se utilizam de serviços on line prestados pelas grandes empresas americanas do setor de TI, o que inclui todos nós, brasileiros. Na prática, a lei vai permitir que nossas informações sejam repassadas ao Governo dos EUA, e as empresas daquele país que o fizerem não poderão ser acionadas na Justiça americana, diante da imunidade legal que receberão. Os grandes players no mercado de serviços on line são empresas norte-americanas e todos os cidadãos do mundo se tornaram consumidores cativos delas. A globalização, no sentido da prestação de serviços em escala global utilizando a rede de comunicações mundial (Internet), produziu esse fenômeno. A noção de que uma lei em regra não tem efeitos extraterritoriais, vigorando apenas dentro dos limites geofísicos do país onde é editada, perdeu a validade. Estamos presenciando agora, e na prática, que uma Lei aprovada no Congresso norte-americano não produz efeitos somente sobre a vida dos estadunidenses, mas sobre a dos cidadãos de todo mundo. As garantias das leis brasileiras e da Constituição, que resguardam a privacidade, também de nada valerão. É como se perdêssemos nossa soberania. Por isso, é imperativo que todos, de qualquer nacionalidade, participem desse debate. Não podemos ficar alheios ao que está acontecendo de tão importante para as nossas vidas hoje no Congresso norte-americano.
As empresas americanas que prestam serviços na Internet e o Governo dos EUA têm todo direito de se prevenir de ataques que possam destruir ou afetar criticamente sua infraestrutura de redes telemáticas e serviços de comunicação[15]. Mas isso não pode ser feito ao custo da eliminação da privacidade e liberdades civis. Algumas garantias tradicionais como a supervisão judicial na interceptação das comunicações devem ser preservadas, bem como a possibilidade de acionamento judicial por lesões decorrentes da utilização indevida de dados pessoais. Os cidadãos devem ter direito de saber quais informações suas estão sendo repassadas e que as empresas adotem adequadas salvaguardas de proteção da informação pessoal.
Em 2007, foi proposta a Lei intitulada Federal Agency Data Mining Reporting Act, que obrigava a todo órgão federal que usa ou desenvolve programas de data mining a apresentar um relatório anual ao Congresso dos EUA. Essa Lei foi uma resposta à iniciativa da implantação, pelo Departamento de Estado, do sistema que ficou conhecido como Total Information Awareness, que consistia em uma imensa base de dados eletrônica, um «Big Data»[16], que se alimentaria de informações existentes em outros bancos de dados públicos e privados – a face da política de combate ao terrorismo, elevada pela Administração Bush como prioridade máxima de governo[17]. Agora, a situação se inverte. É o Congresso (com maioria republicana na Câmara) que pretende criar, por via legislativa, um grande sistema intra-governamental de troca de informações com empresas privadas, a pretexto de se preparar para a ciberwar.
Parece que os políticos conservadores que tomaram o controle da Câmara baixa do Congresso dos EUA entenderam que não é preciso gastar centenas de milhões de dólares com a criação e expansão de uma grande base de dados gerida por uma agência de inteligência do Governo. Basta requisitar as informações dos grandes Big Datas já criados pelo setor privado – como Google, Facebook, Twitter e outros prestadores de serviços na Internet.
Recife, 18.05.13.
[1] Conforme notícia no site da NBC News – http://www.nbcnews.com/technology/cispa-passes-house-vote-faces-senate-possible-veto-1C9357282
[3] O Projeto de Lei conhecido como CISPA foi reintroduzido no Congresso norte-americano em fevereiro deste ano pelo Deputado Mike Rogers (Republicano do Estado de Michigan), tendo recebido o número H.R. 624.
[5] Codificado no estatuto federal 18 USC 2511
[7] Os dois projetos de lei objetivavam combater downloads ilegais de músicas, streaming de filmes e shows de tv. Mas muitos formadores de opinião na Internet, incluindo os gigantes Google e Facebook, alegaram que a legislação permitiria que as autoridades federais fechassem muitos sites e plataformas de distribuição de arquivos sem o devido processo legal, além de atentar contra a liberdade de expressão.
[8] Ver notícia em: http://www.nbcnews.com/technology/sopa-not-part-cybersecurity-bill-spokesman-says-157881
[9] https://www.eff.org/
[11] A Internet Security Alliance (ISAlliance), fundada em 2001, é uma espécie de associação sem fins lucrativos, dedicada à segurança cibernética. Reúne os grandes fabricantes de produtos eletrônicos e faz lobby para as empresas quanto a interesses de segurança corporativa.
[12] Google, Facebook e outras redes sociais não endossaram essa nova versão do CISPA, mas tinham apoiado textos anteriores do projeto, porque essas empresas acreditam que necessitam de legislação que lhes possibilite trocar informações com órgãos do Governo, no que tange à segurança de suas estruturas de redes e plataformas de serviços.
[13] http://news.cnet.com/8301-31921_3-57421267-281/white-house-takes-aim-at-cispa-with-formal-veto-threat/
[15] Ainda mais agora, quando se noticia uma verdadeira ciberwar, com ataques cibernéticos sendo perpetrados contra empresas privadas e órgãos do Governo dos EUA, originados de grupos de hackers chineses – ver notícia em: http://www.nytimes.com/2013/05/20/world/asia/chinese-hackers-resume-attacks-on-us-targets.html?smid=fb-share&_r=0
[16] Big Data, nome em inglês usado para definir a tectônica quantidade de dados e informações que pode ser produzida e armazenada por um sistema de base de dados eletrônica.
[17] Quem se interessar em saber mais sobre o Total Informantion Awareness – TIA e a reação que ele despertou, sugerimos a leitura de artigo de nossa autoria publicado no site Consultor Jurídico, em janeiro de 2003, acessível em: http://www.conjur.com.br/2003-jan-23/sistema_coleta_dados_ameaca_privacidade_eua
A possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito
A POSSIBILIDADE DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITO PRETÉRITO (ESTIMADO EM DECORRÊNCIA DE FRAUDE NO CONSUMO) – uma tentativa de reversão da jurisprudência
Demócrito Reinaldo Filho1
RESUMO
O concessionário tem direito de proceder à suspensão do fornecimento de energia elétrica, pouco importando se a inadimplência decorre de débito novo (relativo à fatura do último mês de consumo) ou débito antigo (decorrente de apuração de consumo não faturado em razão de fraude). As Leis 8.987/95 e Lei 9.427/92 previram que o usuário do serviço assume uma contraprestação financeira, cuja não satisfação autoriza o corte do fornecimento de energia elétrica. Ao estatuírem o direito à suspensão do serviço na hipótese de inadimplência, não fizeram distinção em relação à natureza do débito que autoriza o corte, não podendo o intérprete (julgador) restringir o alcance dos dispositivos legais. O contrato que o usuário assina com a concessionária, termina por gerar o vínculo obrigacional que autoriza esta a exigir o cumprimento de sua contraprestação. A atual jurisprudência do STJ, que faz distinção entre débito novo (relativo à fatura do último mês de consumo) e débito antigo (decorrente de apuração de consumo não faturado em razão de fraude), admitindo o corte de energia na primeira situação e impedindo-o na segunda, desconsidera o sistema integrado de normas que regulam o setor de distribuição de energia no país, além de estimular o cometimento de crimes e interferir no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão.
PALAVRAS-CHAVE: Corte. Energia elétrica. Débito. Pretérito. Fraude. Consumo. Impactos. Decisões. Judiciais. Economia. Direitos. Fundamentais. Concessionário. Contrato. Medição. Faturamento.
1. Introdução
O presente estudo procura demonstrar a inexistência de fundamentação suficiente à preservação da jurisprudência que impede o corte de energia elétrica, em caso de fraude na medição do consumo. O entendimento atual no STJ é de que «o corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, em relação aos quais existe demanda judicial ainda pendente de julgamento, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança»2. Como o preposto da concessionária (empresa distribuidora de energia) faz a «revisão do faturamento» (recuperação do consumo não faturado), quando constata fraude no medidor (ou de outra natureza), o débito resultante do auto de infração sempre alcança períodos (faturas mensais) anteriores à data de constatação da irregularidade3. Embora exista autorização em norma regulamentar4 e legal5 para a suspensão imediata do fornecimento nesse caso, na prática o corte se torna inviável diante da posição do STJ.
Sei que parece afoiteza querer confrontar uma jurisprudência que vem se consolidando a cada novo julgado, inclusive com pronunciamentos de diferentes órgãos fracionários da Corte Superior. Mas permaneço com a resoluta idéia de que os julgadores, nessa matéria, elaboraram premissas interpretativas equivocadas e de que a permanência dessa diretriz jurisprudencial além de encorajar o cometimento de fraudes, onera e põe em risco a prestação do serviço (de distribuição de energia elétrica) para toda a coletividade. A prevalecer a tese (por enquanto vencedora) de que não se pode proceder ao corte da energia em caso de fraude, será mais vantajoso para qualquer cidadão ser desonesto e fraudar o consumo, do que ser honesto e eventualmente se tornar inadimplente. Isso porque o fraudador pode continuar recebendo energia sem efetuar o pagamento da conta, enquanto que o cidadão honesto pode ter suspenso o fornecimento sempre que não pagá-la. O que é pior é que o fraudador, além de ter o fornecimento de luz religado por força de decisão judicial, ainda poderá eventualmente ser indenizado a título de danos morais6.
Acredito que essa jurisprudência que não permite o corte de energia por débitos antigos é o típico caso de intervenção judicial que não atenta para as repercussões econômicas e termina por atingir um determinado setor, prejudicando o seu desenvolvimento. Como se sabe, uma interferência judicial desarrazoada pode impactar negativamente as relações comerciais, repercutindo no desenvolvimento, visto que interfere na expectativa dos agentes econômicos. As partes que se envolvem em um negócio jurídico têm expectativas quanto ao cumprimento das obrigações recíprocas assumidas. Essa é uma das funções do contrato, de assegurar segurança jurídica quanto à satisfação das prestações. Uma indevida ou exagerada interferência judicial posterior nessas relações, desonerando uma das partes de sua obrigação originária ou retirando de uma delas um direito que lhe estava assegurado no momento da contratação, acaba por eliminar essa função dos contratos, aumentando os riscos e custos da atividade econômica. Se as concessionárias de energia elétrica tinham a previsibilidade de poder realizar o corte em casos de fraude, quando se envolveram originalmente no negócio, o impedimento posterior pode prejudicar o modelo de distribuição de energia elétrica, já que aumenta os riscos da atividade. Aumentando os riscos da atividade e, portanto, interferindo no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, a consequência última pode ser o comprometimento do próprio atendimento da demanda dos consumidores que pagam suas contas de luz em dia.
A natureza social do serviço de distribuição deve ser entendida no sentido de que a energia elétrica é um bem destinado a toda comunidade, e não somente a uma parcela dela, e que como um bem finito, envolve a racionalização do custo financeiro de sua geração e distribuição. Os legisladores levaram isso em consideração, no momento de definir as políticas públicas pertinentes à definição dos agentes provedores, a forma de fazer a distribuição, com que custos e pagos por quem7. O setor elétrico foi objeto de uma reformulação estrutural, visando à remoção de obstáculos ao seu desenvolvimento, com a quebra do monopólio estatal. Uma descabida intervenção judicial nesse domínio pode ter o efeito de interferir no seu equilíbrio, notadamente na equação dos custos da distribuição de energia. A perspectiva para o fornecedor de energia elétrica, que decorre da relação contratual estabelecida com o consumidor, de poder realizar o corte do fornecimento em caso de inadimplemento (ainda com mais razão quando o não cumprimento da obrigação decorre de fraude) é uma forma de garantir a continuidade, qualidade e eficiência da prestação do serviço para toda a sociedade. Essa garantia foi dada legalmente ao distribuidor8 sobretudo para possibilitar a diminuição dos custos de sua atividade e, por decorrência, a modicidade das tarifas do serviço. Portanto, impedir o prestador do serviço de realizar o corte, mesmo quando constatada a fraude, a par de gerar insegurança jurídica, estimular o cometimento de fraudes e interferir no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, também é medida socialmente injusta.
Por todas essas razões, tenho a ousadia de me manifestar contrário à jurisprudência atual do STJ, na esperança de que possa ser revista, da mesma forma como já ocorreu anteriormente em relação a outros temas de interesse nacional que mereceram a atenção da Corte superior de Justiça. Não é demasiado lembrar que, mesmo em relação ao simples inadimplemento (de conta relativa à última medição do consumo), o STJ começou proibindo o corte de energia, mas depois mudou de posição9. A expressividade das normas contidas no art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95 (Lei das concessões de serviços públicos) e art. 17 da Lei 9.427/96 (Lei que instituiu a ANEEL e disciplinou o regime das concessões dos serviços de energia elétrica), que permitem o corte do fornecimento da energia em caso de inadimplemento (sem fazer distinção quanto a débito pretérito ou relativo à fatura do último mês de medição), certamente vão forçar o Tribunal Superior a rever novamente sua posição. Diga-se, aliás, que já se pode pressentir uma tendência à alteração jurisprudencial. Um primeiro sinal nesse caminho foi dado recentemente (no dia 07.10.09) pelo Presidente do STJ, Min. Cesar Asfor Rocha, ao deferir suspensão dos efeitos de liminar que havia sido concedida em ação civil pública, esta ajuizada com o objetivo de determinar o religamento da energia para consumidores que tiveram o fornecimento suspenso em decorrência de fraude ou violação do medidor de consumo10. Embora o exame de pedido de suspensão de liminar revista-se mais propriamente de um caráter político do que técnico-jurídico – nele é apreciada a repercussão da decisão impugnada em termos do «interesse público» ou de risco de lesão à ordem, segurança ou economia pública11-, é fato que o Ministro Presidente não escondeu seu entendimento de que, em se tratando de inadimplência decorrente de fraude em medidores de consumo, ainda com mais razão se justifica o corte, para garantir a viabilidade do modelo do setor elétrico e evitar prejuízos para toda a sociedade12.
No presente trabalho, foi feita extensa pesquisa na jurisprudência do STJ sobre o tema do corte de energia por débito pretérito, começando pelos acórdãos mais antigos (que admitiam o corte em caso de fraude), mostrando depois que a tese ao impedimento se desenvolveu sem fundamentos jurídicos convincentes ou de maior solidez e, finalmente, desembocando na mencionada decisão (mais recente) do Ministro Presidente, que parece potencialmente capaz de fazer retornar o entendimento da Corte ao seu estágio inicial. Na tentativa de entender mais profundamente os fundamentos jurídicos invocados para obstaculizar o corte de energia em caso de fraude, descemos à análise dos acórdãos que originaram essa jurisprudência. O estudo chega à conclusão de que as decisões do tribunal superior não satisfazem em termos argumentativos. Ainda no âmbito do estudo jurisprudencial, examinamos algumas decisões sobre o pagamento de dano moral por corte de energia ao consumidor que frauda o consumo, mostrando a contradição em que o STJ se envolveu, de ter que reconhecer a ilicitude do corte nessa hipótese e, ao mesmo tempo, ser obrigado a afastar direito à indenização moral.
No aspecto mais doutrinário, fazemos considerações sobre os estudos que propugnam uma maior preocupação dos magistrados com os reflexos econômicos de suas decisões, que demonstram que esse tipo de abordagem está em consonância com as teorias hermenêuticas que buscam superar a exagerada discricionariedade judicial. Dentro dos objetivos acadêmicos da obra, ainda examinamos as correntes que se opunham ao corte por inadimplência através do enquadramento do serviço de fornecimento de energia como direito social fundamental. Nesse ponto, o trabalho, como se disse, tem finalidade mais acadêmica do que objetivos práticos, já que as próprias cortes judiciárias afastaram a concepção de que o corte por inadimplência seria suficiente a violar direitos fundamentais, notadamente o princípio da dignidade da pessoa humana.
Em outra parte do estudo, examinamos as normas legais que tratam do assunto (art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95 e art. 17 da Lei 9.427/96) e demonstramos que o legislador não fez distinção quanto ao corte de energia por inadimplência, daí que não poderia o intérprete (julgador) impedi-lo em caso de débito pretérito e autorizá-lo apenas quando referente à fatura do último mês de consumo. Mostramos que existe norma regulamentar que também autoriza o corte em caso de débito decorrente de fraude e que o procedimento nela previsto para estimar o consumo não apurado não impede a defesa do usuário, o qual inclusive pode solicitar a realização de perícia por órgão metrológico.
A conclusão do estudo como um todo é a de que os acórdãos atuais do STJ que impedem o corte da energia elétrica a consumidores que fraudam ou violam medidores de consumo foram elaborados em torno de premissas equivocadas. Uma alteração da atual jurisprudência é desejável, tendo em vista os efeitos sociais maléficos que ela vem gerando. Acreditamos que uma mudança de rumo jurisprudencial não seja tão difícil em relação a essa matéria, sabendo-se que os integrantes da Corte Superior têm demonstrado sensibilidade às repercussões de suas decisões e, em função disso, têm alterado até mesmo enunciados sumulados.
2. A questão do impacto das decisões judiciais na economia
Não é de hoje a discussão sobre o impacto econômico das decisões judiciais. Propiciar decisões judiciais mais seguras, visando à distribuição da Justiça e estabilidade das relações sociais, é um objetivo bem antigo e perseguido constantemente. A busca pela segurança jurídica, a fim de reduzir as incertezas provocadas pela atuação judiciária, que pode levar a decisões predominantemente políticas e ideológicas ou exageradamente impregnadas de subjetivismos, sempre foi, aliás, uma preocupação constante da teoria do direito. O surgimento de novas teorias hermenêuticas, em substituição ao positivismo, embora fomentado pela necessidade de se encontrar outras «fontes de direito» (além do texto da lei) e, dessa forma, impregnar as decisões de um maior conteúdo moral13, propiciando um maior grau de justeza, também foi impulsionado pela necessidade de se evitar «decisionismos» decorrente do «poder discricionário» do Juiz, com o qual o positivismo se contentava como (único) recurso para solução de casos complexos.
No estágio atual do desenvolvimento social, a discussão sobre os efeitos das decisões judiciais sobre a economia ganha ainda mais contorno. A busca pela segurança jurídica a fim de reduzir as incertezas nas relações contratuais passou a ser um mantra de economistas e representantes do empresariado e, talvez por decorrência, preocupação de renomados juristas e pensadores do Direito. De fato, existe uma constatação científica de que a atividade do Judiciário influencia diretamente a economia, no sentido de que, quanto maior a imparcialidade e previsibilidade (e, portanto, confiança no sistema), maior o desenvolvimento econômico e social. As transações e negócios econômicos são regulados por meio de contratos, que funcionam como fórmula para alocação de riscos entre os agentes econômicos. Uma indevida ou exagerada interferência judicial posterior nessas relações acaba por eliminar essa função dos contratos, aumentando os riscos e custos da atividade econômica. Como a essência dos contratos é a assunção (promessa) de obrigações recíprocas (entre os contratantes), para possibilitar o pleno potencial das trocas, uma ruptura do trato inicial (ainda que em parte) por meio da intervenção judicial elimina a previsibilidade que um dos contratantes tinha ao envolver-se originalmente no negócio. Essa possibilidade repercute no desenvolvimento econômico, já que aumenta os riscos da atividade de um dos contratantes. Quanto maior o grau de previsibilidade e estabilidade nas relações contratuais, no sentido de que as partes cumpram com suas promessas (voluntariamente ou forçadas), também será proporcionalmente maior o número de investimentos e negócios a serem realizados. Se, ao contrário, o grau de interferência judicial, no sentido de alteração das cláusulas contratuais, desobrigando uma das partes da prestação originalmente assumida, é exagerado ou ocorre por opções pessoais dos juízes, numa avaliação subjetiva e calcada em elementos ideológicos na interpretação das normas vigentes, tal situação pode efetivamente aumentar os custos associados a um determinado setor da economia, prejudicando o desenvolvimento econômico14.
A falta de garantias ou previsibilidade quanto ao efetivo cumprimento das obrigações contratuais pode prejudicar ainda mais acentuadamente os investimentos de longo prazo. A atividade empresarial em determinados setores da economia, a exemplo de produção e distribuição de energia, telecomunicações, indústria de medicamentos, tecnologia da informação e atividade bancária (só para citar alguns), exige profunda especialização, investimento maciço e planejamento de longo prazo. Estudos recentes demonstram que a qualidade do sistema Judiciário é um fator preponderante no momento de decidir pela alocação de recursos para empreendimentos nessas áreas. Um sistema judicial imparcial e eficiente incentiva os investidores a atuarem de maneira coordenada na produção de bens, fazendo investimentos e planejando atuação a longo prazo, já que ficam eliminados (ou atenuados) os riscos associados a futuras rupturas das promessas (contratos) originalmente celebrados (muitas vezes contratos de concessão com o Poder Público).
A exigência de previsibilidade nos negócios aumenta em razão da competitividade empresarial cada vez maior, proporcionada pelo fenômeno da globalização. Esse processo, explica Castelar Pinheiro15, provoca uma maior exigência por regulamentação, acentuando a dependência do contrato como instrumento regulador das transações transnacionais e evidenciando ainda mais a relação entre direito e economia. A globalização exige uma maior integração entre as nações, no que tange às trocas e transações econômicas, e aqueles países que não dispuserem de sistemas e instituições políticas eficientes, no sentido de garantir a regularidade dessas operações comerciais, distanciam-se e perdem espaço nesse processo global, deixando de produzir riquezas e promover o desenvolvimento social e econômico. Em outras palavras, o fortalecimento das instituições internas (aí incluído o sistema Judiciário) é condição indispensável para que os países (em especial aqueles com economias menos robustas) participem como atores integrados ao processo de globalização, para que possam se beneficiar dos efeitos da economia em escala mundial. Em outras palavras, o modelo globalizante exige dos países a melhoria e reformas de suas instituições políticas, sob pena de não integração na economia mundial. Como afirma Castells, a competitividade na nova economia global parece depender muito da capacidade política das instituições nacionais, para impulsionar a estratégia de crescimento de um país frente aos outros, sendo premente a necessidade das reformas necessárias para obter a eficiência do sistema judicial16.
O fato é que, no mundo atual, caracterizado pela rapidez nas informações e trocas comerciais (proporcionadas por redes de comunicação informatizadas), a eficiência dos sistemas judiciários, para que funcionem de forma imparcial, segura e eficiente, é uma exigência social cada vez maior. Os sistemas políticos internos das nações (sobretudo as menos desenvolvidas) devem procurar acompanhar as mudanças que se dão a nível mundial, como requisito essencial para o desenvolvimento econômico. Os sistemas judiciários, nesse sentido, têm que proporcionar, para não servirem como empecilho ao desenvolvimento econômico, maior confiabilidade e previsibilidade.
O problema da imprevisibilidade das decisões judiciais é mais acentuado no Brasil, onde a constância de decisões contraditórias parece abalar a confiança dos jurisdicionados no sistema político-judiciário. O «ativismo judicial» recente, verificado em decisões da Suprema Corte e mesmo em outras instâncias inferiores, parece ser hoje uma das marcas17 do nosso Judiciário (ao lado da morosidade). Nos últimos anos, «uma persistente crise de representatividade, legitimidade e funcionalidade no âmbito do Legislativo tem alimentado a expansão do Judiciário nessa direção, em nome da Constituição, com a prolação de decisões que suprem omissões e, por vezes, inovam na ordem jurídica, com caráter normativo geral»18. Se o «ativismo» judiciário tem um lado positivo, já que a atitude proativa dos juízes, na determinação de direitos que se encontram apenas em estado latente ou de forma nem sempre clara na Constituição e nas leis, resulta na concretização de políticas públicas e consagração de «promessas não cumpridas de modernidade», não se pode deixar de perceber o risco dessa postura judicial, pelo menos quanto à expectativa em relação à titularidade de direitos que partes de um processo judicial possam ter (ou não), em determinadas circunstâncias.
Somado a isso, ainda temos o problema da excessiva «judicialização das relações sociais», fenômeno que revela a transferência do poder político e decisório para o Judiciário, para resolver questões antes afetas a outras instâncias de poder ou a grupos socialmente organizados. Além da posição claramente ativista que o Judiciário brasileiro tem assumido, em algumas circunstâncias, existe na nossa sociedade uma tendência a se levar todo e qualquer tipo de conflito para ser resolvido por juízes, órgãos que exercem a jurisdição estatal. Segundo Luís Roberto Barroso, essa característica do atual momento político e social brasileiro tem causas múltiplas, algumas revelando uma tendência mundial, mas outras especificamente relacionadas com o nosso modelo institucional. Para ele, a constitucionalização abrangente de direitos, o aumento da demanda por justiça por parte dos cidadãos e a ascensão institucional do Poder Judiciário provocaram essa intensa judicialização das relações políticas e sociais19. A constitucionalização abrangente fez com que inúmeras matérias que antes eram deixadas para a legislação inferior fossem içadas à categoria de mandamentos e princípios constitucionais e, na medida em que um direito individual, uma prestação estatal, um fim ou política pública é disciplinado no nível constitucional, abre-se a possibilidade de os interessados ingressarem em juízo a fim de obter, pelas mãos do Judiciário, ações concretas omitidas pelos administradores públicos20. Uma vez que a Constituição consagrou tantos direitos, as pessoas redescobriram a cidadania perdida e se conscientizaram em relação aos próprios direitos, o que também funcionou aumentando consideravelmente o número de demandas judiciais. E, por fim, a promulgação da Constituição de 1988, ao atribuir garantias funcionais aos juízes, também promoveu uma reafirmação do Poder Judiciário como poder político. Recuperadas as liberdades democráticas e as garantias da magistratura, o Judiciário passou a desempenhar suas funções institucionais com altivez e independência, ocupando o espaço político a ele reservado ao lado do Executivo e do Legislativo. Essa afirmação institucional, obviamente, modificou a relação da sociedade com o Poder Judiciário, que passou a ser visto com mais confiabilidade e como desaguadouro natural dos anseios pela efetividade de direitos21.
Ainda podemos elencar outros fatores que fomentaram esse fenômeno da demasiada judicialização das relações sociais. Além da criação de novos direitos no texto constitucional, nas últimas décadas houve uma significativa renovação dos serviços judiciários, cujo exemplo maior consistiu na criação dos «Juizados de Pequenas Causas» (depois substituídos pelos Juizados Cíveis), instituídos para funcionar regulados por procedimento simplificado e despojado de formalidades, possibilitando uma maior abertura da ordem processual para a defesa dos interesses individuais e coletivos22. Tendo por pano de fundo um procedimento centrado em três aspectos fundamentais – a isenção de taxas e custas, a desnecessidade de representação por advogado e a celeridade processual -, favoreceu a universalização da jurisdição, permitindo o acesso à Justiça de parcelas cada vez maiores da sociedade, em especial dos menos favorecidos pela fortuna, e possibilitando que pequenos litígios que, antes, não eram levados ao conhecimento dos juízes, passassem a fazer parte do dia-a-dia das cortes judiciárias, revelando o efeito do que se convencionou chamar de «litigiosidade contida»23. Esses órgãos judiciários especializados, aliados a outras iniciativas de política processual, que vingaram sob a influência das teorias da efetividade do processo e introduziram novos tipos de ações e ampliaram a legitimação para a tutela de interesses, terminaram também por promover a excessiva judicialização dos fatos sociais. Se antes falava-se em «litigiosidade contida», por falta de instrumentos de acesso à Justiça, talvez hoje já se possa perceber uma «litigiosidade desenfreada». A possibilidade de se ingressar em juízo sem qualquer ônus processual inicial ou possibilidade de responsabilização, promove a multiplicidade de lides temerárias24. Também a nossa cultura, refratária ou pouco habituada a qualquer outra forma alternativa de solução de disputas, favorece a que toda sorte de conflito termine sendo decidido no Judiciário. A Lei da Arbitragem25 ainda não se mostrou capaz de popularizar entre nós esse instituto, deixando que possíveis usuários continuem recorrendo à tutela processual estatal para resolver suas controvérsias. «O Poder Judiciário deixou de ser a ultima ratio. Ao invés, é o primeiro passo na resolução de conflitos de interesses que vão desde o pequeno entrevero entre vizinhos até as grandes demandas societárias»26.
Todo esse conjunto de fatores leva a uma crescente intervenção judiciária na vida dos brasileiros, fazendo com que toda e qualquer matéria, mesmo aquelas originadas de construções sociais mais simples e aparentemente incapazes de gerar conflito, terminem sendo decididas num tribunal. A judicialização excessiva num país de grande extensão territorial com uma complexa organização judiciária, reforçada pela atual tendência ao ativismo judicial, oferece as condições para o surgimento de decisões contraditórias (ainda que em casos idênticos), demasiadamente impregnadas de cunho político e ideológico e sem qualquer respeito aos precedentes e a uma visão integracionista do sistema de normas. Sem que se tenha alguma coerência sistêmica, em termos de segurança jurídica quanto ao resultado das decisões judiciais, tal situação corrói a confiabilidade no Poder Judiciário. As incertezas provocadas pela atuação judiciária, em termos de imprevisibilidade das decisões dos juízes (mesmo em casos semelhantes), arranham a imagem do Poder Judiciário, como alerta Lenio Streck, que cunhou a expressão de «Justiça lotérica» para diagnosticar a profusão de decisões conflitantes e, muitas vezes, sem qualquer possibilidade de harmonização teórico-hermenêutica, que caracteriza o funcionamento do Judiciário brasileiro. Essa prejudicial «criatividade» decisional dos juízes brasileiros, explica o mencionado jusfilósofo, «é causada pela ânsia do juiz de ir além do que diz a lei e fazer prevalecer a sua consciência»27.
Ora, se é um dos maiores jusfilósofos brasileiros que reconhece a excessiva «subjetivação» de muitos julgados produzidos por tribunais e juízes brasileiros, não é demasiado exigir – como de fato o faz Lenio Streck – uma maior responsabilidade (accountability) dos juízes no momento da fundamentação da decisão, de forma a torná-la mais adequada com a integridade e a coerência do Direito (sistema de leis e a Constituição). Nesse sentido, parece razoável a reclamação de alguns setores produtivos quanto à exigência de decisões mais previsíveis, baseadas nas normas vigentes, evitando decisões alternativas ou predominantemente políticas. Obter decisões judiciais seguras, visando à realização de negócios e investimentos econômicos, é uma reivindicação tão legítima quanto qualquer outra, afinal os princípios relacionados à atividade econômica encontram-se condensados na Constituição Federal28 e se apóiam na forma econômica capitalista, fundamentados na liberdade da iniciativa privada e apropriação privada dos meios de produção29. Reclamar que os magistrados prestem mais atenção às conseqüências econômicas de suas decisões, por conseguinte, equivale de modo indireto a exigir respeito aos princípios e regras que regulam a atividade econômica30. Se um dos objetivos da nossa república é a erradicação da pobreza, isso só se faz com desenvolvimento econômico, para suprir as necessidades coletivas de emprego, alimentação, saúde, saneamento e outros serviços públicos essenciais. Se o cumprimento das promessas constitucionais depende do desenvolvimento econômico, o Juiz tem o dever de examinar se sua decisão pode de qualquer forma afetá-lo. Por isso, o magistrado, no momento de decidir um caso, deve estar atento às múltiplas variáveis que o compõem, não podendo se cingir a apenas um único interesse envolvido. Como adverte o Desembargador Rogério Gesta Leal, «é preciso haver uma sensibilização da magistratura brasileira para a complexidade das relações sociais, marcadas hoje por variados fatores. Um tema que aparentemente é jurídico, no sentido de ser tratado e regulado por lei, tem implicações de natureza econômica, social e política. Essas dimensões extra-normativas precisam ser consideradas pelo julgador»31.
Estudos mostram que, em diversos casos, decisões judiciais podem impactar negativamente as relações econômicas no Brasil, repercutindo no desenvolvimento, visto que interfere na expectativa dos agentes econômicos. Essa realidade justifica que os magistrados devam ter o cuidado, por decorrente de sua responsabilidade funcional de fundamentar adequadamente suas decisões, de examinar detidamente as repercussões econômicas de seus julgados, o que contribui para a integridade e eficiência do sistema e da segurança jurídica. A obtenção de decisões judiciais seguras possibilita negócios e investimentos, diminuindo o «risco jurídico» que os torna pouco atrativos, fazendo com que cumpram sua função social, impulsionando o desenvolvimento. Portanto, nas situações que comportem mais de uma solução plausível, nada impede que o Juiz busque a que seja mais correta à luz dos reflexos econômicos de sua decisão.
É importante deixar claro que, com essa afirmativa, não se está advogando uma «auto-contenção» do Judiciário ou uma volta ao conservadorismo existente antes do processo de redemocratização, quando juízes e tribunais, premidos pela falta de garantias funcionais, atuavam mais à semelhança de um «departamento técnico especializado», sem desempenhar qualquer papel político. Nem tampouco se cuida de pretender um direito de feitio vazio de valores32, sem qualquer conteúdo, cuja atividade resume-se a chancelar as relações de fato criadas pelos agentes econômicos. Apenas se defende que, «em uma perspectiva de análise econômica do direito, a opção por uma norma e não pela outra, deve se dar a partir da escolha da norma que seja mais eficiente, economicamente. Significa, pois, analisar a demanda sob o aspecto de eficiência. Ao juiz cabe avaliar o impacto que as decisões ocasionarão»33.
Uma avaliação legal completamente neutra, que desconsidere o fator econômico, é que significa um retrocesso. O que se quer é que o Juiz ou intérprete desperte para a extrema importância que as decisões judiciais representam para o desenvolvimento sócio-econômico do país. O que se pretende é que, para propiciar previsibilidade, estabilidade e integridade (em relação ao sistema normativo), o Juiz tenha também uma perspectiva de análise econômica do direito. Se fatores econômicos estão envolvidos desde a criação e elaboração das leis, porque não se levá-los também em consideração quando se trata de reduzir o texto legal à norma do caso concreto? Não se trata, portanto, «de substituir critérios de justiça por critérios econômicos, mas de perceber que os agentes econômicos mudam as estratégias à medida que a justiça se demonstra ineficiente e a economia injusta»34.
Claro que, quando se está diante de direitos fundamentais da pessoa humana, ou outros valores constitucionais de maior realce, o critério da eficiência econômica não pode prevalecer. Só poderá prevalecer fator econômico se estiver ligado também a outro princípio constitucional de igual peso, se sua prevalência significar a preservação de outro valor constitucional fundamental. Quando se depara com situações de colisão de princípios, o intérprete deve, à luz dos elementos do caso concreto, proceder a uma ponderação dos valores e interesses em jogo. «Sua decisão deverá levar em conta a norma e os fatos, em uma interação não formalista, apta a produzir a solução justa para o caso concreto, por fundamentos acolhidos pela comunidade jurídica e pela sociedade em geral»35.
Analisando a questão sob esse prisma, a consideração aos impactos econômicos da decisão judicial está em consonância com o pós-positivismo e com as teorias hermenêuticas que buscam superar a exagerada discricionariedade judicial. Se o que se quer é evitar a insegurança jurídica, proporcionada pelo subjetivismo decisional, isso significa sem sombra de dúvidas estar em linha de adequação ao pós-positivismo. Se o que se defende é que o Juiz, diante de um caso complexo, faça uma condensação de valores, preocupado com a unificação e integridade do sistema de normas, para formular decisão que evite o risco de «efeitos sistêmicos» na economia, tal proceder se coaduna com as premissas das teorias hermenêuticas pós-positivistas36.
2.1. Os impactos econômicos no setor elétrico em razão do impedimento judicial ao corte de energia do usuário fraudador
No caso específico do embaraço judicial ao corte de energia elétrica por débito pretérito do usuário que frauda o sistema de medição do consumo, parece não se ter levado em consideração os aspectos econômicos do problema. Se as concessionárias de energia elétrica tinham a previsibilidade de poder realizar o corte em casos de fraude, quando se envolveram originalmente no negócio, o impedimento posterior pode prejudicar o modelo de distribuição de energia elétrica, já que aumenta os riscos da atividade. Aumentando os riscos da atividade e, portanto, interferindo no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão37, a consequência última pode ser o comprometimento do próprio atendimento da demanda dos consumidores que pagam suas contas de luz em dia.
A natureza social do serviço de distribuição deve ser entendida no sentido de que a energia elétrica é um bem destinado à toda comunidade, e não somente a uma parcela dela, e que como um bem finito, envolve a racionalização do custo financeiro de sua geração e distribuição. Os legisladores levaram isso em consideração, no momento de definir as políticas públicas pertinentes à definição dos agentes provedores, a forma de fazer a distribuição, com que custos e pagos por quem. Como lembra Rogério Gesta Leal, «no que tange à viabilidade econômica destes serviços, não optou a norma constitucional vigente por prever a sua gratuidade universal, como princípio informativo das prestações, até porque isto implicaria impactante resultado no processo da concessão/permissão de tal atividade por parte do Estado, quiçá afastando dela qualquer interesse da iniciativa privada»38. Daí que a própria Lei de concessões e permissões vigentes no país (Lei n. 8.987/95) prevê a existência de uma política de tarifa pública remuneratória à prestação dos serviços. A Lei 9.427/96 (que disciplinou o regime das concessões dos serviços de energia elétrica), por sua vez, estabelece que o regime econômico e financeiro da concessão de serviço público de energia elétrica, conforme estabelecido no respectivo contrato, compreende a contraprestação pela execução do serviço, paga pelo consumidor final com tarifas baseadas no serviço pelo preço (art. 14, I).
Como se observa, o regime econômico e financeiro da concessão do serviço de energia elétrica previu a contraprestação do usuário, representada em termos do pagamento de um preço pelo consumo. Para garantia do equilíbrio econômico-financeiro das concessões, as leis específicas (Lei 8.987/95 e Lei 9.427/92) previram que o usuário do serviço assume uma contraprestação financeira39. O contrato que assina com a concessionária, termina por gerar o vínculo obrigacional que autoriza esta a exigir o cumprimento de sua contraprestação. Sem a satisfação de sua própria e específica obrigação, prevista em lei e assumida em negócio jurídico contratual, consistente na prestação positiva de realizar o pagamento do preço, o usuário não pode pretender a execução da prestação da outra parte. Em outras palavras, a empresa distribuidora de energia não pode ser compelida a continuar fornecendo o serviço se não recebe a compensação prestacional da outra parte.
Uma descabida intervenção judicial nessa equação pode ter o efeito de interferir no equilíbrio do setor elétrico, notadamente nos custos da distribuição de energia. A perspectiva para o fornecedor de energia elétrica, que decorre da relação contratual estabelecida com o consumidor, de poder realizar o corte do fornecimento em caso de inadimplemento (ainda com mais razão quando o não cumprimento da obrigação decorre de fraude) é uma forma de garantir a continuidade, qualidade e eficiência da prestação do serviço para toda a sociedade. Essa garantia foi dada legalmente ao distribuidor40 sobretudo para possibilitar a diminuição dos custos de sua atividade e, por decorrência, a modicidade das tarifas do serviço.
A possibilidade de suspensão do serviço (corte do fornecimento de energia) é uma garantia legal e que foi atribuída ao prestador, no caso de inadimplemento do consumidor (quer por simples impontualidade no pagamento ou pela utilização de mecanismos para subtrair o faturamento). Impedir o prestador do serviço de realizar o corte, mesmo quando constatada a fraude, a par de gerar insegurança jurídica, estimular o cometimento de crimes e interferir no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, é também medida socialmente injusta. Pode inviabilizar o sistema de distribuição de energia elétrica, tal qual foi pensado e deliberado politicamente, pelos representantes eleitos do povo. Ao se impedir o corte de energia elétrica do fraudador, está-se subvertendo a ordem econômica do setor. Não existindo qualquer norma constitucional ou infraconstitucional obrigando a que o prestador privado (concessionário de serviço de fornecimento de energia elétrica) garanta o fornecimento quando não ocorre o pagamento da contraprestação do usuário, o impedimento do corte da energia elétrica do consumidor fraudador (inadimplente por ter fraudado o faturamento do consumo) representa uma interferência indevida na economia do setor.
Não se pode dizer que o Judiciário esteja completamente insensível a esse problema, já havendo manifestações do STJ reconhecendo que o impedimento ao corte (quando inadimplente o usuário) pode comprometer as receitas do sistema elétrico e, por decorrência, a economia pública, afetando o atendimento da demanda dos consumidores adimplentes. Veja-se, a respeito, ementa de acórdão proferido no AgRg na SLS n. 216/RN:
«ENERGIA ELÉTRICA. CORTE POR INADIMPLÊNCIA. MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL.
1. A interrupção do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento não configura descontinuidade da prestação do serviço público. Precedentes.
2. O interesse da coletividade não pode ser protegido estimulando-se a mora, até porque esta poderá comprometer, por via reflexa, de forma mais cruel, toda a coletividade, em sobrevindo má prestação dos serviços de fornecimento de energia, por falta de investimentos, como resultado do não recebimento, pela concessionária, da contra-prestação pecuniária.
3. Legítima a pretensão da Concessionária de suspender a decisão que, apesar do inadimplemento, determinou o restabelecimento do serviço e a abstenção de atos tendentes à interrupção do fornecimento de energia.
4. Agravo Regimental não provido»41 (grifo nosso).
O relator do acórdão, Min. Edson Vidigal, então Presidente do STJ, destacou em seu voto o seguinte:
«Ao celebrar o contrato de concessão com a União, a COSERN não o fez para fornecer energia gratuitamente a quem quer que fosse. Assumiu a obrigação de fornecer regular, adequada e eficientemente energia elétrica aos consumidores residentes nas municipalidades a que atende, e estes, em contrapartida, têm a obrigação de pagar pontualmente a energia consumida, sejam entes públicos ou não.
Impõe-se, portanto, um perfeito equilíbrio na equação fornecimento/pagamento, pois o contrário acarretará descompasso financeiro no contrato de concessão, comprometendo, de resto, todo o sistema de fornecimento de energia» (grifo nosso).
Mais recentemente, apreciando pedido de suspensão (SLS n. 1.136-SP) de liminar concedida em ação civil pública ajuizada com o objetivo de impedir o corte de energia por débitos pretéritos apurados com constatação de fraude do medidor, o atual Presidente do STJ, Ministro Cesar Asfor Rocha, repetiu os argumentos utilizados no acórdão antes transcrito, quanto aos efeitos nefastos sobre a economia do sistema de distribuição de energia elétrica e comprometimento da equação financeira do setor, acrescentando que no caso de fraude a situação é muito mais grave, daí que com mais razão não se pode impedir a suspensão do fornecimento:
«Na hipótese presente, a situação é mais grave do que a verificada no precedente acima, tendo em vista que a liminar deferida inviabiliza o corte no fornecimento de energia elétrica independentemente do pagamento dos valores exigidos para reposição das perdas decorrentes de fraude. Não se está diante, em princípio, de simples inadimplência, mas de possíveis fraudes em medidores de consumo de energia elétrica.
Assim, a parte final da liminar deferida, que afasta a obrigatoriedade de pagamento das perdas vinculadas à fraude para efeito de restabelecimento do serviço pela concessionária, pode causar grave lesão à ordem e à economia públicas.
Ante o exposto, defiro o pedido para permitir o corte do fornecimento de energia elétrica quando não efetuado o pagamento dos valores exigidos para reposição das perdas decorrentes de fraude, apuradas conforme as normas editadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL»42.
Esses dois precedentes foram construídos no âmbito de pedidos de suspensão de liminar/sentença43, instrumento processual onde o julgador faz uma apreciação mais de conteúdo político do que meramente técnico-jurídico44, mas representam, como se disse, as primeiras manifestações da Corte Superior de Justiça Superior reconhecendo a interferência judicial indevida na economia do setor elétrico. Tudo leva a crer que a preocupação econômica refletida nesses julgados se transfira para o leito de outras ações, pela razão de que a proibição ao corte do fornecimento de energia por débito pretérito do fraudador contraria direta e frontalmente a legislação do setor de energia elétrica, pois retira a força coativa de normas preordenadas para afastar e coibir as situações de fraude, como veremos adiante.
3. A previsão legislativa da suspensão de fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento do consumidor
O direito à continuidade do serviço público, como está assegurado ao consumidor no art. 22 do CDC (bem como no § 1o do art. 6o, da Lei 8.987/95), não significa que não possa haver corte do fornecimento, mesmo na hipótese de inadimplência do consumidor. A continuidade, aqui, tem outro sentido, significando que, já havendo execução regular do serviço, a Administração ou seu agente delegado (concessionário ou permissionário) não pode interromper sua prestação, sem um motivo justo, a exemplo das excludentes de força maior ou caso fortuito. O dispositivo nem sequer obriga a Administração a fornecer o serviço, mas, desde que implantado e iniciada sua prestação, não poderá ser interrompida se o consumidor vem satisfazendo as exigências regulamentares, aí incluído o pagamento da tarifa ou preço público45. O art. 6o, par. 3º, inc. II, da Lei 8.987/95 («Lei das Concessões dos Serviços Públicos»), deixa isso bem claro, ao dizer que «não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após aviso prévio», em caso de «inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade»46. Por sua vez, a Lei n. 9.427, de 26 de dezembro de 1996 (que disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica) autoriza inclusive o corte de energia ao consumidor que preste serviço público, apenas subordinando-o à comunicação prévia ao Poder Público, nos seguintes termos:
«Art. 17. A suspensão, por falta de pagamento, do fornecimento de energia elétrica a consumidor que preste serviço público ou essencial à população e cuja atividade sofra prejuízo será comunicada com antecedência de quinze dias ao Poder Público local ou ao Poder Executivo Estadual».
Como se vê, o corte de energia elétrica é um direito que assiste ao Poder Público ou a seu concessionário, no caso de inadimplência do usuário. Decorre de disposição legal e, por isso mesmo, jamais poderia ser considerado um expediente constrangedor ou qualquer tipo de ameaça ou infração a direitos do consumidor. Em se tratando de consumidor pessoa privada (física ou jurídica) não prestadora de serviço público, a concessionária tem direito de proceder à suspensão diante de inadimplemento, sendo suficiente a notificação prévia, pois em tal situação o corte (em regra) não tem relação com nenhum direto interesse da coletividade47. As Leis, ao estatuírem o direito ao corte na hipótese de inadimplência, não fizeram distinção em relação a débito novo ou antigo (decorrente da medição de faturamento não apurado em razão de fraude no consumo). Assim, não especificando a lei a natureza do débito que autoriza o corte, não poderia o intérprete restringir o alcance dos dispositivos legais, em atenção ao princípio hermenêutico Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus, ou seja, onde a lei não distingue, não pode o intérprete distinguir. Se a lei não menciona que o corte só pode acontecer na hipótese de inadimplemento de conta regular, relativa ao mês de consumo, não poderia o julgador restringi-lo em relação a débitos antigos.
A Resolução n. 456, de 29 de novembro de 2000, da ANEEL, que estabeleceu as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, também previu a possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica nos casos de irregularidades que provoquem faturamento inferior ao correto. Nos seus artigos 72, 73, 74 e 90, a referida Resolução prevê que, constatada a utilização de qualquer procedimento irregular que provoque faturamento inferior ao correto ou ausência de faturamento (por exemplo, através de ligação clandestina ou fraude em medidor), a concessionária fica autorizada a proceder à revisão do faturamento48, a cobrar o custo administrativo correspondente49 e a proceder à suspensão do fornecimento de energia50.
4. A jurisprudência que impede o corte de energia elétrica em caso de fraude: sua origem e desdobramentos
Diante da literalidade dos dispositivos contidos na Lei das Concessões dos Serviços Públicos (Lei 8.987/95) e na Lei das Concessões dos Serviços Públicos de Energia Elétrica (Lei n. 9.427/96), não seria desarrazoado imaginar que os tribunais admitissem o corte por inadimplência, sem distinção quando se tratar de simples atraso no pagamento da fatura mensal ou de débito decorrente de «revisão do faturamento» (realizada quando constatada irregularidade na medição do consumo de energia). Mas o fato foi que a jurisprudência seguiu caminhos opostos, admitindo o corte para hipóteses de simples inadimplência (de conta regular, relativa ao mês do consumo) e impedindo-o quando se trata de débitos pretéritos gerados em razão de fraude (diferenças entre os valores efetivamente faturados e os que seriam devidos se não tivesse havido o emprego de procedimentos irregulares). Com efeito, o posicionamento atual do STJ é no sentido de considerar legítimo o corte diante do simples inadimplemento do usuário51, ao entendimento de que, nessa hipótese, não há violação ao princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais (art. 22 do CDC) e nem tampouco o corte pode ser visto como um expediente constrangedor (não havendo, portanto, violação ao art. 42 do CDC, que veda a utilização de expedientes constrangedores na cobrança de dívidas a consumidores). Já em relação a débitos pretéritos, não pode haver corte, visto como um procedimento constrangedor e sua utilização uma afronta ao art. 42 do CDC. O acórdão mais representativo dessa última jurisprudência e que influenciou sua consolidação nos diversos órgãos fracionários do STJ52, resultou de julgamento ocorrido perante a 1a. Turma, em 17 de março de 2005, e está assim ementado:
«PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. (…). CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CABIMENTO NO CASO DO ART. 6º, § 3º, II, DA LEI Nº 8.987/95. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO NA HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO. CARACTERIZAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO E AMEAÇA AO CONSUMIDOR. CDC, ART. 42. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO-COMPROVADO.
1. Agravo regimental contra decisão que desproveu agravo de instrumento.
2. O acórdão a quo entendeu pela proibição do corte no fornecimento de energia elétrica por débitos antigos, em face da essencialidade do serviço, uma vez que é bem indispensável à vida, além do que dispõe a concessionária e fornecedora dos meios judiciais cabíveis para buscar o ressarcimento daqueles.
3. Argumentos da decisão a quo que se apresentam claros e nítidos.
(…).
4. Com relação ao fornecimento de energia elétrica, o art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/95 dispõe que «não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando for por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade». Portanto, havendo o fornecimento de energia elétrica pela concessionária, a obrigação do consumidor será a de cumprir com sua parte, isto é, o pagamento pelo referido fornecimento, sendo possível, verificando-se caso a caso, uma vez não realizada a contraprestação, o corte.
5. Hipótese dos autos que se caracteriza pela exigência de débito pretérito, não devendo, com isso, ser suspenso o fornecimento, visto que o corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, em relação aos quais existe demanda judicial ainda pendente de julgamento, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo qualquer espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC.
6. (…).
7. Agravo regimental não provido» (AgRg no Ag 633173/RS, rel. Min. José Delgado, 1a. Turma, j. 17.03/05, DJ 02/05/05).
Em julgamento proferido no ano seguinte (2006)53, o mesmo relator fez referência aos fundamentos do julgado anterior. Parece que, a partir daí, a tese de que o corte não pode alcançar débitos pretéritos se consolidou na 1.a Turma e dela para o restante dos órgãos fracionários do STJ54. Representativos dessa consolidação jurisprudencial são os seguintes arestos, que fazem menção ao precedente inicial:
«ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO.
CONSTRANGIMENTO E AMEAÇA AO CONSUMIDOR. CDC, ART. 42.
1. A Primeira Turma, no julgamento do REsp n.º 772.489/RS, bem como no AgRg no AG 633.173/RS, assentou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica por diferença de tarifa, a título de recuperação de consumo de meses, em face da essencialidade do serviço, posto bem indispensável à vida.
2. É que resta cediço que a «suspensão no fornecimento de energia elétrica somente é permitida quando se tratar de inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo, restando incabível tal conduta quando for relativa a débitos antigos não-pagos, em que há os meios ordinários de cobrança, sob pena de infringência ao disposto no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Precedente: AgRg no Ag nº 633.173/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 02/05/05.» (REsp 772.486/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 06.03.2006).
3. Concernente a débitos antigos não-pagos, há à concessionária os meios ordinários de cobrança, sob pena de infringência ao disposto no art. 42, do Código de Defesa do Consumir.
4. In casu, o litígio não gravita em torno de inadimplência do usuário no pagamento da conta de energia elétrica (Lei 8.987/95, art. 6.º, § 3.º, II), em que cabível a interrupção da prestação do serviço, por isso que não há cogitar suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo inadimplemento.
5. Recurso especial improvido. (REsp 756591/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2006, DJ 18/05/2006 p. 195)»
«PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS ANTIGOS E JÁ CONSOLIDADOS. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO.
1. A «concessionária não pode interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida relativa à recuperação de consumo não-faturado, apurada a partir da constatação de fraude no medidor, em face da essencialidade do serviço, posto bem indispensável à vida. Entendimento assentado pela Primeira Turma, no julgamento do REsp n.º 772.489/RS, bem como no AgRg no AG 633.173/RS» (AgRg no REsp 854002/RS, 1ª Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 11.06.2007).
2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 819.004/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 17/03/2008).
Como se observa, em relação a débito apurado em «revisão de faturamento», não cabe a suspensão do serviço, mas se provier de simples atraso no pagamento da fatura mensal de consumo, aí pode ser realizado. Como fica evidente, essa jurisprudência gera a gritante incongruência de o bem (energia elétrica) ser considerado essencial (e, assim, impedido o corte) em um determinado momento e em outro, não. Se a essencialidade do bem serve de fundamento para obstaculizar a suspensão de seu fornecimento, então em toda e qualquer situação não poderia haver corte. Se o bem é essencial para manutenção de necessidades básicas do consumidor, a sua fruição não pode ser interrompida. O que não pode é ora o bem ser essencial e ora não sê-lo. A postura da Corte de Justiça, por conseguinte, é incompreensível. O mais grave é que a distinção é feita em prejuízo do consumidor honesto, que não se utiliza de meios fraudulentos para burlar a medição regular do consumo55. A jurisprudência atual, portanto, além de tudo representa um incentivo à fraude.
O STJ já afastou o argumento da essencialidade do bem para os casos de (simples) inadimplência do usuário56, mas parece continuar a utilizá-lo para obstaculizar o corte de energia em relação ao fraudador, o que é inexplicável. A continuidade do serviço para o fraudador, sem o efetivo pagamento, quebra o princípio da igualdade das partes e ocasiona o enriquecimento sem causa.
A jurisprudência atual que impede o corte de energia do fraudador também coloca o STJ em outra posição dúbia – a de ter de reconhecer o contrangimento que deriva do corte e, ao mesmo tempo, não conferir indenização por dano moral. Se o fundamento para impedimento do corte é o reconhecimento de que representa um expediente ilegítimo, que causa constrangimento indevido (em violação ao art. 42 do CDC), então é óbvio que gera a possibilidade de o fraudador requerer indenização por danos morais, toda vez que a distribuidora realizar a suspensão. O TJRN declarou a ocorrência de dano moral nessa hipótese, mas o STJ, em grau de recurso, afastou a possibilidade de indenização, com o seguinte fundamento:
«Conquanto o usuário tenha resguardado o seu direito ao fornecimento de energia por se tratar de débito pretérito, mesmo na hipótese de ter ele fraudado o aparelho medidor, não se pode, por outro lado, prestigiá-lo com o recebimento de indenização por um suposto dano moral sofrido em razão de suspensão do serviço que se operou em decorrência de sua má-fé. Ou seja, o simples fato de a jurisprudência desta Corte afastar a possibilidade do corte de energia em recuperação de consumo não-faturado não tem o condão de outorgar ao usuário, que furtou energia elétrica, o direito a reclamar a responsabilização da companhia fornecedora pelos danos morais eventualmente suportados» (STJ-2ª. Turma, REsp 1070060-RN, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.02.09, DJe 25.03.09).
Como se observa, a Corte Superior, por força da sua jurisprudência equivocada, está se vendo na incômoda posição de declarar que «o corte configura constrangimento ao consumidor»57 (nos caso de dívidas decorrentes de fraude no consumo de energia elétrica) e ao mesmo tempo ter que afastar a configuração do dano moral.
Ao invés de ficar dando explicações para justificar mais essa contradição, o mais conveniente seria eliminar o equívoco originário, de permitir o corte no caso de simples inadimplemento e não permiti-lo no caso de débito apurado em vistoria que constata a utilização de expediente fraudulento (alteração do medidor). Se a essencialidade do bem serve de fundamento para impedir o corte de usuário desonesto, que se utiliza de artifício fradulento (alteração do medidor) para encobrir seu débito, com mais razão serviria para impedir essa medida na hipótese de simples inadimplência. O que não pode é o bem ser considerado essencial para o fraudador e não sê-lo para o devedor. Para o consumidor honesto que, por razões de dificuldades financeiras momentâneas não teve como pagar a conta, a energia elétrica não é considerada bem essencial, podendo haver o corte como expediente legítimo a ser utilizado pela concessionária. Já nos casos em que é constatada fraude e realizada a apuração do consumo não faturado, invoca-se a essencialidade de bem para se impedir o corte, o que é evidentemente absurdo. A dívida decorrente de consumo não faturado (por fraude no medidor) ensejaria, ao contrário, a possibilidade não somente da suspensão do fornecimento como a adoção de medidas adicionais. Não se trata, no caso, de simples inadimplência, mas de um inadimplemento decorrente da utilização de métodos ilícitos.
Essa jurisprudência, de que o corte somente não se considera descontinuidade do serviço e abuso dos meios de cobrança quando se trata de dívida nova (última prestação mensal), não pode realmente continuar por ser absurda e proporcionar efeitos sociais nefastos. O pior de tudo é que gera uma espécie de imunidade judiciária antecipada para o fraudador, já que não mais se discutem as especificidades de cada caso. Antes da consolidação dessa jurisprudência, a discussão em juízo nas demandas com o objetivo de reativar o fornecimento de energia girava em torno da prova da irregularidade. Discutia-se, por exemplo, a realização ou adequação da perícia técnica, a observância do procedimento previsto na norma regulamentar da Aneel (notificação do consumidor e concessão de oportunidade para defesa), a correta consolidação material das evidências indicadas pelo fiscal (documentação da irregularidade), as evidências decorrentes do histórico de leituras anteriores, enfim, questões de uma forma ou de outra ligadas à produção de prova para atestar as condições de medição de energia do aparelho instalado na unidade consumidora. Já agora não mais se discutem essas questões, pois o fraudador tem o anteparo preexistente do precedente jurisprudencial, que impede o corte nos casos de fraude, bastando invocá-lo.
Na prática, a situação gerada pela jurisprudência atual do STJ é essa: o fraudador tem uma espécie de salvo-conduto; não paga e não pode, em hipótese alguma, ter suspenso seu fornecimento de energia. Essa situação, obviamente, precisa ser alterada urgentemente.
5. O problema da prestação de serviço público (de fornecimento de energia elétrica) no Brasil enquanto direito social fundamental e sua contraprestação
Houve quem defendesse que o fornecimento de energia elétrica não poderia ser suspenso, por falta de pagamento, ao argumento de que a energia elétrica é um bem jurídico que se afigura como indispensável à manutenção e desenvolvimento da dignidade da pessoa humana. Invocava-se, portanto, o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no inc. III do art. 1º. da CF, como obstáculo ao corte de energia do usuário inadimplente. A idéia era de que, como o Estado deve garantir recursos materiais mínimos para a sobrevivência de todo indivíduo, não poderia deixar faltar o fornecimento de energia elétrica, pois sem essa provisão a própria dignidade da pessoa humana ficaria comprometida.
Essa concepção foi rejeitada desde cedo, a partir do momento em que as cortes judiciárias admitiram o corte de energia por inadimplemento; além disso, ela também errava ao enxergar no vínculo da concessionária com o consumidor uma relação regida pelo direito público (e não de natureza contratual, regulada pelo direito privado), desconsiderando a contraprestação pecuniária a cargo deste último como condição para o recebimento do serviço. De qualquer maneira, e tendo em visto o caráter acadêmico do presente trabalho, reputamos interessante retomar a discussão apenas para demonstrar a inviabilidade dessa teoria.
O princípio da dignidade da pessoa humana, implantado na Constituição, assegura um mínimo de segurança social. Aqui assoma a ideia do chamado mínimo existencial, no sentido de que o Estado deve garantir a todo indivíduo os recursos materiais mínimos, pois sem essa garantia é a própria dignidade da pessoa humana que fica comprometida. «A garantia das condições mínimas para uma existência digna integra o conteúdo essencial do princípio do Estado Social de Direito, constituindo uma de suas principais tarefas e obrigações»58.
O comprometimento da dignidade da pessoa humana, por falta de condições materiais mínimas, justificaria inclusive a intervenção do Poder Judiciário, definindo políticas públicas, nos casos de omissão do Poder Executivo. Em doutrina já se admitia que o plexo de garantias constitucionais imputadas à responsabilidade estatal necessita advir de políticas públicas concretizadoras, as quais, se não implantadas diretamente pelo Executivo, justifica a intervenção judicial. Como explica Rogério Gesta Leal, em caráter excepcional e tendo em vista situações «condizentes a direitos indisponíveis e da mais alta importância e emergência comunitárias», o que faria exigir «imediata materialização ao máximo possível» dos direitos sociais, «sob pena de comprometer a dignidade humana e o mínimo existencial dos seus carecedores», o Judiciário pode ser chamado a intervir59.
Em julgamento proferido no ano de 2006, da relatoria do Min. Celso de Mello, a Corte Suprema brasileira chegou a reconhecer essa possibilidade de ação judiciária para implementação de políticas públicas exigidas como implementação de direitos sociais básicos:
«A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental. (…) Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam sesta implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão – por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório – mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade dos direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional»60.
O mínimo existencial, portanto, serve como um dos parâmetros de dosimetria e densificação material da pessoa humana, autorizando inclusive a intervenção judicial para sua preservação na hipótese de omissão do Poder Executivo. Não se pode descurar, todavia, que as prestações positivas a cargo do Estado estão sujeitas à reserva do possível, no sentido daquilo que o indivíduo, de maneira racional, pode esperar da sociedade. Essa teoria impossibilita exigências acima de certo limite básico social61, porquanto tem que se levar em conta «não somente o direito individual ou coletivo propriamente dito, mas sua contextualização em face dos demais sujeitos de direitos potencialmente impactados pelo atendimento do seu interesse, notadamente sob a perspectiva do mínimo fisiológico, aqui entendido como as condições materiais mínimas para uma vida condigna, no sentido da proteção contra necessidades de caráter existencial básico»62. «Um interesse ou uma carência é, nesse sentido, fundamental em nível de mínimo existencial quando sua violação ou não-satisfação significa ou a morte, ou sofrimento grave, ou toca o núcleo essencial da autonomia»63.
O reconhecimento de que a efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana redunda na obrigação estatal de garantir um mínimo de condições materiais ao indivíduo não implica necessariamente na exigência à empresa concessionária de fornecer energia elétrica sem que haja a respectiva contraprestação remuneratória pelo serviço. Isso porque não existe qualquer norma constitucional ou infraconstitucional obrigando o prestador privado (concessionário de serviço de energia elétrica) a garantir o fornecimento independentemente de pagamento do preço do serviço. Não existe um direito subjetivo constitucional de acesso universal, gratuito, incondicional e sem qualquer custo ao fornecimento de energia elétrica.
Os legisladores levaram isso em consideração, no momento de definir as políticas públicas pertinentes à definição dos agentes provedores, a forma de fazer a distribuição, com que custos e pagos por quem. Por isso que a Lei de concessões e permissões vigentes no país (Lei n. 8.987/95) prevê a existência de uma política de tarifa pública remuneratória à prestação dos serviços. A Lei 9.427/96 (que disciplinou o regime das concessões dos serviços de energia elétrica), por sua vez, estabelece que o regime econômico e financeiro da concessão de serviço público de energia elétrica, conforme estabelecido no respectivo contrato, compreende a contraprestação pela execução do serviço, paga pelo consumidor final com tarifas baseadas no serviço pelo preço (art. 14, I).
Portanto, o regime econômico e financeiro da concessão do serviço de energia elétrica previu a contraprestação do usuário, representada em termos do pagamento de um preço pelo consumo. Para garantia do equilíbrio econômico-financeiro das concessões, as leis específicas (Lei 8.987/95 e Lei 9.427/92) previram que o usuário do serviço assume uma contraprestação financeira64. Em assim sendo, uma política pública de caráter social no setor elétrico pode ser viabilizada no sentido de prever tarifas mais baixas para determinadas categorias de usuários, mas nunca isentando completamente (e sem qualquer critério) o usuário do pagamento de sua contraprestação.
A natureza social do serviço de distribuição deve ser entendida no sentido de que é um bem destinado a toda comunidade, e não somente a uma parcela dela, e que como um bem finito, envolve a racionalização do custo financeiro de sua geração e distribuição. Por isso, todos os que consomem esse bem escasso devem pagar por ele, nos termos das previsões legais. As parcelas mais pobres da sociedade, ou seja, os consumidores de baixa renda, são beneficiados através de desconto na tarifa da energia elétrica. Com efeito, a «Lei da Tarifa Social de Energia Elétrica» (Lei 12.212/10) beneficia todas as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, através de desconto de tarifa na conta de luz65. A Lei teve uma preocupação especial em relação às famílias que tenham entre seus membros portador de doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico pertinente requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica, prevendo que, nesse caso, o limite da renda mensal familiar se estende até 3 (três) salários mínimos (§ 1º. do art. 2º.).
Como se observa, já existe lei estabelecendo as bases da política social para o setor de distribuição de energia elétrica, fincada na previsão de tarifas reduzidas para os consumidores de baixa renda, sem desmantelar o regime constitucional da concessão desse serviço, que prevê a contraprestação do usuário mediante pagamento do preço. O que não se admite é uma intervenção judicial que desconsidere todo o sistema integrado de normas para dispensar um consumidor qualquer de sua contrapartida remuneratória, sem exigência de qualquer ordem e sem levar em conta sua classe social e capacidade econômica66.
6. Relação obrigacional regida pelo direito privado
Na verdade, a invocação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana pode ter sido incentivada a partir de uma visão distorcida da relação entre o fornecedor e o consumidor de energia elétrica. É que alguns enxergaram nessa relação um vínculo regido exclusivamente pelo direito público, o que impediria a concessionária (fornecedor) de suspender unilateralmente a prestação do serviço, já que não teria a seu dispor a exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus)67.
Todavia, o contrato que o consumidor assina com a concessionária, termina por gerar o vínculo obrigacional que autoriza esta a exigir o cumprimento de sua contraprestação. Sem a satisfação de sua própria e específica obrigação, prevista em lei e assumida em negócio jurídico contratual, consistente na prestação positiva de realizar o pagamento do preço, o usuário não pode pretender a execução da prestação da outra parte. Em outras palavras, a empresa distribuidora de energia não pode ser compelida a continuar fornecendo o serviço se não recebe a compensação prestacional da outra parte.
Como se sabe, as concessionárias de serviço público podem ser de direito público ou de direito privado68. Adquirem o direito à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica quando vencem licitação aberta pela Administração para o fim de outorga desse serviço. O vencedor da licitação celebra com o Poder público um contrato de concessão de serviço público. Esse contrato de concessão tem a natureza de contrato tipicamente administrativo, regido, portanto, pelas normas do Direito Público. Mas, paralelamente a ele, o concessionário estabelece, por força da execução dos serviços concedidos, outros contratos com os usuários finais dos serviços (consumidores), estes de natureza privada69. Assim, o serviço prestado em forma de concessão pública dá lugar a duas relações contratuais distintas: de um lado, a que envolve o próprio contrato de concessão, em que são partes o Poder concedente e a concessionária, relação esta submetida ao regime de direito público, e, de outro, o liame contratual que se estabelece entre o usuário e a concessionária, sujeito ao direito privado.
A própria Lei das Concessões (Lei 8.987/95) deixa entrever que, à exceção da relação direta entre o Poder concedente e o concessionário (contrato administrativo), todas as demais relações contratuais que este termine envolvido por conta da execução do contrato de concessão são regidas pelo direito privado. Com efeito, prescreve o parágrafo único do seu artigo 31:
«As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pela concessionária serão regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pela concessionária e o poder concedente».
O contrato de fornecimento de energia elétrica, já que se estabelece entre o concessionário e outro particular (usuário final), é essencialmente privado, apenas com os condicionamentos decorrentes do poder regulamentar que Administração exerce sobre a atividade transferida. O poder regulamentar da Administração fica revelado pela circunstância de que: a) os reajustes e revisões das tarifas dos serviços obedecem a prescrições legais e parâmetros e diretrizes específicas determinadas pelo órgão fiscalizador e regulador competente; b) o Poder concedente pode fiscalizar permanentemente a prestação do serviço concedido, aplicar penalidades ao concessionário e intervir na prestação do serviço, dentre outros poderes (art. 29 da Lei 8.987/95).
A presença de uma regulamentação do Poder Público sobre a prestação do serviço concedido não implica em desnaturar a relação contratual do concessionário com o usuário. Mesmo quando privados, estabelecidos entre particulares, certos contratos sofrem, em diferentes graus, a influência do poder regulamentar estatal, limitando a liberdade contratual das partes. Assim ocorre em função do interesse social que acompanha esses contratos, dos quais são exemplos marcantes os contratos de trabalho, os contratos de locação e os contratos de consumo em geral (contratos de planos de saúde, de prestação de serviços educacionais, de serviços de telefonia), só para citar alguns, que recebem uma estrita regulamentação legal, limitando a liberdade dos contraentes a um campo bastante reduzido. Tal fenômeno, apropriadamente chamado de dirigismo contratual, surgiu em contraposição ao princípio clássico da plena autonomia da vontade dos contratantes, que já não oferecia respostas satisfatórias à nova realidade social pós-revolução industrial.
Ainda, é importante registrar que a eventual presença de uma pessoa jurídica de direito público, na condição de usuário dos serviços de fornecimento de energia elétrica, também não desnatura a natureza privada do contrato. Nessa hipótese, ela assume posição de simples consumidor, destinatário final dos serviços contratados em relação (privada) de consumo70. Como se sabe, nem sempre uma pessoa jurídica de direito público celebra contratos tipicamente administrativos. Em boa parte de suas relações contratuais, vincula-se despida da potestade estatal, do poder de império que caracteriza a sua atuação, igualando-se ao particular. É o que ocorre quando adquire bens e serviços de consumo, a exemplo de energia elétrica, posicionando-se em relação ao concessionário (fornecedor) como simples consumidor.
Em sendo privada a relação entre o concessionário e o usuário, é admissível por aquele o recurso a faculdades próprias das partes em contratos regidos pelo direito privado, especificamente a da exceção de contrato não cumprido (art. 476 do C.C.), que permite a um dos contraentes deixar de cumprir com sua obrigação quando haja descumprimento da do outro71.
A suspensão do fornecimento de energia, em razão do inadimplemento do usuário, é ato de mera gestão negocial. O direito do concessionário ao corte (suspensão do serviço), nessa hipótese, não decorre do poder de polícia que lhe é transferido pelo Estado, mas tem origem no contrato (privado) que assina com o particular (consumidor), por força da exceptio non adimpleti contractus, que autoriza a qualquer contratante deixar de adimplir sua obrigação quando o outro deixa de cumprir com a sua própria prestação. Não é ato que decorra do poder de polícia público. O ato do corte no fornecimento de energia, em razão do inadimplemento do usuário, não corresponde a uma ação administrativa de efetuar condicionamentos à propriedade da pessoa (o consumidor final dos serviços delegados). Não se confunde com um ato de fiscalização ou ato repressivo e nem muito menos é um ato jurídico expressivo de poder público72. Cobranças de débito (aos consumidores) e todos os atos que o concessionário esteja legitimado a fazer, não porque imbuído do poder de polícia, mas por decorrência de direitos originados de contratos celebrados com terceiros, estranhos à relação contratual de concessão (do serviço público), configuram apenas atos de gestão da sua atividade, regidos pelo direito privado.
7. Conclusões:
1a. O regime econômico e financeiro da concessão do serviço de energia elétrica previu a contraprestação do usuário, representada em termos do pagamento de um preço pelo consumo. Especificamente as Leis 8.987/95 e Lei 9.427/92 previram que o usuário do serviço assume uma contraprestação financeira, cuja não satisfação autoriza o corte do fornecimento de energia elétrica. Em se tratando de consumidor pessoa privada (física ou jurídica), a concessionária tem direito de proceder à suspensão diante de inadimplemento, sendo suficiente a notificação prévia, pois em tal situação o corte (em regra) não tem relação com nenhum direto interesse da coletividade.
2a. O contrato que o usuário assina com a concessionária, termina por gerar o vínculo obrigacional que autoriza esta a exigir o cumprimento de sua contraprestação. Sem a satisfação de sua própria e específica obrigação, prevista em lei e assumida em negócio jurídico contratual, consistente na prestação positiva de realizar o pagamento do preço, o usuário não pode pretender a execução da prestação da outra parte. Em outras palavras, a empresa distribuidora de energia não pode ser compelida a continuar fornecendo o serviço se não recebe a compensação prestacional da outra parte. Em sendo privada a relação entre o concessionário e o usuário, é admissível por aquele o recurso a faculdades próprias das partes em contratos regidos pelo direito privado, especificamente a da exceção de contrato não cumprido (art. 476 do C.C.), que permite a um dos contraentes deixar de cumprir com sua obrigação quando haja descumprimento da do outro.
3a. As Leis (8.987/95 e Lei 9.427/92), ao estatuírem o direito ao corte na hipótese de inadimplência, não fizeram distinção em relação a débito novo ou antigo (decorrente da medição de faturamento não apurado em razão de fraude no consumo). Assim, não especificando a lei a natureza do débito que autoriza o corte, não poderia o intérprete restringir o alcance dos dispositivos legais, em atenção ao princípio hermenêutico Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus, ou seja, onde a lei não distingue, não pode o intérprete distinguir. Se a lei não menciona que o corte só pode acontecer na hipótese de inadimplemento de conta regular, relativa ao mês de consumo, não poderia o julgador restringi-lo em relação a débitos antigos.
4a. A atual jurisprudência do STJ, que faz distinção entre débito novo (relativo à fatura do último mês de consumo) e débito antigo (decorrente de apuração de consumo não faturado em decorrência de fraude), admitindo o corte de energia na primeira situação e impedindo-o na segunda, desconsidera o sistema integrado de normas que regulam o setor de distribuição de energia no país, além de gerar a gritante incongruência de o bem (energia elétrica) ser considerado essencial (e, assim, impedido o corte) em um determinado momento e em outro, não. O STJ já afastou o argumento da essencialidade do bem para os casos de (simples) inadimplência do usuário, mas continua a utilizá-lo para obstaculizar o corte de energia em relação ao fraudador, o que é inexplicável. Se a essencialidade do bem serve de fundamento para obstaculizar a suspensão de seu fornecimento, então em toda e qualquer situação não poderia haver corte. Se o bem é essencial para manutenção de necessidades básicas do consumidor, a sua fruição não pode ser interrompida. O que não pode é ora o bem ser essencial e ora não sê-lo. A postura da Corte de Justiça, por conseguinte, é incompreensível. O mais grave é que a distinção é feita em prejuízo do consumidor honesto, que não se utiliza de meios fraudulentos para burlar a medição regular do consumo. A jurisprudência atual, portanto, além de tudo representa um incentivo à fraude.
5a. O corte de energia elétrica é um direito que assiste ao Poder Público ou a seu concessionário, no caso de inadimplência do usuário. Decorre de disposição legal e, por isso mesmo, jamais poderia ser considerado um expediente constrangedor ou qualquer tipo de ameaça ou infração a direitos do consumidor. A permanência do serviço para o fraudador, sem o efetivo pagamento, quebra o princípio da igualdade das partes e ocasiona o enriquecimento sem causa.
6a. A perspectiva para o fornecedor de energia elétrica de poder realizar o corte do fornecimento em caso de inadimplemento (ainda com mais razão quando o não cumprimento da obrigação decorre de fraude) é uma forma de garantir a continuidade, qualidade e eficiência da prestação do serviço para toda a sociedade. Essa garantia foi dada legalmente (nas Leis 8.987/95 e Lei 9.427/92) ao distribuidor, sobretudo para possibilitar a diminuição dos custos de sua atividade e, por decorrência, a modicidade das tarifas do serviço. Uma descabida intervenção judicial nessa equação pode ter o efeito de interferir no equilíbrio do setor elétrico, notadamente nos custos da distribuição de energia. Pode inviabilizar o sistema de distribuição de energia elétrica, tal qual foi pensado e deliberado politicamente, pelos representantes eleitos do povo. Ao se impedir o corte de energia elétrica do fraudador, está-se subvertendo a ordem econômica do setor.
7a. Impedir o prestador do serviço de realizar o corte, mesmo quando constatada a fraude, a par de gerar insegurança jurídica, estimular o cometimento de crimes e interferir no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, é também medida socialmente injusta. Não existindo qualquer norma constitucional ou infraconstitucional obrigando a que o prestador privado (concessionário de serviço de fornecimento de energia elétrica) garanta o fornecimento quando não ocorre o pagamento da contraprestação do usuário, o impedimento do corte da energia elétrica do consumidor fraudador (inadimplente por ter fraudado o faturamento do consumo) representa uma injustiça para com o restante da comunidade, formada por consumidores honestos e que procuram pagar suas contas em dia.
8a. Não existe um direito subjetivo constitucional de acesso universal, gratuito, incondicional e sem qualquer custo ao fornecimento de energia elétrica. Daí que uma política pública de caráter social no setor elétrico pode ser viabilizada no sentido de prever tarifas mais baixas para determinadas categorias de usuários, mas nunca isentando completamente e sem qualquer critério o usuário do pagamento de sua contraprestação. A natureza social do serviço de distribuição deve ser entendida no sentido de que é um bem destinado a toda comunidade, e não somente a uma parcela dela, e que como um bem finito, envolve a racionalização do custo financeiro de sua geração e distribuição. Por isso, todos os que consomem esse bem escasso devem pagar por ele, nos termos das previsões legais. As parcelas mais pobres da sociedade, ou seja, os consumidores de baixa renda são beneficiados através de desconto na tarifa da energia elétrica. Já existe lei estabelecendo as bases da política social para o setor de distribuição de energia elétrica (Lei 12.212/10), fincada na previsão de tarifas reduzidas para os consumidores de baixa renda, sem desmantelar o regime constitucional da concessão desse serviço, que prevê a contraprestação do usuário mediante pagamento do preço. O que não se admite é uma intervenção judicial que desconsidere todo o sistema integrado de normas para dispensar um consumidor qualquer de sua contrapartida remuneratória, sem exigência de qualquer ordem e sem levar em conta sua classe social e capacidade econômica.
Referências bibliográficas
BARROSO, Luiz Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro (Pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ – Centro de Atualização Jurídica, v. I, nº 6, 2001.
__________. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito. Revista de Direito Administrativo n °240, 2005.
__________. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática, artigo publicado no site Conjur, em 22.12.08, podendo ser acessado em: http://www.conjur.com.br/2008-dez-22/judicializacao_ativismo_legitimidade_democratica
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 2 ed.v.1 São Paulo: Paz e Terra, 1999.
LEAL. Rogério Gesta. Repercussões econômicas de decisões judiciais preocupam magistrados. Entrevista para o portal do STJ, publicada no dia 29.03.09, no seguinte endereço: http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=91452
______________________. Condições e Possibilidades Eficaciais dos Direitos Fundamentais Sociais – Os desafios do Poder Judiciário no Brasil. Livraria do Advogado Editora. Porto Alegre, 2009
LOPES, Pedro Câmara Raposo. Judiciário deve refletir sobre os impactos das decisões. Artigo publicado no site Conjur, em 14.01.09, acessível em: http://www.conjur.com.br/2009-jan- 14/poder_judiciario_refletir_impactos_economicos_decisoes ).
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2002.
ORTOLAN. Josililene Hernandes. Norma Sueli Padilha. O Impacto Econômico do Direito: em busca de uma economia mais justa e de um direito mais eficiente. Trabalho publicado nos Anais do XVII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em Brasília – DF, nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2008.
PINHEIRO, Armando Castelar. Direito e economia num mundo globalizado: cooperação ou confronto. Disponível: www.an.org.br/arquivo/destaques/armando_castelar_pinheiro.pdf.Acesso em 09.out.2007.
REINALDO. Demócrito Filho. Comentários à Lei 9.099/95. Editora Saraiva. 1995.
____________. Ações judiciais para impedir o corte do fornecimento de energia elétrica – alguns apontamentos sobre sua natureza e a autoridade competente para julgá-las. Revista Eletrônica Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 309, 12 maio 2004. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5215>. Acesso em: 11 fev. 2010.
____________. A preocupação do juiz com os impactos econômicos das decisões – Uma análise conciliatória com as teorias hermenêuticas pós-positivistas. Revista Eletrônica Jus Navigandi, Teresina, ano 13, n. 2299, 17 out. 2009. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=13707>. Acesso em: 18 fev. 2010.
STRECK, Lenio Luiz. Justiça Lotérica – Ativismo judicial não é bom para a democracia. Entrevista para o site Consultor Jurídico, publicada no dia 15.03.09, podendo ser acessada no seguinte link para a entrevista: http://www.conjur.com.br/2009-mar-15/entrevista-lenio-streck-procurador-justica-rio-grande-sul ).
ZYLBERSZTAJN, Décio. Rachel Sztajn. Direito & Economia. Análise Econômica do Direito e das Organizações.Rio de Janeiro: Elsevier 2005.
1 Doutorando do curso de Direito da Universidade Estácio de Sá (RJ).
2 Representativos desse entendimento podem ser citados os seguintes acórdãos: STJ: AgRg no Ag 886502/RS, DJ de 19/12/2007; REsps nºs 756591/DF, DJ de18/05/06; 772486/RS, DJ de 06/03/06; e 772781/RS, DJ de 10/1005.
3 O procedimento de «revisão do faturamento», para o caso de identificação de conduta irregular (do usuário) que provoque faturamento inferior ao correto ou mesmo ausência de faturamento, está previsto no inc. IV do art. 72 da Resolução n. 456, de 29 de novembro de 2000, da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Os critérios para realizar a «revisão do faturamento», ou seja, para o preposto da concessionária poder estimar a diferença entre os valores faturados a menor (por causa da irregularidade) e os que deveriam ter sido regularmente apurados, estão descritos nas alíneas «a», «b» e «c» do inciso IV.
4 O inc. I do art. 90 da Resolução n. 456, de 29 de novembro de 2000, da ANEEL, permite que a concessionária suspenda de imediato o fornecimento de energia quando verifica a fraude no consumo. Na verdade, além da cobrança da diferença apurada (em razão do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares), a Resolução 456 da ANEEL autoriza a distribuidora de energia a cobrar do usuário o custo administrativo adicional pela revisão do faturamento (art. 73, caput) e a proceder a suspensão do fornecimento de energia elétrica (arts. 73, parágrafo único, 74 e 90).
5 As normas contidas no art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95 (Lei das concessões de serviços públicos) e art. 17 da Lei 9.427/96 (Lei que instituiu a ANEEL e disciplinou o regime das concessões dos serviços de energia elétrica) permitem o corte do fornecimento da energia em caso de inadimplemento, sem fazer distinção quanto a débito pretérito ou se relativo à fatura do último mês de medição.
6 O impedimento ao corte vai gerar a possibilidade de o fraudador requerer indenização por danos morais, toda vez que a distribuidora realizar a suspensão. Foi o que ocorreu em julgamento do TJRN, que reconheceu a configuração de dano moral nessa hipótese. Em recurso especial, tendo como relator o Min. Mauro Campbell Marques, o STJ reformou o acórdão do tribunal estadual, mas se colocou na incômoda posição de ter que reconhecer a ilicitude do corte de energia em relação a débito pretérito (estimado em razão de fraude no medidor) e, por outro lado, ter que afastar a configuração do dano moral (REsp 1070060-RN). Dissecaremos mais adiante esse e outros julgados sobre a questão do dano moral por corte de energia em caso de fraude no consumo, em item específico deste trabalho.
7 Não existe norma constitucional prevendo a gratuidade universal, como princípio informativo da atividade dos concessionários, daí que a própria Lei de concessões e permissões vigente no país (Lei n. 8.987/95) prevê a existência de uma política de tarifa pública remuneratória à prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica. A Lei 9.427/96 (que disciplinou o regime das concessões dos serviços de energia elétrica), por sua vez, estabelece que o regime econômico e financeiro da concessão de serviço público de energia elétrica, conforme estabelecido no respectivo contrato, compreende a contraprestação pela execução do serviço, paga pelo consumidor final com tarifas baseadas no serviço pelo preço (art. 14, I).
8 No art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95 (Lei das concessões de serviços públicos) e no art. 17 da Lei 9.427/96 (Lei que instituiu a ANEEL e disciplinou o regime das concessões dos serviços de energia elétrica).
9 Diante do inadimplemento do consumidor, parte da jurisprudência inclinou-se por inadmiti-lo, ao argumento da essencialidade do bem em questão e da característica de continuidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, com apoio no art. 22 do CDC (Lei 8.078/90), que consagra o princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais. O Poder Público ou seu delegado só ficaria autorizado a proceder à cobrança executiva do débito, sob pena de infringir o art. 42 do mesmo diploma, que proíbe o uso de expedientes constrangedores na cobrança de dívidas a consumidores. Essa corrente prevaleceu durante algum tempo na Primeira Turma do STJ, tendo o Min. José Augusto Delgado sido o relator do acórdão padrão que resultou no assentamento desse entendimento (ver o acórdão proferido no ROMS 8915-MA, unânime, j. 12.05.98, DJ 17.08.98). Posteriormente, essa jurisprudência ficou superada, por ter a Corte passado a entender que o direito à continuidade do serviço público, como está assegurado ao consumidor no art. 22 (bem como no § 1o do art. 6o, da Lei 8.987/95), não significa que não possa haver corte do fornecimento na hipótese de inadimplência do consumidor. Para maiores detalhes sobre o assunto, sugerimos a leitura de nosso artigo «Ações judiciais para impedir o corte do fornecimento de energia elétrica – alguns apontamentos sobre sua natureza e a autoridade competente para julgá-las», publicado no site Jus Navigandi, disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5215>.
10 A Defensoria Pública do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública (Processo n. 576.01.2009.049673-1) com pedido de antecipação de tutela na 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto – SP, objetivando, essencialmente, que fosse determinado à Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL o imediato religamento da energia para os consumidores que tiveram seu fornecimento suspenso em decorrência de fraude ou violação de medidor de consumo. O Juízo de 1º grau deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou, para todos os consumidores, «o imediato restabelecimento do fornecimento de energia,» ou a não-interrupção, «nos casos de débitos pretéritos e estimados em decorrência de suposta fraude ou violação de medidores». Inconformada, a CPFL interpôs recurso de agravo de instrumento (Processo n. 990.09.251986-7) no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Desembargador relator recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo, daí o pedido de suspensão de liminar (SLS n. 1.136-SP) apresentado no STJ.
11 O instrumento da suspensão da execução de liminar é previsto no art. 4º. da Lei n. 8.437, de 30.06.02, o qual prediz que o Presidente do tribunal poderá suspender a execução de liminar ou sentença contra o Poder Público, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
12 Em item específico deste trabalho, examinaremos mais detalhadamente os termos dessa decisão do Presidente do STJ (SLS 1.136-SP).
13 Tendo em vista a co-originariedade entre direito e moral, de certa forma abandonada pelo positivimo.
14 Décio Zylbersztajn e Rachel Sztajn. Direito & Economia. Análise Econômica do Direito e das Organizações.Rio de Janeiro: Elsevier 2005.p.103-104.
15 Armando Castelar Pinheiro. Direito e economia num mundo globalizado: cooperação ou confronto. Disponível: www.an.org.br/arquivo/destaques/armando_castelar_pinheiro.pdf.Acesso em 09.out.2007. Apud
16 Manuel Castells. A sociedade em rede. 2 ed.v.1 São Paulo: Paz e Terra, 1999, p 12-18.
17 O ativismo judiciário, ao invés de configurar propriamente um problema, revela um lado positivo da atuação dos juízes brasileiros, em uma sociedade carente da concretização de direitos fundamentais. De fato, o «ativismo» geralmente se manifesta quando o Poder Legislativo se mostra incapaz para suprir as demandas sociais pela concretização de direitos, daí o surgimento da atitude mais avançada do Judiciário, como protagonista de decisões que implicam em escolhas morais e implementação de políticas públicas e, portanto, preenchendo espaços políticos antes reservado aos outros poderes. Como explica Luís Roberto Barroso, «o ativismo judicial é uma atitude, a escolha de um modo específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance. Normalmente ele se instala em situações de retração do Poder Legislativo, de um certo descolamento entre a classe política e a sociedade civil, impedindo que as demandas sociais sejam atendidas de maneira efetiva» (em Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática, artigo publicado no site Conjur, em 22.12.08). Mas, como alerta o citado constitucionalista, «decisões ativistas devem ser eventuais, em momentos históricos determinados», pois «não há democracia sólida sem atividade política intensa e saudável, nem tampouco sem Congresso atuante e investido de credibilidade».
18 Luís Roberto Barroso, ob. cit.
19 Em Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito, artigo publicado na Revista de Direito Administrativo n °240, 2005.
20 «Na medida em que uma questão – seja um direito individual, uma prestação estatal ou um fim público – é disciplinada em uma norma constitucional, ela se transforma, potencialmente, em uma pretensão jurídica, que pode ser formulada sob a forma de ação judicial. Por exemplo: se a Constituição assegura o direito de acesso ao ensino fundamental ou ao meio-ambiente equilibrado, é possível judicializar a exigência desses dois direitos, levando ao Judiciário o debate sobre ações concretas ou políticas públicas praticadas nessas duas áreas» (Luís Roberto Barroso).
21 Esse último fator de «judicialização» das relações sociais é descrito por Luís Roberto Barros como «ascensão institucional do Poder Judiciário». Descreve esse fenômeno na seguinte passagem de sua obra:
«Uma das instigantes novidades do Brasil dos últimos anos foi a virtuosa ascensão institucional do Poder Judiciário. Recuperadas as liberdades democráticas e as garantias da magistratura, juízes e tribunais deixaram de ser um departamento técnico especializado e passaram a desempenhar um papel político, dividindo espaço com o Legislativo e o Executivo. Tal circunstância acarretou uma modificação substantiva na relação da sociedade com as instituições judiciais, impondo reformas estruturais e suscitando questões complexas acerca da extensão de seus poderes» (em Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito).
22 Demócrito Reinaldo Filho. Comentários à Lei 9.099/95. Editora Saraiva. 1995.
23 Demócrito Reinaldo Filho. Ob. cit.
24 As penas previstas para a litigância de má-fé, no art. 14 e seguintes do CPC, parecem não ser suficientes para desestimular as lides temerárias. Isso ocorre pela dificuldade de cobrança posterior da multa aplicada e até mesmo pela exagerada parcimônia que os juízes revelam na aplicação dessas sanções processuais.
25 Lei n.º 9.307/96.
26 Pedro Câmara Raposo Lopes faz considerações sobre aspectos sociológicos de nossa formação cultural, que levam os brasileiros a preferirem a solução estatal a qualquer outra forma de solução de conflitos, comprometendo o passivo judicial. Diz ele: «Sociologicamente, explica-se a morosidade pela formação ibérica do povo brasileiro, que recebe com suspeita todo ato que não conte, de alguma forma, com o sufrágio estatal. Confia-se mais no terceiro imparcial do que na contraparte que, assim como o interessado, conhece a fundo a raiz do negócio comum. Avulta a cultura do carimbo, da «cartorização», da jurisdição graciosa como meio de oficialização de atos particulares absolutamente inanes à ordem jurídica justa. O Poder Judiciário deixou de ser a ultima ratio. Ao invés, é o primeiro passo na resolução de conflitos de interesses que vão desde o pequeno entrevero entre vizinhos até as grandes demandas societárias. Esta peculiar característica da formação da personalidade do homem brasileiro, tomada de empréstimo do homem ibérico por sua gênese, amesquinha as tentativas mais bem intencionadas de reduzir o passivo judicial, como, verbi gratia, as medidas paraestatais de solução de conflitos (mediação, arbitragem e quejandos) que não encontraram no solo brasileiro terreno virente, justamente pela carência do elemento judicial a lhe conferir a chancela estatal (absolutamente desnecessária nos povos de tradição oriental ou anglo-saxã).» (em Judiciário deve refletir sobre os impactos das decisões, artigo publicado no site Conjur, em 14.01.09, acessível em: http://www.conjur.com.br/2009-jan-14/poder_judiciario_refletir_impactos_economicos_decisoes ).
27 Ele explica que essa «criatividade» é ainda uma herança do período de ditadura pelo qual passou o Brasil. Na explicação de Streck, como o cidadão quase não tinha direitos antes da Constituição de 1988, os juízes tinham de usar de todo conhecimento e imaginação para encontrar brechas e contornar o autoritarismo legal. Vinte anos depois, os juízes ainda não se acostumaram com a lei prevendo tantos direitos para o cidadão. «Os juízes, que agora deveriam aplicar a Constituição e fazer a filtragem das leis inconstitucionais, passaram a achar que sabiam mais do que o constituinte. Saímos da estagnação para o ativismo» (entrevista para o site Consultor Jurídico, intitulada «Justiça Lotérica – Ativismo judicial não é bom para a democracia«, publicada no dia 15.03.09, podendo ser acessada no seguinte link: http://www.conjur.com.br/2009-mar-15/entrevista-lenio-streck-procurador-justica-rio-grande-sul ).
28 No art. 170, mas também dispersos por outros dispositivos.
29 Claro que, mesmo focados na economia de mercado, o conjunto de princípios que regem a atividade econômica consagram importantes institutos de proteção ao ser humano.
30 A Constituição está impregnada de uma série de valores e princípios que visam à realização da democracia econômica, por meio da regulação do mercado e da atividade econômica. O Estado deve garantir as condições para o crescimento econômico como condição para erradicar a pobreza, promovendo o crescimento justo e equitativo para suprir as necessidades de emprego, alimentação, energia, água e saneamento. O Estado apóia os agentes econômicos nacionais, na sua relação com o resto do mundo e, de modo especial, os agentes e atividades de contribuam positivamente para a inserção dinâmica do nosso país no sistema econômico mundial. O Estado incentiva e apóia, nos termos da lei, o investimento externo que contribua para o desenvolvimento econômico e social do país. É garantida, nos termos da lei, a coexistência dos setores público e privado na economia. Enfatiza-se, como deveres do Estado, em democracia econômica, os de assegurar uma concorrência sã, a fiscalização da atividade econômica para verificação do cumprimento das leis e regulamentos, a qualidade, regularidade e acessibilidade a bens de consumo e a serviços públicos fundamentais (água, electricidade, telecomunicações, etc.), a qualidade e o equilíbrio ambientais, o ordenamento territorial e o planeamento urbanístico equilibrados.
31 Repercussões econômicas de decisões judiciais preocupam magistrados, entrevista do Des. Rogério Gesta Leal para o portal do STJ, publicada no dia 29.03.09, no seguinte endereço:
http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=91452
32 Ressaltando que não se trata de defender um Judiciário completamente neutro diante de questões sociais que se lhe apresentam, notadamente quando se trata de conferir proteção contra a violação de direitos fundamentais, Rogério Gesta Leal alerta para o risco da «substituição de um dirigismo sempre estatal centrado no Executivo para um focado no Judiciário» (ob. cit., p. 90).
33 Josilene Hernandes Ortolan e Norma Sueli Padilha, em «O Impacto Econômico do Direito: em busca de uma economia mais justa e de um direito mais eficiente», trabalho publicado nos Anais do XVII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em Brasília – DF, nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2008.
34 Josilene Hernandes Ortolan e Norma Sueli Padilha, ob. cit.
35 Josilene Hernandes Ortolan e Norma Sueli Padilha, ob. cit.
36 Para saber mais sobre a questão dos impactos econômicos das decisões judiciais e as teorias hermenêuticas pós-positivistas, recomendamos a leitura do nosso artigo «A PREOCUPAÇÃO DO JUIZ COM OS IMPACTOS ECONÔMICOS DAS DECISÕES – Uma análise conciliatória com as teorias hermenêuticas pós-positivistas», publicado na Revista Eletrônica Jus Navigandi, Teresina, ano 13, n. 2299, 17 out. 2009, disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=13707>.
37 Sobre a cláusula da garantia do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, Rogério Gesta Leal explica que esta garantia econômica «coloca a realização do serviço público por pessoa de direito privado em uma situação segura no sentido de ter resguardada a saúde orçamentária de tal mister, haja vista que tal cláusula contratada em regime público não se submete às mutações unilaterais da Administração, sob pena de inviabilizar a própria concessão ou permissão, quando lhe onera o ofício de forma insuportável» (Condições e Possibilidades Eficaciais dos Direitos Fundamentais Sociais – Os desafios do Poder Judiciário no Brasil, Porto Alegre. Livraria do Advogado Editora, 2009, p. 142).
38 Ob. cit., p. 141.
39 A tarifa de energia elétrica é o preço definido pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica que deve ser pago pelos consumidores finais de energia elétrica. Pelo regime tarifário do Preço-Teto, a Aneel avalia os custos gerais e a receita requerida por uma determinada concessionária e define os níveis tarifários a serem cobrados dos consumidores residenciais (população em geral) e das demais classes de consumidores.
40 No art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95 (Lei das concessões de serviços públicos) e art. 17 da Lei 9.427/96 (Lei que instituiu a ANEEL e disciplinou o regime das concessões dos serviços de energia elétrica).
41 STJ, Corte Especial, acórdão unânime, j. 20.03.06, DJ 10.04.06.
42 Essa decisão monocrática do Ministro Cesar Asfor Rocha foi proferida no dia 10.02.10 e publicada no DJe de 18.10.02. Contra ela foi interposto agravo regimental, que se encontra pendente de julgamento pela Corte Especial.
43 O pedido de suspensão da eficácia de decisão contrária ao Poder Público é endereçado ao presidente do tribunal competente para conhecer do respectivo recurso. Diversas leis atualmente disciplinam os pedidos de suspensão de liminares no âmbito de diferentes demandas envolvendo o Poder Público. Com efeito, o pedido de suspensão pode ser formulado contra liminar ou sentença proferidas: (a) em mandados de segurança (art. 4º, da Lei 4.348/64), (b) em ações civis públicas (art. 12, § 1º, da Lei 7.347/85 c/c art. 4º, § 1º, da Lei 8.437/92), (c) em ações cautelares (art. 4º, caput e § 1º, da Lei 8.437/92), (d) em ações populares (art. 4º, caput e § 1º, da Lei 8.437/92) e (e) em ações no âmbito das quais tenha sido deferida tutela antecipatória ou tutela específica (art. 1º da Lei 9.494/97 c/c art. 4º da Lei 8.437/92). O incidente de suspensão também será cabível para sustar a eficácia da sentença que conceder o habeas data (art. 16 da Lei 9.507/97).
44 O art. 4º. da Lei 8.437/92 estabelece que o presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, pode suspender a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, «em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas».
45 O princípio da continuidade do serviço público essencial apenas impõe para o prestador (Poder Público ou seu delegatário) a obrigatoriedade de prosseguir em sua exploração, depois que implantá-lo em uma determinada área e para um grupo delimitado de usuários, não podendo, posteriormente, simplesmente deixar de prestá-lo, segundo suas próprias conveniências. A respeito dos serviços públicos essenciais, Hely Lopes Meirelles já explicava que: «estes serviços, desde que implantados, geram direito subjetivo à sua obtenção por todos aqueles que se encontram na área de sua prestação ou fornecimento, e satisfaçam às exigências regulamentares» (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 265). Para o Prof. Caio Tácito, o princípio da continuidade do serviço público impõe ao concessionário o dever de prosseguir na exploração do mesmo, ainda que tal atividade seja ruinosa, pois à Administração incumbe, correlatamente, partilhar das cargas extraordinárias, restaurando a economia abalada e a eficácia da execução do contrato (TÁCITO, Caio. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 1974, p. 209. Apud LEAL. Rogério Gesta. Condições e Possibilidades Eficaciais dos Direitos Fundamentais Sociais – Os desafios do Poder Judiciário no Brasil. Livraria do Advogado Editora. Porto Alegre, 2009). No mesmo sentido, o Prof. Mário Masagão ensina que «a continuidade significa que as necessidades públicas, a cuja satisfação se destina o serviço, não devem ser atendidas esporadicamente, mas de forma ininterrupta e constante» (MASAGÃO, Mário. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1974, p. 254. Apud LEAL. Rogério Gesta. Condições e Possibilidades Eficaciais dos Direitos Fundamentais Sociais – Os desafios do Poder Judiciário no Brasil. Livraria do Advogado Editora. Porto Alegre, 2009). Assim, por exemplo, se uma determinada concessionária resolve levar sua rede de distribuição elétrica a uma comunidade longínqua do interior de um Estado, e os membros dessa comunidade passam a se servir desse serviço, não pode em momento posterior, verificando que a expansão não teve o retorno econômico desejado, simplesmente deixar de prestar o serviço. O princípio da continuidade implica na obrigação da permanência da disponibilização do serviço, a não ser em caso de caso fortuito ou força maior. O que ele não significa é que o prestador esteja obrigado a prestar o serviço, mesmo não cumprindo o consumidor com sua obrigação de pagamento do preço.
46 O artigo em questão tem a seguinte redação:
«Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.
(…)
§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:
I – motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,
II – por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade».
47 O interesse da coletividade, que impede a suspensão do fornecimento de energia, pode excepcionalmente ficar configurado mesmo na hipótese de consumidor privado (pessoa física ou jurídica), caracterizado por circunstâncias peculiares que o distinguem da comunidade dos usuários. Seria o caso, e.g., da hipótese em que o corte tivesse de recair sobre um consumidor submetido a tratamento de doença, e que dependesse do funcionamento de um determinado aparelho elétrico para manutenção de sua vida. Nesse caso, haveria um interesse superior de preservação da vida do consumidor de energia elétrica, que justificaria o impedimento ao corte. Fora desses casos excepcionais, onde o corte poderia inclusive conflitar com direitos de base constitucional, não há impedimento.
48 Os critérios para revisão do faturamento estão dispostos nas alíneas a, b e c do inc. IV do art. 72 da Res. 456, com a seguinte redação:
«Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências:
(…)
IV – proceder a revisão do faturamento com base nas diferenças entre os valores efetivamente faturados e os apurados por meio de um dos critérios descritos nas alíneas abaixo, sem prejuízo do disposto nos arts. 73, 74 e 90:
a) aplicação do fator de correção determinado a partir da avaliação técnica do erro de medição causado pelo emprego dos procedimentos irregulares apurados;
b) na impossibilidade do emprego do critério anterior, identificação do maior valor de consumo de energia elétrica e/ou demanda de potência ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição normal imediatamente anteriores ao início da irregularidade; e
c) no caso de inviabilidade de utilização de ambos os critérios, determinação dos consumos de energia elétrica e/ou das demandas de potência ativas e reativas excedentes por meio de estimativa, com base na carga instalada no momento da constatação da irregularidade, aplicando fatores de carga e de demanda obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares».
49 A possibilidade de cobrança do custo administrativo pelo procedimento de revisão do faturamento está disciplinada no art. 73 da Resolução, que tem a seguinte redação:
«Art. 73. Nos casos de revisão do faturamento, motivada por uma das hipóteses previstas no artigo anterior, a concessionária poderá cobrar o custo administrativo adicional correspondente a, no máximo, 30 % (trinta por cento) do valor líquido da fatura relativa à diferença entre os valores apurados e os efetivamente faturados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da suspensão do fornecimento prevista no art. 90, o procedimento referido neste artigo não poderá ser aplicado sobre os faturamentos posteriores à data da constatação da irregularidade, excetuado na hipótese de auto-religação descrita no inciso II, art. 74.»
50 A possibilidade de corte de energia, nesses casos, está prevista em diversos dispositivos, mas é tratada de maneira mais completa no art. 90, assim redigido;
«Art. 90. A concessionária poderá suspender o fornecimento, de imediato, quando verificar a ocorrência de qualquer das seguintes situações:
I – utilização de procedimentos irregulares referidos no art. 72;
II – revenda ou fornecimento de energia elétrica a terceiros sem a devida autorização federal;
III – ligação clandestina ou religação à revelia; e
IV – deficiência técnica e/ou de segurança das instalações da unidade consumidora, que ofereça risco iminente de danos a pessoas ou bens, inclusive ao funcionamento do sistema elétrico da concessionária».
51 Ver, e.g., o acórdão proferido no REsp 363943-MG, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 10.12.03, DJ de 01.03.04.
52 A jurisprudência anterior permitia o corte por débito do fraudador. Nesse sentido: AgRg no REsp 969.928/RS, 1ª. Turma, rel. Min. Francisco Falcão, j. 02.10.2007, DJ 12.11.2007 p. 196; EDcl no REsp 956.172/SP, 1ª. Turma, rel. Ministro Francisco, j. 02.10.07, DJ 22.11.2007, p. 206; EDcl no REsp 786165 / SP, 2ª. Turma, rel. Min. Castro Meira, j. 15.08.06, DJ 25.08.06, p. 328; REsp 631843 / MG, 2ª. Turma, rel. Min. Eliana Calmon, j. 28.06.05, DJ 15.08.05; REsp 41557/SP, 1ª. Turma, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 23.05.94, DJ 20.06.94.
53 No AgRg no REsp 820665/RS, rel. Min. José Delgado, 1a. Turma, j. 18/05/06, DJ 08/06/06.
54 Representativos dessa linha de pensamento, ainda podem ser citados os seguintes acórdãos: REsp 772.486/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 06.03.2006; AgRg no REsp 854002/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, 1a. Turma, julgado em 15.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 282; AgRg no Ag 752292/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, 1a. Turma, julgado em 21.11.2006, DJ 04.12.2006, p. 268; REsp 834.954/MG, Rel. Ministro Castro Meira, 2a. Turma, julgado em 27.06.2006, DJ 07.08.2006, p. 213; REsp 914828/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2a. Turma, julgado em 08.05.2007, DJ 17.05.2007, p. 232; REsp 975.314/RS, Rel. Ministro Castro Meira, 2a. Turma, julgado em 20.09.2007, DJ 04.10.2007 p. 229.
55 O Des. Cândido Saraiva, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, adverte que a essencialidade do bem (energia elétrica) pode até ser invocada em favor do consumidor honesto (simples inadimplente), mas jamais em favor do fraudador: «Não se pretende repudiar o caráter de essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica. Tal característica, no entanto, deve ser considerada em relação àqueles que pagam regularmente o serviço recebido. Pensar de forma diversa encoraja a inadimplência e – o que é tanto ou mais relevante – onera e põe em risco a prestação do serviço para toda a coletividade, o que, por si só, é razão suficiente para caracterizar o direito da Agravante». (TJPE- 2ª. Câmara Cível, Agravo de Instrumento n. 89503-6, rel. Des. Cândido Saraiva).
56 A jurisprudência do STJ inclinou-se inicialmente por inadmitir o corte, ao argumento da essencialidade do bem em questão e da característica de continuidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, com apoio no art. 22 do CDC (Lei 8.078/90), que consagra o princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais. O Poder Público ou seu delegado só ficaria autorizado a proceder à cobrança executiva do débito, sob pena de infringir o art. 42 do mesmo diploma, que proíbe o uso de expedientes constrangedores na cobrança de dívidas a consumidores. Essa corrente prevaleceu durante algum tempo na Primeira Turma do STJ, tendo o Min. José Augusto Delgado sido o relator do acórdão padrão que resultou no assentamento desse entendimento (ver o acórdão proferido no ROMS 8915-MA, unânime, j. 12.05.98, DJ 17.08.98). Mas depois houve a reversão desse entendimento inicial, por ter a Corte reconhecido que o direito à continuidade do serviço público, como está assegurado ao consumidor no art. 22 (bem como no § 1o do art. 6o, da Lei 8.987/95), não significa que não possa haver corte do fornecimento, mesmo na hipótese de inadimplência do consumidor. A continuidade, aqui, tem outro sentido, significando que, já havendo execução regular do serviço, a Administração ou seu agente delegado (concessionário ou permissionário) não pode interromper sua prestação, sem um motivo justo, a exemplo das excludentes de força maior ou caso fortuito. O dispositivo nem sequer obriga a Administração a fornecer o serviço, mas, desde que implantado e iniciada sua prestação, não poderá ser interrompida se o consumidor vem satisfazendo as exigências regulamentares, aí incluído o pagamento da tarifa ou preço público. O art. 6o, par. 3º, inc. II, da Lei 8.987/95 («Lei das Concessões dos Serviços Públicos»), deixa isso bem claro, ao dizer que «não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após aviso prévio», em caso de «inadimplemento do usuário, considerado o interesse público». O novo posicionamento do STJ considera legítimo o corte no caso de inadimplemento do usuário, não caracterizando descontinuidade do serviço essa hipótese (ver, e.g., o acórdão proferido no REsp 363943-MG, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 10.12.03, DJ de 01.03.04).
57 STJ-2ª. Turma, REsp 1026639-SP, rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 17.04.08, DJe 13.05.08.
58 Rogério Gesta Leal, invocando o ensinamento de Ingo Scarlet e Mariana Figueiredo. Ver «Condições e Possibilidades Eficaciais dos Direitos Fundamentais Sociais – Os desafios do Poder Judiciário no Brasil», Porto Alegre. Livraria do Advogado Editora, 2009, p. 81.
59 Ob. cit., p. 97. Mas o próprio Rogério Gesta Leal destaca que esse papel do Judiciário é muito controvertido, havendo razoável crítica dessa iniciativa.
60 Recurso Extraordinário n. 410715/SP, publicado no DJ de 03.02.2006.
61 Rogério Gesta Leal adverte que o argumento da reserva do possível tem que ser examinado dentro do contexto factual de determinado caso concreto, sob pena de condicionar a realização de direitos fundamentais a questões orçamentárias, o que «reduziria sua eficácia a zero», sabendo-se da inexorável escassez de recursos para atender demandas de massa. Ob. cit., p. 105.
62 Rogério Gesta Leal. Ob. cit. p. 101.
63 Ob. cit., p. 103.
64 A tarifa de energia elétrica é o preço definido pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica que deve ser pago pelos consumidores finais de energia elétrica. Pelo regime tarifário do Preço-Teto, a Aneel avalia os custos gerais e a receita requerida por uma determinada concessionária e define os níveis tarifários a serem cobrados dos consumidores residenciais (população em geral) e das demais classes de consumidores.
65 A Lei n. 12.212, de 20 de janeiro de 2010, prevê um desconto de 100% para as famílias indígenas e quilombolas inscritas no CadÙnico com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo ou que tenha entre seus moradores quem receba o benefício de prestação continuada da assistência social (previsto nos arts. 20 e 21 da Lei no 8.742/93).
66 Mesmo o consumidor de baixa renda, beneficiado pela Tarifa Social, pode ter suspenso seu fornecimento de energia em caso de inadimplemento. O art. 9º. da Lei n. 12.212/10 estabelece que resolução da Aneel deve definir os critérios para a interrupção do fornecimento e o parcelamento da dívida.
67 A exceção de contrato não cumprido – exceptio non adimpleti contractus – se acha consagrada pelo art. 476 do atual Código Civil (correspondente ao art. 1092, caput, 1a parte, do Código Civil de 1916), nos seguintes termos: «nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro».
68 Art. 2o. da Lei 8.987/95.
69 No regime legal da concessão de serviço público de energia elétrica, é previsto que o concessionário se remunere através da cobrança de um preço pago pela prestação do serviço ao consumidor final (art. 14 da Lei 9.427/96). É a sua contraprestação pela execução dos serviços, que resulta na necessidade de se envolver em outras relações contratuais (de ordem privatística) com os destinatários finais do serviço. Essa característica privatística do contrato de fornecimento de energia tem origem, em princípio, na própria Constituição Federal, quando admitiu a prestação de serviço público por particular, em colaboração ao Poder Público, em regime de concessão ou permissão (art. 175).
70 O art. 2o. do CDC (Lei 8.078/90), ao definir consumidor, inclui também as pessoas jurídicas adquirentes de produtos e serviços na qualidade de destinatário final. Como a lei não restringe, é de se concluir que também as pessoas jurídicas de direito público podem assumir a posição de consumidor em relação contratual de consumo.
71 Em decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento, o Des. Cândido Saraiva, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, reconheceu a natureza privatística do contrato entre a distribuidora de energia e o usuário, autorizando aquela a se utilizar da faculdade prevista no art. 476 do C.C., nesses termos: «… trago à baila os preceitos do diploma adjetivo civil para ressaltar o caráter contratual do referido serviço. Com fulcro no artigo 476 do Código Civil, nenhum dos contratantes, antes de cumprida sua obrigação, poderá exigir do outro o seu implemento – é o princípio da exceptio non adimpleti contractus. Assim, mesmo possuindo a Recorrente outros meios para perseguir o adimplemento da obrigação, a suspensão da energia elétrica por falta de pagamento caracteriza-se como uma extinção, mesmo que temporária, do contrato de fornecimento e não, como muitos defendem, uma forma de coerção para efetuação do pagamento» (TJPE- 2ª. Câmara Cível, Agravo de Instrumento n. 89503-6, rel. Des. Cândido Saraiva).
72 Para uma melhor diferenciação entre os atos do delegado (concessionário) do serviço público de fornecimento de energia elétrica que podem ser enquadrados como atos de gestão e atos de polícia, sugerimos a leitura do nosso artigo «Ações judiciais para impedir o corte do fornecimento de energia elétrica – alguns apontamentos sobre sua natureza e a autoridade competente para julgá-las«, publicado na Revista Eletrônica Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 309, 12 maio 2004. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5215>.
Custas no cumprimeto de sentença
Custas no cumprimeto de sentença
1. Introdução
A Lei n. 11.232, de 22 de dezembro de 2005, produziu a reforma do processo de execução, trazendo uma nova regulamentação para a execução de sentenças. Antes dela, a execução dos títulos judiciais era feita por meio de um processo autônomo, ou seja, o beneficiado pela sentença necessitava promover o ajuizamento de uma outra demanda (executiva), para obter a satisfação do seu crédito. A partir de sua edição, a efetivação forçada da sentença condenatória é feita como etapa final no próprio processo de conhecimento, sem necessidade de um processo autônomo de execução[1].
A unificação da fase cognitiva e da executiva num único processo[2], no entanto, gerou diversas dúvidas, dentre as quais a controvérsia sobre o recolhimento de custas na fase de cumprimento de sentença. Para muitos, as alteração introduzida pela Lei n. 11.232/05, ao deslocar a atividade executiva para dentro do processo de conhecimento, não eliminou a necessidade de realização de atos executórios e de liquidação para se obter a satisfação do crédito reconhecido no título judicial. A movimentação do aparelho judiciário para realização desses atos gera despesas, permanecendo a razão de ser para cobrança das custas processuais. Já para outros, em sendo o cumprimento de sentença mera fase do processo, não há que se falar em recolhimento de custas processuais iniciais.
No presente trabalho, examinando a natureza tributária das custas processuais, concluímos que, em observância ao princípio da reserva legal, tem que haver lei prevendo expressamente a incidência dessa espécie de tributo (taxa) na fase de cumprimento de sentença, não sendo possível o aproveitamento de regras que definiam o ato da distribuição e autuação do processo executivo como fato gerador da cobrança. As antigas leis de custas (existentes antes da Lei n. 11.232/05) perderam a validade, sendo necessária uma atualização legislativa, já que não se admite a aplicação analógica de normas tributárias.
Consideramos também que, mesmo havendo a possibilidade de as leis de custas serem alteradas para prever a cobrança no cumprimento de sentença, é recomendável que a exigência, se adotada, somente se dê no momento final do processo, quando ocorre o pagamento dos valores pelo executado. Isso impede que a incidência de custas no início dessa fase processual (cumprimento se sentença) se transforme em óbice para obtenção do crédito fixado no título judicial exequendo.
Antes das conclusões finais, fazemos breve análise do conceito e das diversas espécies de custas judiciais, bem como apresentamos um quadro da evolução jurisprudencial da cobrança das custas no cumprimento de sentença, em alguns Estados da Federação.
2. Conceito de custas processuais
As custas processuais correspondem ao preço ou à despesa inerente ao uso ou à prestação do serviço público de justiça. A prestação da atividade jurisdicional, a cargo do Poder Judiciário, é serviço público remunerado, daí que cabe às partes o ônus de arcar com as despesas processuais. No processo são praticados uma série de atos, alguns a cargo dos litigantes e outros a cargo dos juízes e auxiliares, que geram um custo financeiro, custo esse que deve ser suportado pelas partes. A não ser nos casos de pobreza reconhecida, em que o Estado concede a gratuidade processual[3], permanece a regra de que as partes suportam o ônus financeiro do processo. Segundo Amauri Mascaro Nascimento, a atribuição do pagamento das custas às partes tem origem na impossibilidade de o Estado assumir todos os encargos referentes à administração da Justiça[4].
As custas processuais, portanto, podem ser definidas como as verbas pagas aos serventuários da Justiça e à Fazenda Pública pela prática de ato processual. No conceito de Pedro dos Reis Nunes, as custas são as «despesas taxadas por lei, num regimento, que se fazem com a promoção, ou a realização de atos forenses, processuais ou de registros públicos, e as que se contam contra a parte vencida na demanda»[5]. Com efeito, as custas são cobradas das partes conforme previsão em lei, que inclui tabela de valores dos atos processuais. As custas devidas à União, em razão da atuação dos órgãos do Poder Judiciário Federal, são disciplinadas em lei federal, votada pelo Congresso Nacional e promulgada pelo Presidente da República[6]. Já a contagem, a cobrança e o pagamento das custas nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, e que servem para remunerar os serviços Judiciários dos Estados, regem-se pela respectiva legislação estadual. A competência para legislar sobre custas foi atribuída concorrentemente à União e aos Estados pela Constituição Federal[7].
As Leis de custas, que regulam a cobrança dessas espécies tributárias, costumam fazer uma diferenciação entre elas, sendo a taxa judiciária aquela devida em razão da atuação de juízes e promotores (em qualquer procedimento judicial)[8], e as custas, a exação decorrente do processamento dos feitos a cargo dos serventuários da Justiça (analistas e técnicos judiciários, oficiais de justiça, contadores etc). Existe, ainda, uma terceira categoria que são os emolumentos, assim entendidos os valores cobrados como remuneração pelos serviços notariais e de registro (atividade extra-judicial). Nesse sentido, pode-se afirmar que a taxa judiciária, as custas judiciais e os emolumentos são espécies do gênero custas processuais.
É preciso diferenciar ainda as custas das outras despesas processuais. A tramitação de um processo pode envolver a necessidade de cobertura de outras despesas processuais, que não estão abrangidas pelo pagamento das custas. Essas outras despesas processuais geralmente estão relacionadas com a participação de terceiros, acionados como agentes colaboradores do Judiciário na tarefa de prestar jurisdição. O próprio Código de Processo Civil faz a distinção entre despesas e custas processuais, no § 2º. do art. 20, verbis:
«§ 2º. As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração de assistente técnico».
A teor do dispositivo transcrito, despesas processuais e custas processuais não se confundem. O conceito de custas «compreende aquela parte das despesas relativas à formação, propulsão e terminação do processo, que se acham taxadas por lei. As custas abrangem aquelas verbas destinadas ao erário público e aos serventuários, em razão da prática de atos processuais«[9]. «As custas processuais retratam o custo do serviço de prestação jurisdicional strictu sensu. Por seu turno, as despesas processuais, além das custas processuais, abrangem todas as outras despesas relativas a tarefas necessárias ao andamento do processo, não desempenhadas pelo cartório judicial, como honorários de perito, por exemplo»[10].
A Ministra Eliana Calmon traça com exatidão as fronteiras conceituais entre custas e despesas processuais, explicando que estas últimas referem-se ao custeio de atos não abrangidos pela atividade cartorial, realizados por terceiros em colaboração com o aparelho judiciário:
«Custas são o preço decorrente da prestação da atividade jurisdicional, desenvolvida pelo Estado-juiz através de suas serventias e cartórios. Emolumentos são o preço dos serviços praticados pelos serventuários de cartório ou serventias não oficializados, remunerados pelo valor dos serviços desenvolvidos e não pelos cofres públicos. Despesas, em sentido restrito, são a remuneração de terceiras pessoas acionadas pelo aparelho jurisprudencial, no desenvolvimento da atividade do Estado-juiz»[11].
Dentro dessa concepção de que por despesas processuais devem ser compreendidas as relacionadas ao custeio de atos que extrapolam a atividade cartorial, podem ser incluídos quaisquer «gastos necessariamente feitos para se levar um processo às suas finalidades»[12], como é o caso, p. ex., dos honorários de perito, da remuneração de tradutor, intérprete, avaliador ou depositário e ressarcimento de diligências promovidas por Oficial de Justiça[13].
3. Natureza jurídica das custas processuais
Embora havendo divergência em sede doutrinária, o Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, já definiu que as custas processuais têm natureza tributária. De uma maneira geral, as custas judiciais, aí incluídas a denominada taxa judiciária e as custas em sentido estrito, enquadram-se na categoria tributária de taxa. Isso porque são cobradas em razão de serviços (públicos) específicos, passíveis de quantificação e prestados a uma pessoa determinada[14], incorporando, assim, a natureza tributária evidenciada.
Bastante ilustrativo do posicionamento do STF é a seguinte ementa de acórdão da relatoria do Min. Celso de Mello, onde fica evidenciado que não somente as custas em sentido estrito têm natureza de taxa, mas também os emolumentos para remuneração dos serviços cartorários extrajudiciais:
«AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CUSTAS JUDICIAIS E EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS – NATUREZA TRIBUTÁRIA (TAXA) – DESTINAÇÃO PARCIAL DOS RECURSOS ORIUNDOS DA ARRECADAÇÃO DESSES VALORES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS – INADMISSIBILIDADE – VINCULAÇÃO DESSES MESMOS RECURSOS AO CUSTEIO DE ATIVIDADES DIVERSAS DAQUELAS CUJO EXERCÍCIO JUSTIFICOU A INSTITUIÇÃO DAS ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS EM REFERÊNCIA – DESCARACTERIZAÇÃO DA FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DA TAXA – RELEVÂNCIA JURÍDICA DO PEDIDO – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. NATUREZA JURÍDICA DAS CUSTAS JUDICIAIS E DOS EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS.
– A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que as custas judiciais e os emolumentos concernentes aos serviços notariais e registrais possuem natureza tributária, qualificando-se como taxas remuneratórias de serviços públicos, sujeitando-se, em conseqüência, quer no que concerne à sua instituição e majoração, quer no que se refere à sua exigibilidade, ao regime jurídico-constitucional pertinente a essa especial modalidade de tributo vinculado, notadamente aos princípios fundamentais que proclamam, dentre outras, as garantias essenciais (a) da reserva de competência impositiva, (b) da legalidade, (c) da isonomia e (d) da anterioridade. Precedentes. Doutrina. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS.
– A atividade notarial e registral, ainda que executada no âmbito de serventias extrajudiciais não oficializadas, constitui, em decorrência de sua própria natureza, função revestida de estatalidade, sujeitando-se, por isso mesmo, a um regime estrito de direito público. A possibilidade constitucional de a execução dos serviços notariais e de registro ser efetivada «em caráter privado, por delegação do poder público» (CF, art. 236), não descaracteriza a natureza essencialmente estatal dessas atividades de índole administrativa.
– As serventias extrajudiciais, instituídas pelo Poder Público para o desempenho de funções técnico-administrativas destinadas «a garantir a publicidade, a autenticidade, a segurança e a eficácia dos atos jurídicos» (Lei n. 8.935/94, art. 1º), constituem órgãos públicos titularizados por agentes que se qualificam, na perspectiva das relações que mantêm com o Estado, como típicos servidores públicos. Doutrina e Jurisprudência.
– DESTINAÇÃO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS A FINALIDADES INCOMPATÍVEIS COM A SUA NATUREZA TRIBUTÁRIA
. – Qualificando-se as custas judiciais e os emolumentos extrajudiciais como taxas (RTJ 141/430), nada pode justificar seja o produto de sua arrecadação afetado ao custeio de serviços públicos diversos daqueles a cuja remuneração tais valores se destinam especificamente (pois, nessa hipótese, a função constitucional da taxa – que é tributo vinculado – restaria descaracterizada) ou, então, à satisfação das necessidades financeiras ou à realização dos objetivos sociais de entidades meramente privadas. É que, em tal situação, subverter-se-ia a própria finalidade institucional do tributo, sem se mencionar o fato de que esse privilegiado (e inaceitável) tratamento dispensado a simples instituições particulares (Associação de Magistrados e Caixa de Assistência dos Advogados) importaria em evidente transgressão estatal ao postulado constitucional da igualdade. Precedentes.» (ADI-MC 1378, re. Min. Celso de Mello, j. 29.11.95, Tribunal Pleno, DJ 30.05.97)
Em outro julgamento do STF, o Ministro Moreira Alves, em voto proferido na condição de relator, fez referência especificamente à natureza tributária da taxa judiciária. Nesse julgamento, o eminente Ministro enfatizou a natureza e as características da taxa judiciária da seguinte forma:
«(…) Sendo – como já se salientou – a taxa judiciária, em face do atual sistema constitucional, taxa que serve de contraprestação à atuação de órgãos da justiça cujas despesas não sejam cobertas por custas e emolumentos, tem ela — como toda taxa com caráter de contraprestação — um limite, que é o custo da atividade do Estado, dirigido àquele contribuinte.» (Voto na Representação n. 1.077, de 28.03.1984)
E continuou o Ministro, fixando a ideia de que, por se tratar de tributo na modalidade taxa (e não imposto), deve haver na norma que estabelece o cálculo uma equivalência razoável entre o custo do serviço e a prestação cobrada, sob pena de transformá-la em verdadeiro imposto:
«(…) Por isso, taxas cujo montante se apura com base em valor do proveito do contribuinte (como é o caso do valor real do pedido), sobre a qual incide alíquota invariável, tem necessariamente de ter um limite, sob pena de se tornar, com relação às causas acima de determinado valor, indiscutivelmente exorbitante em face do custo real da atuação do Estado em favor do contribuinte. Isso se agrava em se tratando de taxa judiciária, tendo em vista que boa parte das despesas do Estado já são cobertas pelas custas e emolumentos. Não estabelecendo a lei este limite, e não podendo o Poder Judiciário estabelecê-lo, é de ser declarada a inconstitucionalidade do próprio mecanismo de aferição do valor, no caso concreto, da taxa judiciária, certo como é que conduzirá, sem dúvida alguma, a valores reais muito superiores aos custos a que servem de contraprestação. A falta desse limite torna incompatível o próprio modo de calcular o valor concreto da taxa com a natureza remuneratória desta, transformando-a, na realidade, num verdadeiro imposto. (Rp. 1.077, Relator: Min. Moreira Alves, RTJ 112:34 (58,59) ) – Mendes, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: estudos de direito constitucional – 2. Ed. Ver. E ampl. – São Paulo: Celso Bastos Editor: Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 1999.
A principal consequência decorrente da natureza tributária verificada para as custas judiciais, como bem observam os arestos transcritos, é sua sujeição ao regime jurídico-constitucional próprio dos tributos, em especial no que concerne ao princípio da legalidade. A instituição, majoração ou exigência das custas processuais somente pode ser realizada através de lei em sentido formal, como previsto no art. 150, I, da CF[15]. Como as custas processuais possuem natureza de taxa a serem suportadas pelas partes litigantes, só podem ser instituídas, aumentadas, reduzidas e extintas por meio de Lei, dado o princípio constitucional da reserva legal.
4. Exigência de custas na fase de cumprimento de sentença
Em muitos Estados da Federação, as repartições judiciárias estão exigindo o pagamento de custas processuais como condição para dar prosseguimento à fase de cumprimento de sentença nos processos cíveis. Esse tipo de exigência geralmente é veiculada em normas de estatura infra-legal, editadas pelos próprios tribunais (resoluções, provimentos, portarias e instruções de serviço), sem, portanto, passarem pelo crivo do Legislativo, o que nos parece um grande equívoco, tendo em vista o que já foi exposto quanto à natureza tributária desse tipo de verba destinada a remunerar o serviço cartorário judicial, bem como em razão da alteração processual promovida pela Lei n. 11.232/05.
Como se sabe, a partir da edição dessa Lei, a execução de sentença cível de cunho condenatório passou a ser realizada no mesmo processo (de conhecimento) onde foi gerado o título executivo e produzidos todos os atos judiciais anteriores a ele, sem necessidade de instauração de uma nova relação jurídico-processual. Antes, a execução da sentença era promovida através da formação de um novo processo, onde se realizavam os atos eminentemente executórios (penhora, avaliação e alienação de bens). Por isso, se admitia novamente o pagamento de custas, para fazer frente às despesas relativas à formação, propulsão e terminação do novo processo. Já agora, diante da unificação procedimental, os atos executórios se desenvolvem em sequência aos atos anteriores (de cognição), dentro do mesmo processo originariamente formado. Não há sentido, portanto, cobrar custas de forma repetida no mesmo processo, ainda que em fases distintas.
Luiz Rodrigues Wambier, ao analisar as diferenças da execução de título judicial em relação à sistemática anterior à Lei 11.232/2005, já destacava a incongruência da cobrança de novas custas processuais para se iniciar a fase de cumprimento de sentença, nesses termos:
«Em razão das alterações da Lei 11.232/2005, a sentença condenatória, antes executada necessariamente em outro processo, subseqüente ao de conhecimento, passa a ser executada na mesma relação jurídica processual. O primeiro destaque, portanto, da nova regra, é a unificação procedimental entre a ação condenatória e a ação de execução.
A primeira alteração estrutural relevante, decorrente do art. 475-J do CPC, está na eliminação da separação entre processo de conhecimento e de execução, já que as atividades voltadas à condenação e à execução passam a ocorrer no mesmo processo.
Conseqüentemente, como as atividades jurisdicionais correspondentes a estas ações realizam-se na mesma relação jurídico-processual, não mais se justifica a cobrança de custas para a execução da sentença, sendo desnecessária, também, nova citação do réu/executado»[16].
Realmente, se as custas para impulsionamento já são cobradas no início do processo (de conhecimento), e considerando que a execução da sentença se faz no bojo do mesmo processo, não há sentido em cobrá-las de forma cumulativa. Uma vez assentado que as custas em sentido estrito compreendem aquela parte das despesas processuais relativas à formação, propulsão e terminação do processo, não há qualquer razão para que sejam exigidas novamente quando o processo ainda encontra-se tramitando. Se não há distribuição de uma nova demanda, prosseguindo-se no mesmo processo, não são geradas novas despesas a serem custeadas por um novo depósito. As despesas iniciais do processo (como os atos de distribuição, citação e outras providências) já foram cobertas quando do pagamento das custas no ato de ajuizamento.
Ademais, o que inspirou o legislador, ao editar a Lei n. 11.232/05, foi a necessidade de tornar o processo de execução mais célere, facilitando a satisfação do crédito já reconhecido no título (sentença). Exigir que, para iniciar a fase de execução do processo (cumprimento de sentença), o credor seja obrigado a pagar custas em duplicidade, evidentemente contraria o propósito do legislador. A cobrança de novas custas serviria como obstáculo à obtenção do crédito.
Parte da jurisprudência reconhece que, não havendo a distribuição de uma nova demanda – já que a execução agora se faz nos próprios autos – e para evitar embaraços à satisfação do direito garantido no título judicial, não se deve cobrar novamente custas por ocasião da fase de cumprimento de sentença, como revelam os arestos abaixo:
«AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ALTERADO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE NOVA DEMANDA.
Diante das alterações ocorridas na lei processual civil, o procedimento para a satisfação do direito já reconhecido tornou-se mais célere, deixando de existir um processo autônomo, passando a figurar o cumprimento de sentença, em que não há a necessidade de ajuizamento de nova demanda, razão porque se revela despropositada a exigência de recolhimento prévio das custas processuais. (Agravo de Instrumento n,º 715.516-0, 2ª. Vara Cível do Foro Central de Curitiba, pub. 07.12.10)
«AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A ANTECIPAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOVA SISTEMÁTICA PROCESSUAL TRAZIDA PELA LEI 11.232.2005. INOCORRÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE NOVO PROCESSO. INEXIGIBILIDADE DO ADIANTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PROVIDO
«[…] em que pesem as razões de convencimento do juízo a quo, as alterações do Código de Processo Civil, levadas a cabo pela Lei 11.232/2005, pelas quais se eliminou o processo autônomo de Execução, passando o Cumprimento de Sentença a ser uma fase dos próprios autos de conhecimento, denota a inexigibilidade da antecipação de novas custas no mesmo processo; o que, inclusive tem sido reiteradamente firmado pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios […].» (Ac. un. nº 15476, da 11ª CC do TJPR, no Ag. de Instr. nº 637.778-2, de Curitiba, Rel. Des. Mendonça de Anunciação, in DJ de 16/03/2010)
A jurisprudência acima transcrita assenta-se em premissa lógica, de que, se a execução passou a integrar o processo de conhecimento, é descabido o pagamento de novas custas processuais. Mas o maior impedimento à cobrança de custas na fase de cumprimento resulta mesmo da natureza tributária das custas processuais. Como elas constituem espécie tributária, na modalidade taxa, a sua incidência pressupõe expressa previsão legal. Isso em razão da sujeição ao princípio da legalidade (art. 150, I, da CF), que impede a exigência de tributo sem lei que o autorize. Assim, a cobrança na fase de cumprimento de sentença exigiria que a Lei de Custas respectiva previsse expressamente que, pelos atos adicionais realizados nesse momento processual, fossem devidas custas para remunerar os serviços judiciários. Não havendo tal previsão, a cobrança de custas nessa fase viola garantia constitucional.
Parcela significativa da jurisprudência nacional também observa na natureza tributária das custas processuais impedimento à sua cobrança na fase do cumprimento de sentença, não havendo lei expressa permitindo a exigência:
«AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 2. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não é suficiente a alegação genérica do excesso de execução, cabendo a parte demonstrar de maneira clara e precisa qual seria o suposto excesso.
2. A execução passou a integrar a ação de conhecimento, sendo descabido o pagamento de custas processuais, por estas se constituírem em espécie tributária, na modalidade taxa, a qual necessita de expressa previsão legal para sua incidência.
3. (…) » (Ac. un. nº 35.197, da 4ª CC do TJPR, no Ag. de Instr. nº 574.936-2, de Curitiba, Rel.ª Des.ª Regina Afonso Portes, in DJ de 14/09/2009)
«PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO RECURSO ADEQUADO. CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. ADVENTO DA LEI 11.232/05. EXTINÇÃO DO PROCESSO AUTÔNOMO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. MERA ETAPA COMPLEMENTAR DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Sem extinção do processo, é adequado o recurso de agravo de instrumento em face de decisão proferida na fase de cumprimento de sentença. Em face da natureza tributária das custas processuais, é indispensável a existência de lei expressa autorizando a cobrança, donde a ilicitude de ser feita mediante analogia. (AI 7085094-PR, rel. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, j. 25.11.10, 10ª Câmara Cível)
«Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Mera etapa do processo de conhecimento. Natureza tributária das custas. Ausência de previsão legal expressa. Impossibilidade de execução da Instrução Normativa nº 05/2008. Inexigibilidade de custas processuais. Reforma do decisum. Recurso provido. «As custas judiciais, devido a sua natureza tributária, para serem cobradas no cumprimento de sentença, necessitam de lei que preveja sua incidência.» (TJPR, Ag. Instrumento nº 387.106-5, 8ª Câmara Cível, Rel. Des. Macedo Pacheco, 05/07/2007). (AI 7451912-PR, rel. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, j. 07/04/2011, 10ª Câmara Cível)»
5. Cobrança de custas no cumprimento de sentença autorizada em norma infralegal
Como ficou esclarecido antes, inexiste justificativa para cobrança de custas, na fase de cumprimento de sentença, já que não há distribuição de uma nova demanda; somente se houvesse a necessidade de um novo processo para a realização dos atos executórios – como ocorria no regime anterior – era que se legitimaria a cobrança de custas para formação e propulsão do novo processo. O pagamento de custas não é mais devido tendo em vista que não mais existe fato gerador que justifique o preparo, uma vez que os atos executórios se realizam no leito dos autos (processo de conhecimento) já anteriormente formados.
Mesmo diante dessa conclusão evidente, muitos tribunais estaduais, provavelmente temerosos da perda de receita, editaram normas infralegais prevendo o recolhimento de custas na fase de cumprimento de sentença. É o caso por exemplo dos Estados do Paraná[17], Mato Grosso do Sul[18], Maranhão[19] e Pernambuco[20], onde as Corregedorias Gerais baixaram instruções e provimentos estabelecendo a cobrança de custas para essa hipótese.
A superveniência dessas instruções e provimentos decorrentes do poder normativo dos órgãos judiciários sofreu influência da decisão do Conselheiro Rui Stoco, do CNJ, que ao apreciar o PCA n. 200810000007747, manteve provimento que previa a cobrança de custas no cumprimento de sentença. Ao fundamentar sua decisão, publicada em abril de 2008, o Conselheiro observou que, apesar das alterações introduzidas pela Lei 11.232/05, os procedimentos e atos de execução, mesmo não se configurando novo processo, continuaram gerando despesas. «Em outras palavras, os atos necessários à execução ou cumprimento da sentença permanecem demandando dispêndios, quer sejam realizados em um processo autônomo, quer ocorram na fase final do processo de conhecimento, o que justifica a cobrança das custas processuais», salientou o conselheiro na decisão. Ele completou seu raciocínio afirmando que «inexistindo vedação legal e havendo despesas na execução das sentenças que, por certo, devem ser ressarcidas, legal a cobrança de custas no caso de cumprimento de sentença».
Essa decisão, todavia, não leva em consideração que nem sempre o cumprimento de sentença é feito de forma forçada. O devedor, uma vez intimado, pode providenciar o pagamento da dívida voluntariamente, sem necessidade de utilização de qualquer meio ou diligência expropriatória, o que revela o descabimento de cobrança de custas nessa fase.
Mesmo para os casos em que o devedor não cumpre voluntariamente sua obrigação, a decisão do CNJ deve ser interpretada de forma menos abrangente. O equívoco dela talvez consista em ter empregado o conceito de custas em sentido amplo, abrangendo qualquer forma de custeio para a prática de atos processuais. O Conselheiro tem razão quando lembra que a circunstância de a atividade executiva ter sido deslocada (conceitualmente) para o interior do processo de conhecimento (por força da Lei 11.232/05), não elimina certas despesas que são inerentes aos atos executórios. Por exemplo, na fase executiva pode haver necessidade de remunerar avaliador ou ressarcir Oficial de Justiça por diligências realizadas. Mas essas despesas, se ocorrentes, não estão abrangidas no conceito de custas nem justifica a exigência desse tipo de exação, que, conforme já verificamos, tem natureza tributária (na modalidade de taxa). As despesas processuais adicionais da fase executiva, que retratam a remuneração de terceiros atuando em colaboração com o aparelho judiciário, não se confundem com aquelas referentes ao andamento do processo. Como despesas processuais de natureza diversa (a teor do § 2º. do art. 20 do CPC)[21], devem ser cobradas na forma do art. 19 do CPC, ou seja, por ocasião de cada ato processual, antecipadas pela parte que requereu sua realização (§ 1º.)[22], jamais a título de custas processuais, que pressupõem o fato gerador da instauração e propulsão da demanda, com previsão em lei específica.
Em caso julgado pelo Tribunal de Justiça de Goiás[23], o relator, Des. Geraldo Gonçalves, esclareceu que, mesmo após a reforma processual, a necessidade de custeio dos atos executivos, que são complementares à jurisdição realizada no processo de conhecimento, «subsiste e subsistirá sempre, pois os procedimentos de liquidação e execução constituem incidentes processuais indispensáveis e complementares à entrega da prestação jurisdicional». Lembrou que, mesmo na execução de sentença, pode haver atos postulatórios, expedição de mandados de penhora e avaliação, preparo de recursos e despesas com depósitos da coisa penhorada. Mas diferencia o fundamento para a cobrança das despesas geradas com a realização desses atos suplementares, ao dizer: «o que não existe são novas custas segundo o valor da causa, porque estas foram adiantadas na proposição da ação. Todavia, os atos seguintes, decorrentes da liquidação, quando necessária, e do cumprimento da sentença condenatória em quantia certa, são devidos e cobráveis na forma do artigo 19 do Código de Processo Civil». Ao final do seu voto, concluiu o Desembargador:
«Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto e lhe dou provimento, para reformar a decisão agravada, dela excluindo a expressão «recolhimento das custas,» na fase de execução, para determinar apenas e tão-somente o pagamento das despesas e emolumentos necessários à efetivação do cumprimento da sentença, tais como as destinadas à locomoção de Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de penhora e avaliação, bem como as despesas com a realização de exame pericial, se for o caso, e de postagem no correio, extrações de cópias e certidões, inclusive junto aos ofícios extrajudiciais, reportando-me ao que já foi liminarmente decidido na decisão de fls. 192/195, reformar a decisão agravada» (grifo nosso).
O julgado em referência porta a seguinte ementa:
«AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS – LEGALIDADE DO PROVIMENTO Nº 04/2007 – ISENÇÃO DE CUSTAS – LEI Nº 14.376/2002. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Só a Lei pode conceder isenção de Custas e Provimento não é Lei – O Provimento nº 04/2007 não contraria a lei e revogou o de nº 013/2006 por invasão de competência. 2 – Os processos de liquidação e execução não foram extintos portanto os atos deles decorrentes geram despesas cujo adiantamento é previsto no art. 19 do CPC. 3 – O cumprimento da sentença se faz através da execução quando se tratar de obrigação por quantia certa ou já liquidada (art. 475-I do CPC) e outra ilação não se pode tirar se não que os atos complementares e indispensáveis à entrega definitiva da prestação jurisdicional devem ser custeados e adiantadas as despesas pela parte que os requerer ao teor do artigo 19 do Código de Processo Civil. 4 – A inexistência, até o momento, de jurisprudência dominante dos Tribunais superiores sobre a matéria, não constitui impecílio para se reconhecer a legalidade da exigência de adiantamento das despesas dos atos necessários ao cumprimento da sentença, sob pena de se tornar inócua a decisão. 5 – O presente recurso deve ser parcialmente provido, para modificar, em parte, a decisão agravada, dela excluindo a expressão «recolhimento das custas», para determinar apenas e tão-somente o pagamento das despesas e emolumentos necessários à efetivação do cumprimento da sentença. 6 – É importante ressaltar que não se tratam de «custas iniciais» da execução, mas, tão-somente, de pagamento de despesas para o cumprimento da sentença. 7 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte» (TJGO, 3ª. Câmara Cível, Agravo de Instrumento n. 70.287-9/180 (200805949130), rel. Des. Geraldo Gonçalves da Costa).
Como se observa, não é admissível pagamento de «custas iniciais» do cumprimento de sentença, podendo, haver, isso sim, durante essa fase do procedimento (execução), atos que geram despesas e que são suportadas pela parte que os requer, no momento da realização de cada um deles (na forma do art. 19 e seu § 1º., do CPC). O simples impulsionamento do feito nessa fase é tarefa cartorial básica remunerada pelas custas já pagas no início do processo.
Mesmo que se considere que a decisão do CNJ autoriza a exigência de custas processuais stricto sensu na fase de execução (cumprimento de sentença), é de se ressaltar que a cobrança só pode ser implementada pela via legal, nunca através de simples resolução (portaria, provimento ou instrução de serviço) do órgão judiciário. A arrecadação das custas, por sua natureza tributária (na modalidade taxa), sujeita-se às limitações ao poder estatal de tributar estabelecidas na Constituição Federal, em especial ao princípio da legalidade, que impede a instituição de tributos sem lei que a autorize (art. 150, I, da CF). É dizer: exige-se lei em sentido formal, oriunda do legislativo, estabelecendo o fato gerador da cobrança do tributo. Resoluções e provimentos das Corregedorias de Justiça dos Estados constituem «atos normativos não legislativos», de caráter geralmente regulamentar, que expressam uma manifestação de vontade (público-administrativa) sempre fundada em reserva de norma, insuficientes, portanto, para a criação e exigência de taxa (tributo).
Nesse sentido, o pagamento de custas ao início da fase de cumprimento de sentença pode até ser exigido, mas, para tanto, os órgãos do Poder Judiciário têm que promover a alteração de suas vetustas Leis de Custas, enviando projeto de lei ao legislativo para ser votado e, assim, legitimada a cobrança. Sem essa providência, qualquer tentativa de cobrança de custas, por meio de qualquer ato que não o expresso em lei votada pelo poder legislativo, revela-se inconstitucional, por ofensa ao preceito contido no art. 150, I, da CF.
Por outro lado, não se pode fazer analogia com a situação de exigência de custas no processo de execução por título extra-judicial, para justificar a cobrança também na fase de cumprimento de sentença. Há quem enxergue similitude em ambas as situações, já que o cumprimento de sentença se faz por execução (art. 475-I do CPC)[24]. Com efeito, a execução da sentença envolve os mesmos tipos de atos executivos que a execução de um título extra-judicial (penhora, avaliação e alienação), apenas com a diferença que uma se desenvolve em processo autônomo e, a outra, nos próprios autos do processo original (de conhecimento). Através da analogia, portanto, a norma tributária (Lei de Custas) que prevê a cobrança de custas no processo de execução (de título extrajudicial) poderia ser estendida para incluir em seu campo de aplicação a fase de cumprimento de sentença, situação não prevista expressamente pela norma, mas que, dada a similitude com a hipótese regulada, considerar-se-ia nela incluída. Esse tipo de raciocínio, no entanto, violaria o princípio da reserva legal.
Em matéria tributária, é vedado o recurso à analogia para exigência de tributos. A proibição da interpretação analógica decorre do fato de que a obrigação tributária é ex lege; assim, não se pode exigir tributo com fundamento na analogia, sob pena de violar o princípio da legalidade. Esse princípio impede o uso da analogia para ampliar os limites do fato gerador ou dos outros elementos essenciais ou estruturais do tributo (sujeitos, alíquotas, isenções etc.), por serem matéria de reserva da lei. A proibição da interpretação analógica da legislação tributária, para essa hipótese, está insculpida no parágrafo 1º. do art. 108 do CTN, que estabelece que «o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei»[25].
Como as custas processuais constituem tipo tributário (na modalidade taxa), sua cobrança requer prévia lei que estabeleça o fato gerador, que não pode ser ampliado por analogia com outra situação ou fato processual. A reserva de lei formal refere-se a todos os aspectos essenciais do tributo, mas principalmente em relação ao fato gerador[26]. Assim, se uma determinada Lei (de Custas) prevê a exigência de custas processuais pela instauração de processo executivo, não pode o intérprete ou aplicador da norma estender a cobrança para a hipótese de mero início de fase procedimental (cumprimento de sentença), sob pena de utilizar a analogia em violação ao princípio da legalidade tributária, insculpido no art. 150, I, da CF. A analogia, nesse caso, estaria sendo empregada como método ou processo ampliativo da letra da lei, contrariamente à segurança jurídica que deve imperar em assuntos de natureza tributária, por força do princípio da legalidade estrita. Somente por meio de outra lei, alterando ou ampliando o alcance da lei original, é que se poderia instituir a cobrança de custas também para a hipótese do início do cumprimento de sentença. Isso porque «a segurança jurídica requer lei formal, ou seja, exige que aquele comando que cria a exação, além de abstrato, geral e impessoal (reserva de lei material), ao elaborar a norma jurídica tributária (hipótese de incidência, sujeitos ativo e passivo, bases de cálculo, alíquotas), seja formulado por órgão titular de função legislativa (reserva de lei formal)»[27].
Em geral, as Leis de Custas da Justiça dos Estados proíbem a utilização da analogia para a ampliação do descritor normativo do fato gerador do tributo[28]. Se a lei define como fato gerador das custas processuais, a instauração de processo executivo, não pode o órgão do Poder Judiciário, através de normas infra-legais (portarias, provimentos, instruções, resoluções) ampliá-lo para alcançar também a fase de cumprimento de sentença – que não implica na instauração, como já vimos, de um novo processo.
6. Impugnação ao cumprimento de sentença
Já no que diz respeito à impugnação ao cumprimento de sentença, é imperiosa a cobrança de custas. Em primeiro lugar, a cobrança deve permanecer para harmonizar o atual meio de defesa do executado com o espírito da reforma processual promovida pela Lei n. 11.232/05, a qual objetivou imprimir maior celeridade à execução e, por conseguinte, facilitar a satisfação do crédito consignado no título sentencial. Com esse desiderato, a Lei eliminou vários atos processuais que emperravam o andamento da execução, restringiu as matérias que podem ser alegadas como defesa (na impugnação), extinguiu o efeito suspensivo como regra geral da defesa do executado, dentre outras providências implantadas em benefício do credor. Nesse sentido, pode-se dizer que as mudanças foram direcionadas para, atribuindo maior efetividade à execução de sentença, beneficiar unicamente o credor (vencedor da demanda na fase de conhecimento do processo). Liberar-se o devedor de pagar custas pela distribuição da peça de impugnação ao cumprimento de sentença, comprometeria a diretriz da reforma processual. Se antes da Lei n. 11.232/05, o executado exercia sua defesa através dos embargos (à execução), e pagava as custas correspondentes, não se pode livrá-lo de pagar custas ao impugnar a execução da sentença, pois essa circunstância implicaria em beneficiá-lo em detrimento do credor, desvirtuando o espírito da reforma e comprometendo seus resultados em termos de agilização da prestação jurisdicional. O pagamento de custas na impugnação funciona como um desestímulo à resistência ao comando sentencial, induzindo ao cumprimento voluntário da obrigação. Isentar o devedor de pagar custas para exercer sua defesa processual, deixando-o livre de qualquer ônus financeiro, incentivaria o prolongamento da execução, com sérias conseqüências para a celeridade da prestação jurisdicional, já que a parte executada vai sempre impugnar o cumprimento da sentença se não tiver que desembolsar custas antecipadamente.
Mas o argumento ainda de maior peso para justificar a cobrança de custas é a constatação de que a impugnação ao cumprimento de sentença constitui um incidente processual. Como se sabe, existe uma divergência quanto à natureza jurídica do instituto da impugnação ao cumprimento de sentença, com alguns autores sustentando que se trata de verdadeira ação autônoma, enquanto outros defendem que equivale a uma defesa incidental. O certo, porém, é que não se pode negar que a impugnação gera um incidente processual (tanto que é autuada em autos apartados)[29] e, como tal, importa na condenação do vencido no pagamento das despesas processuais, tal como estabelece o parágrafo 1º. do art. 20 do CPC, verbis:
«O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido» (grifos nossos).
Em função da expressa previsão no estatuto processual, no sentido de que o sucumbente em qualquer incidente deverá suportar as consequências financeiras do seu insucesso, não pode haver dúvidas quanto à ocorrência de custas processuais quando o devedor ingressa com impugnação ao cumprimento de sentença, conforme explica Flávia Pereira Ribeiro[30]:
«Tanto os doutrinadores que entendem tratar-se de ação, como é o caso de Araken de Assis[31], quanto os que sustentam tratar-se de defesa incidental, como Fred Didier[32], como aqueles outros que opinam pela natureza condicionada à matéria alegada na impugnação, como Teresa Wambier[33], concordam que o vencido responderá pelas despesas incorridas na impugnação. Isso porque, independentemente da natureza jurídica da impugnação que se entender, é certo que será tido por incidente processual, considerado como questões surgidas no curso do processo, mas que estão dependentes ou ligadas ao principal como coisa acessória» (grifos nossos).
A obrigação do pagamento de custas, em face do caráter incidental da impugnação ao cumprimento de sentença, também é reconhecida em sede jurisprudencial, conforme demonstram os seguintes arestos:
«DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RENDIMENTOS DE CONTA POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE. A Impugnação ao cumprimento de sentença, por se tratar de incidente procedimental, passível mesmo de autuação em apartado (§ 2º do art. 475-M, do Código de Processo Civil), está sujeita ao pagamento de custas, conforme dispõe o § 1º, art. 20, do CPC e o Regimento de Custas dos Atos Judiciais (Tabela IX). 2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO». (TJPR – 5ª CCv. – AI 0511196-8 – Foro Central da Região Metropolitana de Curitiba – Rel. Des. Leonel Cunha – Unanime – j. 30.09.2008).
«AGRAVO – PAGAMENTO DE CUSTAS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. (…) 2. No Estado do Paraná é exigido o pagamento de custas na fase executória (Lei Estadual n.º 13.611/2002 e Lei n.º 6.149/1970, que regulamenta o Regimento de Custas dos atos judiciais no Estado do Paraná) e, pela natureza incidental da impugnação ao cumprimento de sentença, as custas devem ser preparadas». (TJPR – 4ª CCv. – A 0493329-7/01 – Foro Central da Região Metropolitana de Curitiba – Rel. Des. Salvatore Antonio Astuti – Unanime – J. 09.09.2008).
Em outro julgado, o relator, Des. Luiz Mateus de Lima, destaca que se trata de incidente que comporta inclusive instrução, o que reforça a idéia de cabimento da cobrança de custas na impugnação ao cumprimento de sentença:
«DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANOS BRESSER E VERÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE RENDIMENTO EM CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INCIDENTE PROCESSUAL SUJEITO AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A impugnação a cumprimento de sentença, por se tratar de incidente procedimental que comporta instrução, passível de autuação em apartado, comporta pagamento de custas, ainda mais de acordo com o artigo 20, § 1º, do Código de Processo Civil, bem como com a Tabela IX, do Regimento de Custas dos Atos Judiciais». (TJPR – 5ª CCv. – AI 567968-3 – Rel. Des. LUIZ MATEUS DE LIMA – j. 12.3.09).
Como se observa, mesmo que se entenda que a impugnação não tem a natureza de ação autônoma, ainda assim gera a obrigação do pagamento das despesas (custas) respectivas. Se agora, diferentemente do que ocorria antes da entrada em vigor da Lei n. 11.232/05, a defesa processual do devedor na execução de sentença não mais se veicula através de uma ação autônoma e independente (como eram os embargos à execução), o caráter incidental da impugnação justifica o pagamento de custas processuais. Se o fato gerador do tributo (taxa) não é propriamente o ato de «distribuição» de uma (nova) ação, ainda assim um serviço judiciário adicional continua a ser prestado. Em regra, a impugnação é autuada em autos apartados, apensos ao processo principal (§ 2º. do art. 475-M do CPC). A cobrança de custas serve, assim, para remunerar o trabalho cartorário de formação dos autos do incidente processual.
Uma ressalva é de ser feita, quanto ao valor ou base de cálculo para cobrança das custas processuais na impugnação. Elas não devem ser cobradas no mesmo valor das que são exigidas para os embargos à execução. Embora sejam institutos análogos, ambos representando a defesa processual do devedor na execução (sendo um na execução de título extrajudicial e o outro na execução de sentença), sabe-se que não se pode valer da analogia (paridade ou qualquer outro fundamento) para exigir tributo não expressamente previsto na lei instituidora. As custas, portanto, devem ser cotadas como os incidentes procedimentais em geral, obedecendo as mesmas faixas de valores previstas para eles.
7. Conclusões:
1- Em sentido estrito, as custas processuais não se confudem com as despesas processuais. As custas «compreendem aquela parte das despesas relativas à formação, propulsão e terminação do processo e são disciplinadas em lei». Por seu turno, as despesas processuais referem-se ao custeio de atos não abrangidos pela atividade cartorial, realizados por terceiros em colaboração com o aparelho judiciário, a exemplo dos honorários de perito, da remuneração de tradutor, intérprete, avaliador ou depositário e ressarcimento de diligências promovidas por Oficial de Justiça.
2- Não se pode cobrar novas custas processuais para se iniciar a fase de cumprimento de sentença. Por força da unificação procedimental promovida pela Lei 11.232/2005, os atos executórios se desenvolvem em sequência aos atos anteriores (de cognição), dentro do mesmo processo originariamente formado. Não há sentido, portanto, cobrar custas de forma repetida no mesmo processo, ainda que em fases distintas. Uma vez assentado que as custas em sentido estrito compreendem aquela parte das despesas processuais relativas à formação, propulsão e terminação do processo, não há qualquer razão para que sejam exigidas novamente quando o processo ainda encontra-se tramitando. Se não há distribuição de uma nova demanda, prosseguindo-se no mesmo processo, não são geradas novas despesas a serem custeadas por um novo depósito. As despesas iniciais do processo (como os atos de distribuição, citação e outras providências) já foram cobertas quando do pagamento das custas no ato de ajuizamento.
3- As despesas processuais adicionais da fase executiva, que retratam a remuneração de terceiros atuando em colaboração com o aparelho judiciário, não se confundem com aquelas referentes ao andamento do processo. Como despesas processuais de natureza diversa (a teor do § 2º. do art. 20 do CPC), devem ser cobradas na forma do art. 19 do CPC, ou seja, por ocasião de cada ato processual, antecipadas pela parte que requereu sua realização (§ 1º.), jamais a título de custas processuais, que pressupõem o fato gerador da instauração e propulsão da demanda, com previsão em lei específica.
4- As custas processuais têm natureza tributária, na modalidade de taxa, daí que se sujeitam ao princípio da legalidade, no sentido de que só podem ser instituídas ou aumentadas por meio de lei em sentido formal (art. 150, I, da CF). Por essa razão, a sua cobrança na fase de execução (cumprimento de sentença) só pode ser implementada pela via legal, nunca através de simples ato normativo (resolução, portaria, provimento ou instrução de serviço) do órgão judiciário.
5- Em função da expressa previsão no estatuto processual (parágrafo 1º. do art. 20 do CPC), no sentido de que o sucumbente em qualquer incidente deverá suportar as consequências financeiras do seu insucesso, não pode haver dúvidas quanto à ocorrência de custas processuais quando o devedor ingressa com impugnação ao cumprimento de sentença. As custas, nessa hipótese, não devem ser cobradas no mesmo valor das que são exigidas para os embargos à execução, pois devem ser cotadas como os incidentes procedimentais em geral, obedecendo as mesmas faixas de valores previstas para eles.
6- Liberar-se o devedor de pagar custas pela distribuição da peça de impugnação ao cumprimento de sentença, comprometeria a diretriz da reforma processual implementada pela Lei n. 11.232/05, a qual, atribuindo maior efetividade à execução de sentença, teve por escopo beneficiar unicamente o credor (vencedor da demanda na fase de conhecimento do processo). O pagamento de custas na impugnação funciona como um desestímulo à resistência ao comando sentencial, induzindo ao cumprimento voluntário da obrigação. Isentar o devedor desse ônus financeiro incentivaria o prolongamento da execução, com sérias conseqüências para a celeridade da prestação jurisdicional, já que a parte executada vai sempre impugnar o cumprimento da sentença se não tiver que desembolsar custas antecipadamente.
[1] Como bem esclareceu o então Ministro de Estado da Justiça, Marcio Thomaz Bastos, na Exposição de Motivos que precedeu o projeto que deu origem à Lei nº 11.232/2005:
«A ‘efetivação’ forçada da sentença condenatória será feita como etapa final do processo de conhecimento, após um ‘tempus iudicatti’, sem necessidade de um ‘processo autônomo’ de execução (afastam-se os princípios teóricos em homenagem à eficiência e brevidade); processo ‘sincrético’, no dizer de autorizado processualista. Assim, no plano doutrinário são alteradas as ‘cargas de eficácia’ da sentença condenatória, cuja ‘executividade’ passa a um primeiro plano; em decorrência, ‘sentença’ passa a ser o ato ‘de julgamento da causa, com ou sem apreciação de mérito».
[2] Salvo quando condenada a Fazenda Pública,
[3] A Constituição estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º., inc. LXXIV, da CF). Por sua vez, a Lei 1.060/50 também assegura aos necessitados o benefício da assistência judiciária.
[4] NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito Processual do Trabalho. pág. 364.
[5] NUNES, Pedro dos Reis. Dicionário de Tecnologia Jurídica. pág. 286. Apud Ricardo Luiz Alves. As custas processuais no Direito do Trabalho. Artigo publicado pela FISCOSoft, em 15.10.04. Acessível em: <www.fiscosoft.com.br>.
[6] A Lei n. 9.289, de 04 de julho de 1996, dispõe sobre as custas na Justiça Federal de primeiro e segundo graus.
[7]Art. 24 da CF: «Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
IV – custas dos serviços forenses;»
[8] A Taxa Judiciária incide sobre os serviços de atuação dos magistrados (ou dos membros do Ministério Público), em qualquer procedimento judicial, e será devida, conforme o caso, por aqueles que recorrem à Justiça Estadual, perante qualquer juízo ou Tribunal, pelo interessado na prática do ato. No Estado de Pernambuco existe lei específica disciplinando a cobrança da taxa judiciária (Lei 10.852, de 29/12/1992), que prevê como fato gerador a «prática de atos judiciais» (art. 1º.). A base de cálculo está estabelecida no seu art. 2º., que dispõe que a Taxa Judiciária é calculada no percentual de 1% sobre o valor atribuído à causa, com a seguinte redação:
«Art. 2º – A Taxa Judiciária será devida pela utilização dos serviços relacionados nesse artigo, sendo o seu valor fixado da seguinte forma:
I – nos feitos contenciosos, inclusive especiais, 1,0 % (hum por cento) do valor da causa»
[9] Cf. Suelene Cock Corrêa Carraro, em «Despesas e Multas Processuais», artigo publicado no site Pesquise Direito. <www.pesquisedireito.com.br>. Acesso em 08.03.12
[10] AC 2004.33.00.014107-7/BA, Rel. Desembargador Federal Catão Alves, Sétima Turma,e-DJF1 p.255 de 13/03/2009.
[11] STJ-2ª. T., REsp 449.123, rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.02, DJU 10.3.03.
[12] É o que concluiu acórdão que mandou incluir, em ação de despejo julgada procedente, as despesas realizadas pelo locador com a remoção dos bens do locatário despejado (RT 621/168).
[13] Já a citação postal constitui ato processual abrangido no conceito de custas processuais. Precedentes: ERESP 464586 / RS, 1ª S., Min. Teori Albino Zavascki, DJ 18.04.2005; EREsp 453792/RS; 1ª S., Min. José Delgado, DJ 24.10.2005; EREsp 463192/RS; 1ª S., Min. Luiz Fux, DJ de 03.10.2005.
[14] O inc. II do art. 145 da Constituição Federal oferece o conceito técnico-jurídico das taxas, conforme segue:
«Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
II – taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
[15] Esse dispositivo incorpora ao texto constitucional o princípio da estrita legalidade em matéria tributária, ao estabelecer vedação para criação e majoração de tributos sem ser através de lei, nesses termos:
«Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;»
[16] Em Algumas considerações sobre o cumprimento da sentença que determina o pagamento de quantia em dinheiro, de acordo com a Lei n. 11.232/05, artigo publicado na revista eletrônica «Migalhas».
[17] A Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná publicou a Instrução Normativa n. 5/2008, de 8 de dezembro de 2008, estabelecendo a cobrança de custas na fase de cumprimento de sentença.
[18] A Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul editou o Provimento n. 16, de 20 de outubro de 2006, modificou o art. 102 do seu Código de Normas, para estabelecer que a petição de cumprimento de sentença tem que estar acompanhada de comprovante de recolhimento do preparo.
[19] O Estado do Maranhão não cobrava custas no cumprimento de sentença, de acordo com o Provimento n. 10/2007. Todavia, depois dos pronunciamentos do CNJ, passou a cobrar. A Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Maranhão fez publicar o Provimento n. 12/2009-CGJ, de 25 de maio de 2009, dispondo sobre a cobrança de custas na fase de cumprimento de sentença e revogando o anterior Provimento n. 10/2007.
[20] Em Pernambuco, a Instrução de Serviço Conjunta n. 02, de 25.11.2008, publicada no DOPJ de 09.01.2009, assinada pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco e pelo Corregedor-Geral da Justiça do Estado, que, visando a instituir nos sistemas informatizados do TJPE as tabelas unificadas de classes, assuntos e movimentação processuais, acabou também por exigir o pagamento de custas na fase de cumprimento de sentença (art. 17, § 2º.).
[21] O Código de Processo Civil faz a distinção entre despesas processuais e custas processuais, no § 2º. do art. 20, verbis:
«§ 2º. As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração de assistente técnico».
[22] O art. 19 do CPC tem a seguinte redação:
«Art. 19. Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, cabe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final; e bem ainda, na execução, até plena satisfação do direito declarado pela sentença.
§ 1º. O pagamento de que trata este artigo será feito por ocasião de cada ato processual.»
[23] TJGO, 3ª. Câmara Cível, Agravo de Instrumento n. 70.287-9/180 (200805949130), rel. Des. Geraldo Gonçalves da Costa.
[24] Art. 475-I do CPC: «O cumprimento da sentença far-se-á conforme os arts. 461 e 461-A desta Lei ou, tratando-se de obrigação por quantia certa, por execução, nos termos dos demais artigos deste Capítulo» (grifo nosso).
[25] O art. 108 do Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966), tem a seguinte redação:
«Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I – a analogia;
II – os princípios gerais de direito tributário;
III – os princípios gerais de direito público;
IV – a eqüidade.
§ 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei.
§ 2º O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido.»
[26] Cf. FALCÃO, Amílcar de Araújo. Fato Gerador da Obrigação Tributária, 6ª edição, rev. e atual. por Flávio Bauer Novelli, Rio de Janeiro : Forense, 1999, p.6.
[27] PALHARES, Cinthia Rodrigues Menescal. A integração no Direito Tributário: considerações acerca do emprego da analogia. Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 58, 1 ago. 2002 . Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/3103>. Acesso em: 14 ago. 2012.
[28] É o caso, por exemplo, da Lei n. 14.939, de 29 de dezembro de 2003, do Estado de Minas Gerais, que dispõe sobre as custas devidas no âmbito da Justiça daquele Estado. O parágrafo 2º. do seu art. 1º. Dispõe expressamente que «é vedada a cobrança de custas por ato não previsto expressamente nas tabelas constante no Anexo desta Lei ou na legislação processual, ainda que sob o fundamento da analogia».
[29] Com regra, a impugnação ao cumprimento de sentença é autuada em autos apartados, a não ser quando o Juiz defere o efeito suspensivo, caso em que é instruída e decidida nos próprios autos do processo originário (§ 2º. do art. 475-M do CPC).
[30] RIBEIRO, Flávia Pereira. Custas e taxa judiciária na impugnação ao cumprimento de sentença. Site Atualidades do Direito. Disponível em:
<http://atualidadesdodireito.com.br/flaviaribeiro/2011/09/22/custas-e-taxa-judiciaria-na-impugnacao-ao-cumprimento-de-sentenca/>. Acesso em: 14 ago. 2012.
[31] Araken de Assis – Cumprimento da sentença / Araken de Assis. – Rio de Janeiro: Forense, 2006: «Em qualquer hipótese, o juiz condenará o(s) vencido(s) nas despesas do incidente (art. 20, parágrafo 1º), distribuindo-se os ônus no caso de êxito parcial». Apud Flávia Pereira Ribeiro, ob. cit.
[32] Fred Didier Junior. Impugnação do Executado (Lei Federal 11.232/2005): «Em qualquer hipótese, porém, acolhendo ou rejeitando a impugnação, o juiz condenará o vencido ao pagamento das despesas do incidente (art. 20, parágrafo 1º do Código de Processo Civil). Apud Flávia Pereira Ribeiro, ob. cit.
[33] José Miguel Garcia Medina, Luiz Rodrigues Wambier e Teresa Arruda Alvim Wambier, «Sobre a impugnação à execução de título judicial (arts. 475 L e 475-M do CPC)», in Aspectos polêmicos da nova execução, 3: de títulos judiciais, Lei 11.232/2005 / coordenação Teresa Arruda Alvim Wambier. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2006. Vários autores: «Tendo em vista que nem sempre a impugnação será uma ação, nem sempre se poderá dizer que seu acolhimento ou rejeição ensejará a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. (…) Diversamente, contudo, se dá em relação às despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 20, 1º, do Código de Processo Civil.» Apud Flávia Pereira Ribeiro, ob. cit.
[30] RIBEIRO, Flávia Pereira. Custas e taxa judiciária na impugnação ao cumprimento de sentença. Site Atualidades do Direito. Disponível em: <http://atualidadesdodireito.com.br/flaviaribeiro/2011/09/22/custas-e-taxa-judiciaria-na-impugnacao-ao-cumprimento-de-sentenca/>. Acesso em: 14 ago. 2012.
O fenômeno do superendividamento
O fenômeno do superendividamento – Inexistência de direito do consumidor à renegociação e de justa causa para intervenção judicial nos contratos
Demócrito Reinaldo Filho
Juiz de Direito no Recife (32ª. Vara Cível)
1. Introdução
Os reflexos da concessão de crédito de forma fácil e ilimitada começaram a aparecer perante o Judiciário, ao longo deste ano, na forma de pedidos de revisão de contratos com fundamento no «superendividamento» dos consumidores. O fenômeno se instalou a partir da oferta abundante do crédito fácil no país. Empréstimos consignados, empréstimos pessoais, cartões de crédito, crédito direto ao consumidor e outros tipos formam uma extensa e variada gama de modelos contratuais que podem ser utilizados por pessoas físicas para tomar dinheiro emprestado aos bancos e financeiras. O resultado não raro é que as pessoas não usam o crédito de forma consciente e chegam à falência financeira.
Para tratar desse problema social, alguns juristas discutem a possibilidade de criar barreiras legais contra o superendividamento1, enquanto que outros advogam o caminho imediato da via judicial para, por meio da intervenção nos contratos, propiciar reparcelamento de dívidas, alongamento de prazos ou facilitação das condições de pagamento e diminuição de juros. O remédio judicial, para esse desiderato, aparece inclusive sob uma nova roupagem: «ação de readaptação contratual». Em regra, argumenta-se que as empresas financeiras é que devem responder pelo endividamento do consumidor, pois a elas é que deve ser carreado o ônus de averiguar o potencial de endividamento do tomador do crédito. Outro argumento central para o pedido de intervenção contratual reside em apelar para a necessidade de proteção material do consumidor endividado, de forma a garantir-lhe condições mínimas para sobreviver.
No presente trabalho, procuramos demonstrar que não existe base legal para se requerer a renegociação de dívidas com fundamento no superendividamento do consumidor e que a intervenção judicial nos contratos pode afetar a segurança jurídica dos negócios financeiros. Também defendemos que não existe qualquer risco de comprometimento da subsistência material das pessoas com o pagamento de dívidas, em razão da ampla proteção patrimonial que lhes é conferida pelas leis brasileiras. Por fim, apontamos que o caminho da conciliação com as instituições financeiras é a melhor solução para renegociação de dívidas e facilitação no pagamento de obrigações.
2. A expansão do crédito no Brasil
Com o ambiente de estabilização dos preços proporcionado pelo Plano Real em 1994, as operações de crédito no Brasil passaram a funcionar como estimuladoras do crescimento econômico. Uma vez controlada a inflação, as instituições financeiras, que antes extraíam sua margem de lucro essencialmente da captação de depósitos, passaram a depender das operações de crédito. A expansão do crédito foi mais acentuada nos últimos cinco anos, devido à descoberta de uma parcela da população – aquela considerada como de baixa renda – antes excluída do sistema formal do crédito, que se tornou alvo preferencial das financeiras2. Se a expansão do crédito teve sua importância para o crescimento sócio-econômico do país, já que fomentou o consumo de bens e serviços, parece que agora os efeitos da liberação desmedida se fazem sentir. A prova disso são as ações de consumidores «superendividados» que, conforme se mencionou, começam a bater às portas dos tribunais à procura de remédio para sua situação de comprometimento de renda.
3. A posição dos consumeristas em favor do direito do consumidor (super)endividado à renegociação do débito
O consumidor superendividado, de uma maneira geral, é todo aquele que perdeu a capacidade de pagamento das dívidas contraídas3. Sem qualquer perspectiva de adimplemento, vem a juízo requerer uma revisão geral dos contratos de crédito para o fim de lhe ser assegurado reparcelamento, diminuição dos juros ou redução do próprio montante da dívida. Em regra, argumenta-se que a empresa financeira demandada mostrou-se negligente, assumindo um risco exagerado ao conceder crédito em valores superiores à capacidade de endividamento (do tomador). Parte-se da concepção de que o «superendividamento» é um fenômeno que decorre da «concessão irresponsável do crédito» pelas empresas financeiras e «não se trata de um simples incumprimento contratual ou apenas mais uma hipótese de falta de pagamento de dívidas», mas um verdadeiro problema social que tem que ser tratado pelo Judiciário com um «olhar diferenciado». O direito ao reparcelamento das prestações, nessa acepção, decorre da proteção judicial que deve ser dada ao consumidor superendividado, sobretudo diante da noção de que a financeira comete abuso de direito, ao conceder crédito de maneira irresponsável, sem averiguar previamente (através de pesquisa em cadastros de proteção ao crédito e outros meios) sua capacidade de reembolso. Defende-se que «o fornecedor que concede crédito a pessoa que não tem condições de cumprir o contrato excede manifestamente as finalidades econômicas e sociais de sua atividade», em violação ao que estabelece o art. 187 do C.C.
Em aditamento à tese da irresponsabilidade da financeira que concede crédito sem averiguar a real capacidade de endividamento do consumidor, argumenta-se que o consumidor superendividado tem direito garantido à repactuação das cláusulas, com base no dever de cooperação do outro contraente, que decorre do art. 422 do C.C. Invoca-se também o art. 6º, V, do CDC, que estabelece como direito básico do consumidor a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Invoca-se, ainda, como fundamento para a readaptação judicial do contrato, o art. 2º., § 2º., I, da Lei n. 10.820/2003, o qual limita os descontos e prestações em folha de pagamento a trinta por cento da remuneração do tomador do empréstimo.
Além de buscar fundamento no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e no Código Civil, os que defendem a readaptação contratual enxergam na própria Constituição Federal a regra maior consagradora do direito fundamental do consumidor superendividado: o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º., inc. III, da CF). Como se sabe, a concepção da teoria social do contrato justifica a aplicação de normas de direito público para regular as relações entre particulares. Por esse viés, os contratos sofrem a interferência de princípios e normas constitucionais, que podem se sobrepor às regras de cunho obrigacional formadas no ajuste privado, quebrando a hegemonia do princípio da autonomia da vontade. Pela via da constitucionalização do Direito Civil, incrementam-se normas de direito público, editadas em prol de interesses coletivos, no âmbito das relações contratuais, permitindo que os valores relacionados à proteção da pessoa humana prevaleçam sobre interesses patrimoniais.
Essas formulações teóricas utilizadas para o pedido de «readaptação» dos contratos dos consumidores «superendividados» têm o respaldo de parte da doutrina, sobretudo entre os consumeristas, os quais sustentam a renegociação das dívidas como uma prerrogativa implícita a toda e qualquer relação contratual no ordenamento brasileiro, extraída não somente da Constituição (do princípio da dignidade da pessoa humana), como também dos deveres de cooperação, lealdade, boa-fé e solidariedade que devem ser observados pelos contratantes. Realmente, a ideia da renegociação como um dever do fornecedor do crédito na cooperação com a outra parte pode ser observada nos ensinamentos da grande doutrinadora Cláudia Lima Marques, que assinala:
«Por fim, mencione-se que a doutrina atual germânica considera ínsito no dever de cooperar positivamente, o dever de renegociar (Neuverhandlungspflichte) as dívidas do parceiro mais fraco, por exemplo, em caso de quebra da base objetiva do negócio. Cooperar aqui é submeter-se às modificações necessárias à manutenção do vínculo (princípio da manutenção do vínculo do art. 51, § 2. º do CDC) e à realização do objetivo comum e do contrato».
Acrescenta a insigne doutrinadora, expondo a noção da renegociação como dever contratual:
«Será dever contratual anexo, cumprindo na medida do exigível e do razoável para a manutenção do equilíbrio contratual, para evitar a ruína de uma das partes (exceção da ruína aceita pelo art. 51, § 2º. do CDC) e para evitar a frustração do contrato: o reflexo será a adaptação bilateral e cooperativa das condições do contrato»4.
Bruno Pandori Giancoli também defende a situação de superendividamento do consumidor como justificativa para a revisão dos contratos de crédito:
«Com efeito a ação revisional por aplicação do superendividamento pode ser encarada como mecanismo judicial apto a tratar das dívidas do consumidor de maneira a evitar sua ruína completa e, se possível, restabelecer uma situação de consumo sustentável»5.
Carolina Curi Fernandes, da mesma forma, destaca que o direito do consumidor superendividado à repactuação decorre do dever de cooperação do outro «parceiro obrigacional» para ser alcançada a reestruturação da dívida e o equilíbrio contratual:
«Os deveres de cooperação e renegociação pressupõem que, para que se possa alcançar a reestruturação financeira do superendividado, faz-se imprescindível a cooperação e compreensão do outro parceiro obrigacional envolvido no negócio, ou seja, o fornecedor do crédito. Diante da situação do consumidor superendividado, deverá o fornecedor do crédito atuar no sentido de cooperar possibilitando a renegociação do débito tendo em vista o restabelecimento financeiro do consumidor e equilíbrio contratual»6 (grifo nosso).
4. Inexistência de risco de comprometimento da subsistência material do devedor para pagamento de dívidas: a proteção patrimonial conferida pelas leis brasileiras
Em que pesem as manifestações doutrinárias expostas, temos que a renegociação da(s) dívida(s) do consumidor superendividado não pode ser imposta às instituições financeiras e bancárias como um dever contratual implícito, através da intervenção judicial nas manifestações de vontade dos particulares, modificando condições de pagamento de dívidas, prazos e encargos. Eventual interferência do Poder Público nos negócios jurídicos privados, sob essa roupagem, pode trazer conseqüências sociais ainda mais nefastas, em termos de quebra da segurança jurídica dos negócios, violação à liberdade de contratar e afronta ao princípio do ato jurídico perfeito, valores igualmente protegidos pela ordem constitucional.
O erro inicial de análise do problema, com a devida vênia, reside em buscar no princípio da dignidade da pessoa humana e na garantia de subsistência material (noção do «mínimo existencial»7) fundamento para a intervenção judicial nos contratos com o objetivo de tratar das dívidas do consumidor. Não se nega a hierarquia da norma constitucional, diante da posição superior da Constituição, que pode versar sobre relações privadas. O direito constitucional é fonte suprema e deve direcionar todo o direito, seja ele público ou privado. Os princípios e valores constitucionais devem nortear as relações privadas tendo em vista a proteção e desenvolvimento da pessoa humana, acima de qualquer outro valor. Apenas observamos que o endividamento do consumidor, independentemente da extensão da dívida, não pode servir como justa causa para intervenção judicial nas relações contratuais a que esteja ligado, pois a sua subsistência (e de sua família) e, portanto, a preservação da dignidade de sua pessoa, está garantida por outras normas existentes na nossa ordem jurídica, que limitam a expropriação de bens do patrimônio do devedor para pagamento de dívidas.
É que a ordem jurídica brasileira, diferentemente de outros sistemas legais, está impregnada de regras que protegem o indivíduo contra a excussão patrimonial excessiva para a satisfação de dívidas. O legislador brasileiro sempre se preocupou em criar mecanismos para atenuar o impacto do processo executório sobre as condições de subsistência do devedor e de sua família. Preocupou-se em preservar uma dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de execução possa representar uma ameaça à sua subsistência. Prova disso é a existência da impenhorabilidade salarial presente no inc. IV do art. 649 do CPC8, bem como as outras situações de imunidade executórias delineadas nos outros incisos do mesmo artigo9. Cite-se ainda a impenhorabilidade imobiliária disciplinada pela Lei n. 8.009, de 29 de março de 1990, que cuidou do chamado «bem de família», vedando a penhora de imóvel residencial de casal ou entidade familiar por dívida de qualquer natureza (art. 1º.) e estendendo a garantia da impenhorabilidade a todos os equipamentos e móveis que guarnecem a casa (art. 2º.)10. Ainda quando se elimina a via executória para o pagamento da dívida, nos casos em que o tomador do crédito aceita voluntariamente, em contrato, que as mensalidades do empréstimo sejam adimplidas mediante desconto direto em folha de pagamento (modalidade conhecida como «empréstimo consignado»), a Lei limita os descontos a trinta por cento da sua remuneração (art. 2º., § 2º., I, da Lei n. 10.820/2003)11. Se o desconto é feito em conta bancária onde o contraente recebe o seu salário («conta salarial»), mesmo assim não há risco de que sua subsistência fique comprometida, pois a jurisprudência tem entendido ser abusiva a cláusula inserida no contrato de empréstimo que versa autorização para o banco debitar ou resgatar (da conta-corrente ou de qualquer aplicação financeira) valor superior a 30% do salário creditado mensalmente. A abusividade da cláusula (por infração ao inc. IV do art. 51 c/c parágrafo 1º. do mesmo artigo), nessa hipótese, reside na falta de limites para o desconto, quando absorve toda ou parte substancial da verba salarial do correntista (consumidor)12.
Como se observa, o consumidor de serviços bancários e creditícios já está completamente imunizado contra qualquer forma de excussão patrimonial degradante. Nós já dispomos de um processo de execução «humanizado», resultante da imunidade patrimonial conferida a certos bens (salário e imóvel residencial único, por exemplo), bem como regras que limitam a liberdade do consumidor ao contratar o pagamento de empréstimos mediante descontos em folha salarial ou conta bancária. Portanto, a concepção de que o Estado deve intervir nas relações contratuais em que uma das partes se mostra «superendividada», a pretexto de garantir a ela um mínimo de condições materiais para subsistência pessoal e de sua família (preservando-se assim sua dignidade como pessoa humana), compreende evidente equívoco. Em razão da ampla proteção patrimonial que o nosso sistema de leis confere ao devedor, não existe espaço para que perca as condições de subsistência e desenvolvimento material.
Diga-se mais: o nosso sistema jurídico é tão desenvolvido no que tange à proteção da pessoa do consumidor (devedor) que lhe confere garantias que vão muito além da simples dignidade material, alcançando inclusive a órbita de sua proteção moral. Com efeito, o art.42 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) impede que, na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente seja exposto a ridículo ou submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Por sua vez, o art. 71 do mesmo diploma legal, visando justamente assegurar a efetividade do artigo anterior, define o tipo penal aplicável à cobrança excessiva ou constrangedora, ao estabelecer que se considera crime contra as relações de consumo «utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira no seu trabalho, descanso ou lazer».
Portanto, quer se interprete o princípio em exame sob a ótica da proteção material do indivíduo, quer se observe nele uma blindagem contra práticas que interfiram na sua esfera moral, o fato é que o acúmulo de dívidas não constitui por si só causa suficiente para se considerar violada a dignidade da pessoa humana e, por conseguinte, se operar a intervenção contratual para modificar o que as partes livremente estabeleceram. O acúmulo excessivo de dívidas, por si só, não ameaça a subsistência material do devedor e, por via de consequência, não é suficiente para afetar sua dignidade, assim considerada a preservação de um «mínimo existencial». Só ocorre o comprometimento da subsistência do devedor (e de sua família) quando lhe são tomados efetivamente os rendimentos salariais para pagamento das obrigações contratuais. A simples existência da dívida, no entanto, não pode ser concebida como elemento gerador de afronta ao princípio da dignidade humana. Por outro lado, estando o devedor protegido contra meios excessivos ou que de qualquer forma o submeta a constrangimento, também não se pode alegar que sua moral esteja em risco por conta da situação de (super)endividamento.
5. Inexistência de previsão legal para o parcelamento de dívidas por meio da intervenção judicial nos contratos
Embora se saiba que a liberdade de contratar deve ser exercida em razão e nos limites da função social do contrato (art. 421 do C.C.), tem-se que evitar um elevado grau de ingerência do Poder Público nas manifestações de vontade dos particulares. O limite da autonomia da vontade ainda continua a ser ditado pela ordem jurídica, pelos princípios da ordem pública e os bons costumes (art. 122 do C.C.). Nesse ponto, vale trazer à consideração o ensinamento de Caio Mário Pereira, segundo o qual «uma vez concluído o contrato, passa a constituir fonte formal de direito, autorizando qualquer das partes a mobilizar o aparelho coator do Estado para fazê-lo respeitar tal como está, e assegurar sua execução segundo a vontade que presidiu a sua constituição»13.
Em suma, o devedor não tem direito à «restruturação financeira» do contrato com base unicamente em sua situação de superendividamento, à falta de previsão legal. Não se pode extrair do inc. VIII do CDC (Lei 8.078/09), o qual estabelece ser um direito básico do consumidor a «facilitação da defesa dos seus direitos», diretriz no sentido de obrigar a instituição financeira a renegociar as parcelas mensais do contrato. O STJ já teve inclusive a oportunidade de concluir pela inexistência desse dever da financeira, ao julgar um caso específico que envolvia contrato de financiamento estudantil14. O estudante pedia que fosse renegociada a dívida, mas a 1ª. Turma do STJ entendeu que a instituição financeira não é obrigada a renegociar a dívida, no caso de inadimplemento, por não haver previsão legal que ampare o pedido de renegociação15. Para o STJ, a instituição financeira tem poder discricionário para decidir sobre a renegociação, ou seja, pode ou não aceitar a proposta oferecida pelo estudante, segundo seu juízo de conveniência e oportunidade, desde que respeitadas as condições previstas na lei.
Sem previsão legal para renegociação da dívida, o tomador de crédito inadimplente terá à sua disposição apenas a possibilidade de parcelamento prevista no art. 745-A do CPC. Todavia, a previsão legal para parcelamento da dívida só existe quando já iniciado o processo judicial de execução para cobrança da dívida, mesmo assim em bases específicas. O direito de pagamento parcelado (em 06 parcelas mensais) é condicionado ao depósito antecipado de 30% do valor da dívida, nos termos do dispositivo citado:
«Art. 745-A: No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento (30%) do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante em até seis (6) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de um por cento (1%) ao mês».
Essa é a única previsão legal que confere ao devedor um tipo de benefício para o alongamento da dívida. Afora essa disposição, não existe possibilidade de se alterar as condições de pagamento sem a aquiescência do outro contraente.
6. A seletividade na concessão do crédito
Não se diga, por fim, que o direito à reestruturação financeira ou readaptação do contrato pode ter por fundamento a «concessão irresponsável do crédito» pelas empresas financeiras, ao não investigarem adequadamente a capacidade de endividamento do consumidor.
As instituições que integram o sistema financeiro nacional, e que portanto são fiscalizadas pelo Banco Central, são obrigadas a operar observando princípios da seletividade, garantia e diversificação dos riscos, sendo-lhes vedada a concessão de crédito sem a constituição de título adequado e representativo da dívida16. Essas diretrizes, todavia, não foram concebidas como uma garantia para o consumidor, mas para evitar risco sistêmico, isto é, para reduzir os riscos de insolvência do sistema financeiro. Se os bancos começam a emprestar dinheiro sem as devidas garantias de recebimento futuro do capital emprestado, podem ficar com ativos de má-qualidade e não ter como honrar os compromissos representados pelo seu passivo. O que se buscou, portanto, foi evitar práticas bancárias perigosas ou inadequadas, para não comprometer o sistema financeiro.
As instituições financeiras utilizam-se de bancos de dados, públicos e privados, para a avaliação do risco de crédito, ou seja, da probabilidade de recebimento do montante emprestado ao cliente (consumidor de serviços bancários). De acordo com a avaliação que é feita pelo banco, acessando esses cadastros, estabelece-se a taxa de juros a ser cobrada em um negócio bancário específico ou mesmo o banco pode deixar de conceder o empréstimo. A inadimplência é um custo implícito no preço do crédito e, quanto maior a certeza do pagamento, menor a taxa cobrada do tomador final e menor risco para o banco. Ao conhecer melhor o potencial do tomador do crédito, através do recurso aos registros de suas atividades bancárias prévias que integram a base de dados, os bancos diminuem os riscos das operações de crédito. As informações são obtidas junto a empresas e organizações que mantêm esses bancos de dados informacionais.
Entretanto, mesmo realizando essas consultas e investigando o perfil do consumidor ou seu histórico de pagamento, o banco não tem como evitar complemente os riscos do negócio nem tampouco avaliar completamente a capacidade de endividamento. O concedente procede a uma análise da capacidade econômica do tomador do empréstimo, mas apenas como prática administrativa para diminuir os riscos quanto ao reembolso do capital emprestado, não como obrigação legal.
7. O caráter conciliatório da renegociação de dívidas
Como já observado, não existe nenhuma norma jurídica, nem princípio legal ou constitucional que imponha à uma instituição financeira o dever de renegociar as condições contratuais, sempre que o devedor pretender ou para facilitar o pagamento da dívida. A renegociação de dívidas ou alteração da forma e condições de obrigações de pagamento somente pode ser almejada por meio de composição amigável entre os contraentes, nunca como dever/direito de um deles, se não previsto expressamente no instrumento contratual. Inclusive o Estado, através do Poder Judiciário, pode desenvolver programas específicos de mediação/conciliação com a finalidade de tratamento, acompanhamento e resolução amigável de conflitos que envolvam consumidores em situação de superendividamento, de forma a reinseri-los no mercado de consumo sem restrições creditícias17.
O que se tem observado, nesses programas de conciliação de conflitos envolvendo consumidores superendividados, é que as empresas e instituições financeiras quase sempre concordam em renegociar as dívidas, alongando os prazos para pagamento, diminuindo juros e os valores das mensalidades. Quando se convencem da incapacidade financeira do consumidor de pagar suas dívidas atuais e futuras nos respectivos vencimentos, e também como sabem que a tentativa de cobrança pela via judicial muitas vezes resulta infrutífera – em razão da ampla proteção dada pela lei brasileira ao patrimônio do devedor -, aceitam reduzir substancialmente o montante da dívida18.
8. Conclusões:
1ª. O consumidor, ainda que em situação de (super)endividamento, não tem direito à renegociação se esse direito não foi expressamente previsto, devendo o Judiciário evitar intervir no contrato, modificando condições de pagamento de dívidas, prazos e encargos. Eventual interferência do Poder Público nos negócios jurídicos privados, sob essa roupagem, pode trazer conseqüências sociais ainda mais nefastas, em termos de quebra da segurança jurídica dos negócios, violação à liberdade de contratar e afronta ao princípio do ato jurídico perfeito, valores protegidos pela ordem constitucional.
2ª. A dignidade da pessoa humana, que se concretiza pela garantia de um mínimo de condições materiais, está plenamente protegida contra a cobrança de dívidas, em razão das inúmeras leis existentes na ordem jurídica brasileira que protegem o patrimônio do devedor (a exemplo da impenhorabilidade salarial presente no inc. IV do art. 649 do CPC, e da impenhorabilidade imobiliária disciplinada pela Lei n. 8.009, de 29 de março de 1990). O que pode ocorrer é que o consumidor, tomador do crédito, pelo volume do endividamento e comprometimento de suas finanças pessoais, perca a capacidade de pagamento e, efetivamente, deixe de cumprir com suas obrigações contratuais, mas nunca chegará a ser privado completamente de condições materiais mínimas.
3ª. A responsabilidade pelo processo de (super)endividamento de parcelas substanciais de consumidores não pode ser atribuída com exclusividade às instituições financeiras, já que elas avaliam o risco da concessão do crédito (através de pesquisas em bancos de dados), o que não é suficiente para evitar completamente o inadimplemento do cliente (consumidor de serviços bancários). Se o princípio da boa-fé tivesse de ser invocado nos casos de superendividamento, seria para penalizar o tomador do crédito que, tendo conhecimento de sua limitada capacidade de endividamento, mesmo assim aceita contrair obrigação que sabe que não vai cumprir. As pessoas precisam ter responsabilidade pelo cumprimento de suas obrigações, não podendo o Judiciário quebrar a segurança jurídica dos contratos.
4ª. A renegociação contratual, quando ocorre o superendividamento do consumidor, assim considerada a situação em que suas dívidas superam em muito sua condição de adimplemento, pode ser conseguida através de uma composição amigável entres as partes envolvidas no negócio (concedente e tomador do crédito). Em programas de renegociação de dívidas, patrocinados por órgãos estatais e entidades do setor privado, ficou comprovado que as instituições financeiras quase sempre concordam em reduzir o montante do débito e facilitar o pagamento, quando se convencem da incapacidade de adimplemento do consumidor superendividado.
1 Dentre as propostas da Comissão de juristas responsável pela atualização do CDC (Lei 8.078/90), está a proibição de utilização de expressões enganosas que levem o consumidor a crer que o financiamento é oferecido sem juros ou de forma gratuita. Outra proposta é a de impedir o fornecedor de ocultar os riscos da contratação do crédito, dificultar sua compreensão ou estimular o endividamento.
2 Segundo dados divulgados pelo Banco Central, em novembro de 2008 as operações de crédito o país atingiram R$ 1.187 bilhões correspondentes a 40,2% do PIB. Os saldos de créditos destinados a pessoas físicas foram de R$ 369,3 bilhões em setembro-08, com crescimento de 32,26% em relação a setembro de 2007.
3 O Superendividamento, segundo Claudia Lima Marques, é a condição do consumidor, pessoa física natural, não poder saldar as dívidas que possui com os ganhos provenientes de seu labor, sem que para isso seja prejudicada a sua subsistência (em Sugestões para uma Lei sobre o tratamento do superendividamento de pessoas físicas em contratos de crédito ao consumo: proposições com base em pesquisa empírica de 100 casos no Rio Grande do Sul. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo: Revista dos Tribunais, nº. 55, p. 11-52, jul./set. 2005, p. 11-52).
4 Ob. cit., p. 198.
5 O Superendividamento do Consumidor como Hipótese de Revisão dos Contratos de Crédito.São Paulo: Editora Verbo Jurídico, 2008, p. 162.
6 A tutela do consumidor superendividado e o princípio da dignidade da pessoa humana. Jus Navigandi, Teresina, ano 15, n. 2619, 2 set. 2010. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/17312>. Acesso em: 17 ago. 2011.
7 O mínimo existencial é um dos parâmetros de dosimetria e densificação material da pessoa humana, autorizando inclusive a intervenção judicial para sua preservação na hipótese de omissão do Poder Executivo. Também denominado de mínimo fisiológico, deve ser entendido como «as condições materiais mínimas para uma vida condigna, no sentido da proteção contra necessidades de caráter existencial básico». Como ensina Rogério Gesta Leal, «um interesse ou uma carência é, nesse sentido, fundamental em nível de mínimo existencial quando sua violação ou não-satisfação significa ou a morte, ou sofrimento grave, ou toca o núcleo essencial da autonomia» (Condições e Possibilidades Eficaciais dos Direitos Fundamentais Sociais – Os desafios do Poder Judiciário no Brasil, Porto Alegre. Livraria do Advogado Editora, 2009, p. 101).
8 Embora exista uma discussão sobre se essa impenhorabilidade salarial é absoluta ou (não), o fato é que há consenso de que a penhora sobre salários ou vencimentos não pode ser de forma integral, comprometendo a manutenção da subsistência do devedor. A respeito do tema, sugerimos a leitura de nosso artigo Da possibilidade de penhora de saldos de contas bancárias de origem salarial. Interpretação do inciso IV do art. 649 do CPC em face da alteração promovida pela Lei nº 11.382/2006, publicado na revista Jus Navigandi, Teresina, ano 13, n. 1796, 2 jun. 2008. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/11336>.
9 O art. 649 do CPC tem a seguinte redação:
«Art. 649. São absolutamente impenhoráveis:
I – os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;
II – os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida
III – os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;
IV – os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3o deste artigo;
V – os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão;
VI – o seguro de vida;
VII – os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;
VIII – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;
IX – os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;
X – até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança.
XI – os recursos públicos do fundo partidário recebidos, nos termos da lei, por partido político.
§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à cobrança do crédito concedido para a aquisição do próprio bem.
§ 2o O disposto no inciso IV do caput deste artigo não se aplica no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia.
§ 3o (VETADO)».
10 O STJ, interpretando esses dispositivos, tem ampliado a garantia a praticamente todos os utensílios e eletrodomésticos existentes na casa (único imóvel residencial) do devedor, a exemplo de televisão, fogão, geladeira, computador etc. Para a Corte Superior, só são penhoráveis esses equipamentos se existentes em duplicidade. Tudo o mais que existir em forma de um único item, à exceção de obras de arte e adornos suntuosos, não pode ser penhorado.
11 A Lei n. 10.820, de 17 de dezembro de 2003, dispôs sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento. Estabelece esta Lei que os empregados podem autorizar o desconto em folha de pagamento dos valores referentes a empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil (art. 1º.). O desconto pode, inclusive, incidir sobre verbas rescisórias, desde que limitado a 30% (par. 1º. do mesmo artigo). Os inativos (aposentados e pensionistas) que recebem benefícios pelo INSS também estão autorizados pela Lei a contratar empréstimos mediante desconto em folha (art. 6º.). Já em relação aos servidores públicos civis (da União), o Decreto n. 4.961, de 20 de janeiro de 2004, que regulamenta o art. 45 da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, também permite que eles autorizem consignações em suas folhas de pagamento, para cobertura de certos tipos de empréstimo (a exemplo de financiamentos para aquisição de imóveis residenciais e empréstimo concedido por entidade de previdência privada), mas desde que a soma mensal das consignações não exceda valor correspondente a 30% dos vencimentos (art. 11).
12 Na ausência de uma limitação ao desconto, o Judiciário pode (e deve) intervir na relação contratual, de modo a restabelecer o equilíbrio entre as partes, modificando a cláusula contratual que estabelecera a prestação desproporcional (art. 6º, V, do CDC). Por analogia às Leis que regulamentam as consignações em folha de pagamento, a autorização para desconto em conta-corrente não deve comprometer mais que 30% do salário creditado mensalmente. Para melhor compreensão dessa , sugerimos a leitura de nosso artigo Cláusula que autoriza desconto em conta corrente para pagamento de empréstimo. Sua abusividade quando ilimitada, publicado na Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 350, 22 jun. 2004. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/5384>.
13 Instituições de Direito Civil, vol. III, Rio de Janeiro, Forense, 2009, p. 22.
14 O governo tem programas de financiamento para estudantes que não têm recursos para pagar um curso superior. Um dos principais programas implementados é o Fies, criado em 1999 para financiar estudantes carentes. Outro programa é o Prouni, criado em 2004 e destinado à concessão de bolsas para alunos comprovadamente carentes, oriundos de instituições públicas e submetidos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Apesar dos benefícios que esses programas trazem aos estudantes, é alto o índice de inadimplência e são inúmeras as causas que chegam à Justiça questionando as formas de pagamento de um curso, bem como as taxas de juros e a cobrança de mensalidades. Segundo notícia veiculada pelo jornal Folha de S. Paulo, de julho de 2010, com dados referentes a junho de 2009, mais de 50 mil estudantes, dos 250 mil contratos em fase de quitação da dívida junto à Caixa Econômica Federal, estariam inadimplentes e solicitaram a renegociação; o que representa 25% do total.
15 STJ-1ª. Turma, REsp 949.955-SC, rel. Min. José Delgado, j. 27.11.07, DJ 10.12.07.
16 Resolução 3258 do BACEN:
«IX- É vedado às instituições financeiras:
a) realizar operações que não atendam aos princípios de seletividade, garantia, liquidez e diversificação de riscos;
b) conceder crédito ou adiantamento sem a constituição de um título adequado, representativo da dívida.».
17 A título de exemplo pode ser citado o «Programa de Tratamento de Consumidores Superendividados, denominado de PROENDIVIDADOS, instituído pelo Ato nº 75/2011-SEJU, de 11 de fevereiro de 2011, do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, sob a coordenação e a gestão da Escola Superior da Magistratura de Pernambuco – ESMAPE. O Programa é vinculado, jurisdicionalmente, à Seção Especializada de Tratamento de Consumidores Superendividados da Central de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Comarca da Capital (Primeiro Grau), onde os acordos obtidos são submetidos à homologação e execução judicial. O programa fornece inclusive, caso o consumidor tenha interesse, assistência social e psicológica, além de orientação, através de cursos específicos, com o objetivo de auxiliá-lo na sua reeducação financeira, prevenindo o superendividamento.
18 No programa «Globo Repórter» da TV Globo, veiculado no dia 26.08.11, que tratou do tema do superendividamento, foi divulgada a informação de que as instituições de crédito concordam em reduzir as dívidas dos consumidores até 80% em alguns casos.
A responsabilidade civil das agências de turismo
A RESPONSABILIDADE CIVIL DAS AGÊNCIAS DE TURISMO – a solução da nova lei portuguesa
Demócrito Reinaldo Filho
Juiz de Direito
As agências de turismo, como se sabe, são empresas que exercem «a atividade econômica de intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores de serviços turísticos ou os fornece diretamente»1. Embora a Lei inclua nessa classificação empresas que prestam serviços diretamente ao consumidor final (turista), na quase totalidade dos casos atuam como meras intermediárias, isto é, desenvolvem uma atividade de intermediação entre os fornecedores efetivos dos serviços turísticos e os consumidores, recebendo uma comissão (do fornecedor) ou cobrando uma taxa (do consumidor) como preço pela intermediação. Nessa condição de intermediários da cadeia de serviços turísticos, realizam a oferta, a reserva ou a venda de passagens, acomodações em meios de hospedagens, ingressos para espetáculos e shows, bem como providenciam transporte turístico, locação de veículos e desembaraço de bagagens. Quando muito, atuam como «operadoras», organizando e executando programas, roteiros e itinerários de viagens, excursões e passeios turísticos, incluindo a recepção, transferência e assistência ao turista.
Mesmo atuando essencialmente como intermediárias entre os turistas e os prestadores efetivos dos serviços turísticos, as agências de turismo estão sujeitas a um regime jurídico bastante ampliado (porque não dizer «ilimitado») de responsabilização. Em outras palavras, respondem diretamente por qualquer dano que o turista (consumidor) venha a sofrer em qualquer momento da cadeia de prestação de serviços. A responsabilidade delas engloba todos os serviços que o consumidor adquire por seu intermédio, mesmo sendo prestado por outra empresa, como, p. ex., serviço de transporte, hotel e outros. Assim, se ocorre uma má-prestação de serviço durante a estada no hotel ou um acidente qualquer durante o transporte, o turista pode reclamar os danos sofridos (materiais ou morais) diretamente contra a agência que lhe vendeu o «pacote» turístico.
Isso se explica porque as agências de turismo estão submetidas ao Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), que regula as relações entre fornecedores e consumidores. Nos termos do CDC, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica que distribui ou comercializa produtos ou presta serviços no mercado de consumo, mediante remuneração (art. 3º.). Assim, ao realizarem a venda dos chamados «pacotes turísticos», as agências de turismo assumem, aos olhos da Lei, uma clara posição de fornecedores de serviços2, com todas as conseqüências jurídicas desse enquadramento, especialmente a de responder solidariamente pela falha ou defeito do serviço, em qualquer parte do programa turístico. A solidariedade implica que todos os intermediários da cadeia de fornecimento de um produto ou serviço respondam por dano causado por apenas um deles3, podendo o lesado escolher contra quem quer demandar. Se a empresa aérea não embarca o passageiro (em razão de overbooking) ou dá causa ao extravio sua mala, se o hotel não honra a reserva ou se o espetáculo não acontece tal como previsto, tanto quem vendeu (intermediou) esses serviços ou organizou (operou) a excursão é responsável pela reparação dos danos causados ao turista (consumidor). A relação entre as agências de turismo e os turistas/consumidores é uma típica relação de consumo, e, conforme as normas do CDC, elas possuem o dever de ressarcir eventuais danos ocasionados, ainda que decorram da conduta de outro fornecedor que faça parte da cadeia de prestação de serviços envolvida no «pacote turístico», em razão do princípio da solidariedade4 que permeia o fornecimento de serviços no mercado de consumo. Mesmo havendo um responsável pelo dano perfeitamente identificável, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela reparação dos prejuízos; apenas lhes fica assegurado o direito de regresso, isto é, o exercício posterior da ação regressiva contra o causador direto do dano5. Por exemplo, se a agência de turismo é condenada a pagar por um prejuízo sofrido pelo consumidor durante a estadia num hotel, tem o direito de procurar reaver o que pagou em ação movida posteriormente contra o estabelecimento hoteleiro.
Além de terem uma responsabilidade solidária por todos os atos praticados pelos prestadores de serviços incluídos no programa («pacote») turístico, as agências de viagens também respondem perante os consumidores (turistas) de forma objetiva, isto é, sem que tenham agido com qualquer grau de culpa6. Mesmo que não atuem com negligência ou imperícia ou de qualquer forma contribuam para o cometimento do dano, respondem pela sua reparação. Não importa se agem de forma cautelosa e conforme os padrões de excelência, ocorrendo um «acidente de consumo» estão obrigadas a indenizar o consumidor. Como explica Priscilla de Oliveira Remor, «com isso, o sistema protetivo instaurou uma série de mecanismos com o fim de garantir o efetivo amparo ao consumidor, como a responsabilidade civil objetiva, que exige apenas prova do dano e do nexo causal, facilitando os meios de os consumidores comprovarem a violação de seus direitos em juízo»7.
A responsabilidade objetiva e solidária pelos acidentes e vícios dos serviços que intermedeia com a venda dos chamados pacotes turísticos é vista por alguns segmentos como um excessivo ônus para as agências de turismo. Um pacote turístico abrange uma cadeia de fornecedores, na qual um número indeterminado de agentes está vinculado a uma parte específica da prestação. Se a responsabilidade envolve a garantia de qualidade de todos os serviços integrantes do programa turístico, pode comprometer a própria viabilidade da atividade, argumenta-se. A classe dos prestadores de serviços turísticos que atuam intermediando a venda de «pacotes» ou organizando excursões geralmente é formada por pequenas e micro-empresas (com capital reduzido) e que, portanto, não suportam indenizar o consumidor lesado por falha de serviço executado por outro prestador da cadeia de serviços. Nesse sentido, a responsabilização deve ser imputada somente àquele fornecedor que introduz e presta o serviço no mercado, e não à agência de turismo, que somente faz a representação/intermediação do negócio8.
Essa concepção tem influenciado algumas tentativas, por via legislativa, de se atribuir um limite à responsabilidade civil das agências de turismo e viagens. Uma delas ocorreu por ocasião da elaboração do projeto que veio a se tornar na atual Lei Geral do Turismo (Lei 11.771/08). A redação original do § 6o. do art. 27 do Projeto9 previa que a agência do turismo só seria responsabilizada solidariamente quando o fornecedor direto ou prestador do serviço intermediado não pudesse ser identificado ou, se estrangeiro, não possuísse representante no Brasil, nesses termos:
«Art. 27. ………………………………
(…)
§ 6o A agência de turismo é responsável objetivamente pela intermediação ou execução direta dos serviços ofertados e solidariamente pelos serviços de fornecedores que não puderem ser identificados, ou, se estrangeiros, não possuírem representantes no País.»
Esse dispositivo foi vetado pelo Presidente da República ao argumento de que poderia enfraquecer o sistema de proteção delineado no CDC e fundado na responsabilidade solidária, criando uma exceção colidente com a política de defesa do consumidor aplicável a todos os setores da atividade econômica10.
Entre outras tentativas de abrandar ou limitar a responsabilidade das agências de turismo e viagens, existe atualmente em tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei n. 5.120-C/01, de autoria do deputado Alex Canziani, que contém as seguintes disposições:
«Art. 13. A Agência de Viagens vendedora de serviços turísticos de terceiros, incluindo os comercializados pelas operadoras turísticas, é mera intermediária desses serviços e não responde pela sua prestação e execução.
Art. 14. Ressalvados os casos de comprovada força maior, razão técnica ou expressa responsabilidade legal de outras entidades, a Agência de Viagens e Turismo promotora e organizadora de serviços turísticos será a responsável pela prestação efetiva dos mencionados serviços, por sua liquidação junto aos prestadores dos serviços e pelo reembolso devido aos consumidores por serviços não prestados na forma e extensão contratadas, assegurado o correspondente direito de regresso contra seus contratados.
Art. 15. As Agências de Viagens e Turismo não respondem diretamente por atos e fatos decorrentes da participação de prestadores de serviços específicos cujas atividades estejam sujeitas a legislação especial ou tratados internacionais de que o Brasil seja signatário, ou dependam de autorização, permissão ou concessão«.
O Projeto em comento sofre forte reação das associações de defesa do consumidor que o acusam de subtrair direitos e conquistas já consolidados. Argumentam que, se aprovado, as agências de viagens não mais terão preocupação de escolher hotéis, transportadoras, restaurantes e outros prestadores de serviços turísticos com padrão de qualidade e excelência, em prejuízo do consumidor que terá garantias suprimidas.
Temos que a limitação (parcial), por via legislativa, da responsabilidade do agente de viagens pode ser uma alternativa quando se trata de buscar maior equidade na distribuição dos deveres decorrentes da prestação de serviços turísticos, mas desde que outras medidas protetivas (aos consumidores) sejam implementadas. Quando escolhe uma determina agência de viagens, o consumidor tem legítima expectativa em relação à qualidade dos serviços que são oferecidos. É com ela com quem firma contrato e com quem estabelece uma relação de confiança. Simplesmente imunizá-la do dever de ressarcir o consumidor lesado pelo não-cumprimento do contrato ou pela má execução dos serviços por ela intermediados, resulta inevitavelmente em desvantagem para o consumidor, o que não parece ser o caminho mais adequado. Para se estabelecer algumas limitações à responsabilização das agências de viagens (especialmente àquelas que são simples «corretoras» de serviços prestados por outrem), é preciso se oferecer, em contrapartida, outras garantias aos consumidores.
Uma solução aparentemente inteligente e que pode ser a saída para os problemas originados dos acidentes ultimamente verificados no mercado brasileiro de serviços turísticos pode ser a encontrada pelo Governo de Portugal, que procedeu recentemente a uma revisão da Lei que regula as agências de turismo e viagens. Ao invés de unicamente limitar a responsabilidade dos fornecedores de serviços turísticos, a idéia foi criar um fundo para garantir o ressarcimento dos consumidores, formado por contribuições de todas as empresas que atuam no mercado intermediando a venda de pacotes e demais serviços turísticos. O Fundo de Garantia de Viagens e Turismo (FGVT), criado através do Decreto-Lei n. 61/2011, de 06 de maio, deve ser utilizado para reembolsar consumidores quando as agências de viagens não cumprem adequadamente com as obrigações assumidas nos contratos. Portanto, a concepção que orientou a revisão legislativa foi diversa do que ocorre hoje no Brasil; não apenas se buscou limitar (em algumas hipóteses) a responsabilidade da agência de turismo e viagens, mas primordialmente reforçar as garantias dos consumidores, por meio da criação de um fundo que servirá para indenizá-los no caso de descumprimento, parcial ou total, dos serviços contratados.
Na verdade, já existiam no ordenamento português regras que conformavam um regime extra de garantias aos consumidores de serviços turísticos. A partir do Decreto-Lei n.º 263/2007, de 20 de Julho, foi estabelecido o sistema de caução prestada pela agência de turismo. As agências eram obrigadas a prestar caução e efetuar um seguro de responsabilidade civil. Esse regime, no entanto, mostrou-se insuficiente quando ocorreu o polêmico caso «Marsans», uma agência espanhola que fechou suas lojas em Portugal sem aviso prévio, deixando inúmeros clientes que tinham comprado seus pacotes turísticos sem poder viajar (em época que coincidia com as férias escolares). A caução de 25 mil euros (o mínimo legal) depositada pelo operador espanhol se mostrou insuficiente para fazer face ao elevado número de queixas e valores dos pedidos de reembolso. Só a Comissão Arbitral do Turismo de Portugal expediu mais de 363 condenações contra o grupo Marsans, em valores que, somados, ultrapassavam centenas de vezes o valor da caução. Percebeu-se, então, que o regime de caução era insuficiente para assegurar os consumidores em situações como essa, o que fomentou o processo de revisão da lei do setor, para incluir um novo modelo de garantias, baseado num fundo co-patrocinado por todas as empresas de viagens, em função do volume de negócios que movimentam.
O Fundo de Garantia de Viagens e Turismo (FGVT), agora criado através do Decreto-Lei n. 61/2011, reforça as garantias de efetivo ressarcimento dos consumidores (turistas) pelos prejuízos decorrentes de eventual descumprimento de obrigações contratualmente assumidas por agências de viagens e turismo. A gestão do fundo caberá ao Estado, representado pelo «Turismo de Portugal, I.P.», um órgão público vinculado ao Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, que centraliza e executa toda a política de promoção da atividade turística11. Esse órgão fará a gestão do fundo com o apoio de um Conselho integrado por representantes das agências de viagens e dos consumidores (art. 31, item 4)12. O FGVT responde solidariamente, com as agências de viagens, para satisfazer o reembolso dos valores pagos pelos clientes e de despesas suplementares suportadas em conseqüência da não prestação dos serviços ou de sua prestação defeituosa (art. 31, itens 1 e 2, a e b). O dinheiro do fundo não poderá ser utilizado para o pagamento de valores referentes à compra isolada de bilhetes de avião, quando a não concretização da viagem não seja imputável à agência de turismo (art. 31, item 3). O fundo é financiado por contribuições pagas por todas as agências de viagens e turismo em funcionamento13, na seguinte proporção: a) € 6000, para «as agências vendedoras»; e b) € 10 000, para as «agências organizadoras» (art. 32, item 1, a e b). Para facilitar o pagamento do valor da contribuição, o Decreto prevê que deve ser paga de forma progressiva, em parcelas anuais, equivalente a 0,1% do volume de negócios da agência no ano imediatamente anterior14. Para acionar o FGVT, o consumidor interessado tem que apresentar: a) cópia da sentença judicial ou decisão arbitral, na qual conste o valor do crédito; b) decisão do provedor do cliente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, na qual conste o valor do crédito; ou c) requerimento para intervenção da comissão arbitral, instruído com os documentos comprobatórios dos fatos alegados (art. 33, item 1).
O Decreto-Lei n. 61/2011 também prevê outro tipo de garantia para ressarcimento dos prejuízos dos consumidores. No seu art. 35, estabelece que todas as agências de viagens e turismo devem fazer seguro de responsabilidade civil que cubra os riscos da atividade, garantindo o ressarcimento de danos patrimoniais e não patrimoniais (danos morais) causados a clientes ou terceiros por suas ações ou omissões ou dos seus representantes (item 1). Esse tipo de seguro obrigatório cobre ainda despesas com repatriamento e assistência15 dos clientes (item 2, a) e assistência médica e medicamentos necessários em caso de acidente ou doença ocorridos durante a viagem (incluindo aqueles que se revelem necessários após a conclusão da viagem, item 2, b). O montante mínimo coberto pelo seguro é de € 75 000 (item 3).
Na disciplina da responsabilidade civil, o texto legal português estabeleceu, como regra geral, que «as agências são responsáveis perante os seus clientes pelo pontual cumprimento das obrigações resultantes da venda de viagens turísticas» (art. 29, item 1). Mas faz algumas distinções em relação ao tipo de viagem, estabelecendo que «quando se tratar de viagens organizadas16, as agências são responsáveis perante os seus clientes, ainda que os serviços devam ser executados por terceiros e sem prejuízo do direito de regresso» (item 2). Estabelece ainda que, «no caso de viagens organizadas, as agências organizadoras respondem solidariamente com as agências vendedoras» (item 3). Como se observa, a responsabilidade solidária (em relação aos atos dos outros prestadores de serviços) ficou reservada às «agências organizadoras» (também designadas de «operadores turísticos»)17. No caso daquelas que se limitam a vender «pacotes» organizados por outras agências ou intermediar a venda de serviços turísticos avulsos, denominadas de «agências vendedoras», a regra é de que só respondem por erro (vício) na emissão dos títulos de alojamento e de transporte ou «pela escolha culposa dos prestadores de serviços» (item 5). Mesmo em relação às empresas organizadoras de viagens (operadores turísticos), a solidariedade na responsabilidade não é absoluta, existindo algumas situações em que ela desaparece. Esse abrandamento da solidariedade da empresa de viagens em relação a seus prepostos ou prestadores de serviços específicos está regulado no item 4 do art. 27, o qual enuncia que, em se tratando de viagens organizadas, a agência não pode ser responsabilizada nos seguintes casos:
quando o cancelamento se basear no fato de o número de participantes na viagem organizada ser inferior ao mínimo exigido (desde que o cliente seja informado por escrito do cancelamento no prazo previsto no programa);
o descumprimento for devido a situações de força maior ou caso fortuito, motivado por circunstâncias anormais e imprevisíveis;
a inexecução decorrer de conduta do próprio cliente ou de um terceiro;
quando legalmente não puder ser exercido o direito de regresso relativamente aos prestadores dos serviços previstos no contrato;
quando o prestador de serviços de alojamento não puder ser responsabilizado pela deterioração, destruição ou subtração de bagagens ou outros artigos.
A Lei portuguesa também prevê limites para os valores das indenizações devidas aos consumidores, dependendo do tipo de defeito («vício de segurança) ou simples vício («vício de funcionalidade») apresentado pelo produto ou serviço e da repercussão sobre o patrimônio (moral ou patrimonial) do cliente. Ou seja, o Decreto criou um regime de indenização «tarifada», assim entendido o limite legalmente institucionalizado para o valor da indenização reparatória de determinado dano produzido em situação específica. Em se tratando da prestação de serviço de transporte aéreo internacional, esse limite deve corresponder ao montante máximo exigível das prestadoras previsto na Convenção de Montreal, de 28 de Maio de 1999 (art. 30, I)18. Em relação ao transporte ferroviário, a responsabilidade da agência tem como limite o valor máximo previsto para as transportadoras na Convenção de Berna, de 1961 (art. 30, I). Já no que diz respeito ao transporte marítimo, a responsabilidade da agência, relativamente aos danos causados aos seus clientes em razão do serviço defeituoso, pode variar de cerca de dez mil euros, em caso de simples perda de bagagem, até um pouco mais de 400 mil euros, em caso de morte ou danos corporais19.
Muitas críticas foram feitas a esse novo sistema (erigido pelo Decreto-Lei n. 61/2011, de 06 de maio de 2011) de garantias ao consumidor de serviços turísticos, que combina responsabilidade civil com certas limitações (mais atenuada para a agência «retalhista», aquela que se limita a vender produtos e serviços) com a existência do «fundo garantidor» e do seguro obrigatório de responsabilidade civil. Na verdade, as críticas são endereçadas à criação do Fundo de Garantia de Viagens e Turismo (FGVT), visto como um «sistema de responsabilidade coletiva», onde as empresas sérias arcam com os erros de gestão de suas congêneres20. Para alguns, a simples existência do fundo pode servir de incentivo para que as empresas se tornem pouco cautelosas ou até enseje o comentimento de fraudes, uma vez que pessoas mal intencionadas podem promover a venda de serviços abaixo do preço real (e, portanto, sem condições de cumprir com a execução), sabendo que se algo der errado sempre haverá a possibilidade de o FGVT reembolsar os consumidores21.
Essas críticas, no entanto, revelam mais um sentimento corporativista (das associações de agências de viagens) do que propriamente a indicação de fatores impeditivos da implantação do fundo ou de sua iniqüidade em relação às micro e pequenas empresas que atuam no setor. É falho o argumento de que sua instituição vai incentivar fraudes ou contribuir para a diminuição do padrão de qualidade na prestação dos serviços turísticos. Primeiro porque a própria Lei prevê que, havendo pagamento por parte do FGVT, a agência de turismo responsável pelo dano deve repor o montante utilizado, no prazo máximo de 60 dias (art. 33, item 3). Em segundo lugar, porque empresas que prestam serviço de má qualidade já existem independentemente da implantação do fundo e acabam, mais cedo ou mais tarde, sendo excluídas do mercado em razão da própria propagação de seus erros.
O fato é que a nova Lei portuguesa que regula a atividade das agências de viagens e turismo parece ter criado um sistema balanceado, que vai facilitar o acesso ao mercado a novas empresas. Uma melhor definição das responsabilidades dos agentes pelas atividades que desenvolvem torna o mercado de serviços mais equânime e competitivo, contribuindo para o crescimento econômico e para a criação de emprego, num ambiente mais favorável à realização de negócios. O Brasil não precisa adotar integralmente os institutos que foram erigidos pelo Decreto-Lei n. 61/2011, mas a evolução do mercado para o setor do turismo passa necessariamente por uma redefinição dos papéis e responsabilidades das agências de viagens e instituição de novas garantias aos consumidores (turistas) e, nesse aspecto, a lei portuguesa pode servir como um bom modelo.
Recife, 18.05.11
1 Conceito extraído do art. 27 da Lei n. 11.771, de 17.09.08 (Lei Geral do Turismo).
2 A própria Lei n. 11.771, de 17.09.08 (Lei Geral do Turismo), considera como «prestadores de serviços turísticos» as sociedades e os empresários individuais que exerçam atividades como agências de turismo (art. 21, II).
3 O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) está permeado por regras que indicam a responsabilidade solidária dos fornecedores de produtos ou serviços na cadeia de consumo, sendo de destacar os seguintes:
«Art. 7° […] Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.
§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.
Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.»
4 A jurisprudência do STJ tem afirmado a responsabilidade solidária das agências de turismo. No Recurso Especial nº 435.830-RJ (DOU 10/03/03), o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito salientou, em seu voto, a responsabilidade solidária da agência de turismo, com relação à falta de entrega de ingressos para um jogo de futebol. No julgamento do Recurso Especial nº 278.893-DF, interposto por operadora de turismo que queria ver-se livre de responsabilidade perante o fornecedor, a Ministra Nancy Andrighi afirmou que «responde a operadora de turismo pelo dano moral causado ao cliente que adquiriu pacote turístico visando assistir a abertura da Copa do mundo, na França, e se viu impedido de assistir ao jogo porque a ré não disponibilizou os ingressos». No Recurso Especial nº 291.384 – RJ, julgando uma ação de danos morais e materiais para o ressarcimento de prejuízos ocasionados por naufrágio de embarcação, programada na viagem de turismo, o Ministro Ruy Rosado de Aguiar inseriu na ementa do acórdão que » A operadora de viagens que organiza pacote turístico responde pelo dano decorrente do incêndio que consumiu a embarcação por ela contratada«. Em outro caso, envolvendo um acidente na piscina de um hotel, ficou consignado na ementa do acórdão que «A agência de viagens responde pelo dano pessoal que decorreu do mau serviço do hotel contratado por ela para a hospedagem durante o pacote de turismo» (Recurso Especial nº 287.849-SP).
5 O direito de regresso é uma consequência natural da solidariedade entre os fornecedores e está disposto no artigo 13, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: «Art. 13. […] Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso». Ainda sobre o direito de regresso, reza o Código no art. 88: «Na hipótese do art. 13, parágrafo único, deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide».
6 A responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e serviços está prevista nos artigos 12 a 25 do Código de Defesa do Consumidor.
7 A responsabilidade civil das agências de turismo nas relações de consumo. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 599, 27 fev. 2005. Disponível em: http://jus.com.br/revista/texto/6355. Acesso em: 16 maio 2011.
8 É que defende, p. ex., Paulo R. Roque Khouri, para quem a agência deve responder apenas pelo fato de seu serviço e não pelo de outrem. Contratos e responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor. Brasília: Brasília Jurídica, 2002, p. 180-181.
9 Projeto de Lei no 3.118, de 2008 (no 114/08 no Senado Federal).
10 As razões do Veto foram expostas nos seguintes termos:
«A medida proposta fundava-se na busca por maior eqüidade na distribuição de responsabilidades nas relações travadas entre as agências de viagens e os fornecedores de serviços de turismo.
Entretanto, o dispositivo poderá conduzir a interpretações que enfraqueceriam a posição do consumidor frente à cadeia de fornecedores, com a possível quebra da rede de responsabilidade solidária tecnicamente regulada pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC, aplicável a todos os setores da atividade econômica.
Dessa forma, seria possível o uso do dispositivo como embasamento para a mitigação da responsabilidade de determinados fornecedores, a partir da exceção criada ao sistema consumerista, o que colidiria com a política de defesa do consumidor consolidada durante toda a última década.»
11 O endereço do site na Internet é: http://www.turismodeportugal.pt/
12 O Decreto ainda prevê que o «Turismo de Portugal» pode delegar a gestão do fundo, ouvido o Conselho, a uma sociedade financeira (art. 31, item 5), o que talvez termine por acontecer, tendo em vista o caráter técnico da gestão, mais compatível com empresas do setor financeiro.
13 Toda agência de viagem e turismo para poder funcionar regularmente em Portugal necessita estar inscrita no RNAVT, que é um cadastro mantido pelo «Turismo de Portugal, I.P.» e que contém informação sobre todas as agências estabelecidas no território nacional, ficando disponível para acesso ao púbico (art. 8º., item 1, do Decreto-Lei n. 61/2011). A inscrição nesse cadastro é um requisito de acesso à atividade, previsto no art. 6º., item 1, do Dec. Lei n. 61/2011.
14 Os montantes referentes à contribuição, de acordo com o art. 32, item 2, devem ser pagos da seguinte forma: a) uma contribuição inicial, a prestar no momento da inscrição da agência no RNAVT, no valor de € 2500 para as agências vendedoras e de € 5000 para as agências organizadoras ou vendedoras e organizadoras; b) contribuições posteriores anuais, de valor equivalente a 0,1 % do volume de negócios da agência no ano imediatamente anterior.
15 Quando, por razões que não lhe forem imputáveis, o cliente não possa terminar a viagem organizada, a agência é obrigada a dar -lhe assistência até ao ponto de partida ou de chegada (art. 28).
16 O art. 15, item 2, conceitua as viagens organizadas como sendo as viagens turísticas que combinam a prestação de dois ou mais serviços (transporte, alojamento ou serviços relacionados com eventos desportivos, religiosos e culturais) e são vendidas ou propostas para venda a um preço com tudo incluído.
17 O art. 2o. classifica as agências de viagens e turismo em dois tipos. O primeiro tipo corresponde às «agências vendedoras», aquelas que vendem ou propõem à venda viagens organizadas e elaboradas por outras agências (organizadoras). O segundo tipo é o das «agências organizadoras», também designados de «operadores turísticos», que são as empresas que elaboram viagens organizadas e as vendem ou propõem à venda diretamente ou através de uma agência vendedora (itens 2 e 3).
18 A Convenção de Montreal, de 28 de maio de 1999, atualiza e consolida as regra do «Sistema de Varsóvia». Fruto da Conferência Internacional de Direito Aeronáutico, realizada em Montreal, de 10 a 28 de maio de 1999, realizada sob o patrocínio da Organização Internacional de Aviação Civil (OACI), com a participação de 118 Estados, inclusive do Brasil, proporcionou a unificação das regras sobre o transporte aéreo internacional. Assim, ao entrar em vigor, prevaleceu sobre a «Convenção de Varsóvia», de 12 de outubro de 1929, e as outras convenções e protocolos subseqüentes relativas ao transporte aéreo internacional. Um dos seus capítulos é dedicado à responsabilidade civil do transportador e aos limites de indenização por danos causados (arts. 17 a 38). Prevê indenização, até o limite de 100.000 direitos especiais de saque por passageiro, no caso de morte ou lesão corporal (art. 21). No caso de destruição, perda avaria ou atraso de bagagem, limita-se a responsabilidade a 1.000 direitos especiais de saque por passageiro (art. 22, alínea 2). Em se tratando de dano por atraso no transporte de pessoas, a responsabilidade do transportador limita-se a 4.150 direitos especiais de saque por passageiro (art. 22, alínea l).
19 Os limites indenizatórios previstos em situações de danos causados aos consumidores, em razão de vícios nos serviços das agências (quando prestados diretamente por elas ou através de outros prestadores), estão dispostos nos itens 1 a 3 do art. 30 do Dec. , adiante reproduzidos:
1 — A responsabilidade da agência tem como limite o montante máximo exigível às entidades prestadoras dos serviços, nos termos da Convenção de Montreal, sobre transporte aéreo internacional, e da Convenção de Berna, de 1961, sobre transporte ferroviário.
2 — No que concerne aos transportes marítimos, a responsabilidade das agências de viagens, relativamente aos seus clientes, pela prestação de serviços de transporte, ou alojamento, quando for caso disso, por empresas de transportes marítimos, no caso de danos resultantes de dolo ou negligência destas, tem como limites os seguintes montantes:
a) € 441 436, em caso de morte ou danos corporais;
b) € 7881, em caso de perda total ou parcial de bagagem ou da sua danificação;
c) € 31 424, em caso de perda de veículo automóvel, incluindo a bagagem nele contida;
d) € 10 375, em caso de perda de bagagem, acompanhada ou não, contida em veículo automóvel;
e) € 1097, por danos na bagagem, em resultado da danificação do veículo automóvel.
3 — Quando exista, a responsabilidade das agências de viagens e turismo pela deterioração, destruição e subtracção de bagagens ou outros artigos, em estabelecimentos de alojamento turístico, enquanto o cliente aí se encontrar alojado, tem como limites:
a) € 1397, globalmente;
b) € 449 por artigo;
c) O valor declarado pelo cliente, quanto aos artigos depositados à guarda do estabelecimento de alojamento turístico.»
20 Essa é uma das críticas feita pela APAVT – Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, que no dia 11 de maio do corrente ano publicou em seu site o seguinte comentário: o Governo português «criou um regime em que toda e qualquer uma das empresas que actuam no mercado seja responsável pela actuação de toda e qualquer uma das suas congéneres, ou seja, criou um regime obrigatório de solidariedade que é inaudito, ao arrepio do mercado e dos princípios que regem a livre iniciativa privada».
21 A APAVT parece endossar esse ponto de vista, quando diz:
«Está pois aberta a porta, através deste regime da solidariedade obrigatória, para que uma empresa possa ludibriar os seus clientes, recebendo verbas, que podem ser avultadas (veja‐se o caso Marsans, onde chegámos a valores a rondar o meio milhão de euros) sabendo que todas as outras empresas do sector irão pagar os prejuízos causados. Não existe na ordem jurídica portuguesa semelhante fundo, que penaliza empresas cumpridoras em detrimento de empresas menos escrupulosas, e que afecta a livre concorrência de modo directo como este modelo agora instituído o faz.»
A Obrigação do Provedor de identificar o usuário que acessa a Internet
A Obrigação do Provedor de identificar o usuário que acessa a Internet
Um bombardeio de críticas provenientes de vários setores do Governo, de parlamentares e de segmentos da sociedade civil organizada provocou, na semana passada, o adiamento da votação, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, do substitutivo do Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) para três projetos de lei que tramitam em conjunto no Congresso Nacional (PLC n. 89, de 2003, do Dep. Luiz Piauhylino (1); PLS n. 76, de 2000, do Sen. Renan Calheiros; e PLS n. 137, de 2000, do Sen. Leomar Quintanilha), que tratam da regulamentação e repressão aos crimes de informática no Brasil (2). O texto estava previsto para ser votado na quarta-feira dia 08 de novembro e, se passasse, seria votado em plenário e, em seguida, enviado de volta à Câmara, também para votação, mas a enxurrada de críticas foi tão grande que não deixou alternativa para o presidente da Comissão, Senador Antônio Carlos Magalhães (PFL-BA), que decidiu retirar a proposta da pauta de votação.
O ponto polêmico do substitutivo é a obrigação que cria, para os provedores de acesso à Internet (ou qualquer rede de computadores), de identificar os usuários de seus serviços, mediante cadastramento prévio. Nos termos exatos do substitutivo, «todo aquele que desejar acessar uma rede de computadores…deverá identificar-se e cadastrar-se naquele que torne disponível este acesso» (art. 13). Essa regra vem complementada pelo artigo seguinte (art. 14), segundo o qual «todo aquele que torna disponível o acesso a uma rede de computadores somente admitirá como usuário pessoa….que for autenticado conforme validação positiva dos dados cadastrais previamente fornecidos pelo contratante de serviços». O parágrafo 1o. desse último dispositivo elenca os tipos de dados do usuário que devem fazer parte do cadastro aberto pelo provedor (nome, senha, endereço, número de identidade, número de CPF ou similar). O substitutivo cria ainda a obrigação do provedor manter, pelo prazo de três anos, os dados de conexões e comunicações realizados pelos seus usuários. A omissão do provedor em identificar os seus usuários, mediante cadastro prévio, e conservar os dados de tráfego na Internet é considerada crime, punido com detenção e multa (art. 2º, que acrescenta os arts. 154-E e 154-F ao Código Penal). (3)
Para os críticos do substitutivo do relator Eduardo Azeredo, essas regras vão afetar as garantias democráticas e o ambiente de liberdade que caracteriza a Internet. A revista Veja desta semana reproduz frase de autoria do Dep. Aldo Rebelo, Presidente da Câmara dos Deputados, manifestando-se contrário ao substitutivo (4). Na mesma seção, a revista traz uma pequena reportagem onde aponta que a exigência de cadastro e de identificação do usuário trará como resultado a perda da privacidade e a restrição de acesso à rede mundial. A reportagem destaca que somente em países autoritários como a China, Coréia do Norte, Irã e Cuba o Governo controla o acesso à Internet. As críticas não pararam por aí. Para muitos outros advogados e pessoas ligadas a Ongs ouvidas sobre o assunto ao longo da semana, a exigência de identificação do usuário é ineficaz para combater a prática de crimes na Internet, pela razão de que, acaso o substitutivo venha a se transformar em lei, os criminosos podem simplesmente abrir conta em provedores de outros países, onde não seja feito esse tipo de exigência. Apareceram, ainda, pessoas dispostas a criticar o substitutivo com argumentos de ordem econômica, no sentido de que as exigências de identificação levariam à quebra dos pequenos provedores de Internet (5) e que só favoreceriam o lobby das empresas de certificação digital.
Em entrevista concedida à Agência Senado (6), o Sen. Eduardo Azeredo defendeu seu substitutivo e negou que afete garantias fundamentais do indivíduo, como a liberdade de expressão e o direito à privacidade. «É uma proposta abrangente e necessária para punir crimes pela Internet. Não há cerceamento à liberdade de expressão e nem perseguição de internauta. Aliás, o projeto busca proteger os nossos internautas contra os criminosos» – sustentou o senador.
Pessoalmente, acredito que algumas das críticas feitas ao substitutivo são equivocadas. A exigência de identificação dos usuários dos serviços de conexão à Internet é uma medida positiva, uma vez que possibilita investigar, detectar e promover a persecução de pessoas que eventualmente cometam crimes utilizando a rede mundial de comunicação. Em essência, o que o substitutivo pretende é que, ao início da contratação da prestação dos serviços, o provedor cheque a veracidade das informações pessoais fornecidas pelo usuário. O que se almeja é evitar que o provedor permita que um usuário acesse a rede, através de seu sistema, sem identificação prévia.
Nesse sentido, a simples obrigação de que o provedor, ao contratar com o consumidor (usuário), colete as informações necessárias à sua identificação, não constitui medida desarrazoada. Não leva, por si só, à violação da privacidade dos usuários nem restringe a liberdade de expressão deles. Os dados coletados vão ser utilizados com a finalidade exclusiva de identificar a pessoa registrada como subscritor dos serviços de conexão à Internet junto a um determinado provedor. Como atualmente os provedores não têm a obrigação de checar a veracidade das informações dos usuários, qualquer pessoa pode contratar o serviço de conexão à Internet utilizando documento ou dados falsos. Daí a obrigação que o substitutivo cria, para que o preposto da empresa de serviços de conexão à Internet confira a identidade do contratante (novo usuário) mediante a exigência de documentos originais ou, se a contratação não se fizer de forma presencial mas on line, que a identificação seja feita mediante ferramentas de certificação digital. Dados como o nome do contratante, endereço, identidade e CPF devem ser requeridos no momento do cadastramento.
Não se trata, portanto, de criar mecanismos de «controle de acesso à Internet», como alguns têm erroneamente apregoado, mas de adotar medidas que possam identificar o usuário de um sistema de comunicação específico (que é o serviço de conexão à Internet, fornecido pelos provedores de acesso). É o mesmo processo que se faz, por exemplo, quando uma pessoa se dirige a uma operadora de telefonia e contrata a utilização de um aparelho telefônico (fixo ou celular). Nesse momento da contratação, a pessoa (usuário) é identificada, apresenta documentos que atestam a sua identidade e é feito um cadastro com os seus dados pessoais. A mesma coisa se pretende seja feita na contratação do serviço de conexão à Internet. Não se estará jamais, com esse tipo de medida, autorizando o próprio provedor ou o Estado ou quem quer que seja a monitorar o conteúdo de nossas mensagens eletrônicas, a bloquear o acesso de cidadãos à rede, a censurar o teor de websites ou de qualquer forma violar o sigilo das comunicações eletrônicas. O que se quer apenas é garantir que, no caso da eventualidade da prática de um crime na Internet, a investigação criminal ou instrução processual possa ser viabilizada mediante requisição judicial (como prevê a Constituição) ao provedor, para identificação do usuário suspeito.
Não adianta de nada o provedor identificar o número IP que estava sendo usado por um determinado usuário, se não checou antes se aquele usuário é realmente quem disse ser. Por isso que o processo prévio de identificação, através de coleta de dados pessoais para cadastro do usuário e checagem da veracidade desses dados é tão importante. Não se pode deixar que pessoas, sem identificação assegurada, naveguem livremente pela rede e assim possam praticar toda série de crimes. Liberdade pressupõe responsabilidade. Todo cidadão deve ter o direito de acesso à Internet, mediante abertura de uma conta junto a um provedor, e participar do livre discurso na rede, expressando suas idéias e pensamentos, mas com a contrapartida de que, vindo a lesar direitos de terceiros, sofrerá a respectiva responsabilização.
Por outro lado, não é sensato o argumento de que a obrigação de identificação prévia do usuário não terá eficácia, já que os criminosos podem acessar a rede mediante provedores situados em outros países, onde não exista essa obrigação. Deve ser observado que a maioria dos países desenvolvidos já adotou ou está em processo de adotar medida semelhante. No âmbito da União Européia já existe inclusive Diretiva prevendo não apenas a identificação mas até a retenção dos dados de tráfego do internauta (7). Ademais, a não exigência de identificação favorece o anonimato e este, por sua vez, o aumento do número de crimes na Internet.
Quanto à alegação de que a identificação prévia obrigatória criará apenas um «cartório» das empresas de certificação digital, também não merece crédito. Essas empresas vão crescer de todo jeito, na mesma proporção do aumento das transações on line. Segurança é uma necessidade vital para a própria sobrevivência e desenvolvimento dos negócios na rede e para o estabelecimento da confiança dos usuários. As empresas de certificação digital não precisam dessa ajuda para criar um nicho que já têm. Além disso, o projeto (substitutivo) prevê que a identificação dos usuários pode ser presencial ou que os provedores possam se valer de convênio de cooperação ou colaboração com órgão ou entidade que já disponha de cadastro constituído.
Também não prospera a afirmação de que o cadastro de usuários pode servir como instrumento de invasão à privacidade, pois os dados podem ser utilizados para outros fins. Ora, cadastro nós fazemos hoje a todo e qualquer tempo e em todo e qualquer lugar no dia-a-dia das nossas vidas. Se nos internamos em um hospital, fazemos cadastro; se nos matriculamos em uma escola, fazemos cadastro; se compramos um carro, fazemos cadastro; se queremos ter acesso à financiamento, fazemos cadastro. Impedir que se coletem dados pessoais nossos na nova sociedade da informação é quase uma utopia. O que se tem que fazer é definir responsabilidades legais a controladores de bancos de dados. Nesse sentido, o próprio projeto tratou de penalizar a utilização ou divulgação para outros fins das informações de terceiros que são depositas em seu banco de dados (8).
O meu receio, por essas razões, é que algumas pessoas que se precipitaram em criticar de forma acerba o substitutivo do Sen. Eduardo Azeredo não tenham tido o devido conhecimento do assunto, ou que estejam apenas sendo usadas para fazer o discurso das empresas que atuam disponibilizando acesso à Internet. A adoção do projeto implicará em aumento de custos para os provedores, que necessitarão estruturar ou readaptar seus sistemas informáticos para atender as exigências legais. Não tenho dados estatísticos e econômicos para fazer uma análise do impacto dessas exigências sobre as atividades desse segmento, mas desconfio que está havendo um exagero quando se alega que vai haver uma quebra em massa das empresas que atuam nesse segmento ou que vai ocorrer uma debandada delas, que buscarão se instalar em outros países – se os empresários daqui correrem para o lado da Europa vão quebrar a cara, pois lá já existem obrigações de identificação e retenção dos dados de tráfego na Internet.
É preciso tomar cuidado para não fazer o discurso dos provedores, como se disse, que podem simplesmente estar querendo fugir dos custos que as mudanças legais podem impingir-lhes. Também desconfio da afirmação de que os custos com a implantação de sistemas e métodos de cadastramento e identificação prévios sejam repassados ao consumidor, em termos de aumento do preço dos serviços de conexão. A competitividade no setor de serviços na Internet é tão grande que o próprio mercado funcionaria impedindo, na prática, que o aumento de custos terminasse onerando os consumidores. De qualquer maneira, esses aspectos podem e devem ser analisados com mais vagar pelos nossos parlamentares.
A única restrição imediata que faço ao cadastramento prévio dos usuários dos serviços de conexão à Internet é quanto à forma de imposição dessa obrigação. O projeto de lei (substitutivo) transforma a falha ou omissão do provedor na identificação e cadastramento prévios do seu usuário em tipo penal, estabelecendo pena prisional (detenção) para esses casos (9). Talvez a obrigação de identificação, cadastro e respectiva autenticação do usuário pudesse ser veiculada com sanções exclusivamente administrativas ou apenas com pena de multa. Ao invés de se colocar essa obrigação em lei, poderia ser perfeitamente imposta através de regulamento de uma agência do Governo, o que proporcionaria melhor oportunidade de verificar se a medida traz qualquer tipo de restrição ao comércio ou constitui um obstáculo ao desenvolvimento do mercado nacional das comunicações eletrônicas. Num primeiro momento, talvez sanções administrativas se mostrassem mais proporcionais, eficazes e dissuasivas. O Governo teria condições de fazer uma avaliação das medidas assim impostas, ao término de algum tempo depois da implantação (digamos, um ano depois), quanto ao impacto na economia dos provedores e consumidores, com os dados estatísticos que teria condições de levantar.
Os projetos originais que tratam dos crimes informáticos não previam essa obrigação para os provedores. Talvez o mais acertado fosse deixá-los com a missão de tipificar apenas crimes praticados por hackers, como eram as propostas originais (10), e, num texto à parte, cuidar das obrigações de identificação dos usuários dos serviços de conexão à Internet, por meio do qual se pudesse tratar mais detalhadamente dessa matéria, inclusive estabelecendo outras obrigações de segurança para os provedores.
Em suma, as medidas de identificação, cadastramento e autenticação dos usuários dos serviços de conexão à Internet, e mesmo a retenção dos dados de tráfego (11), não são apenas desejáveis, mas necessárias para garantir a segurança dos serviços de comunicação eletrônica e viabilizar o combate, a investigação e punição de crimes informáticos. O que se pode discutir é apenas a forma de implantação dessas medidas. O que não pode mais ser tolerado é permitir que se prolongue a situação atual, em que qualquer pessoa pode, utilizando nome, documento ou dados falsos, acessar a Internet e praticar crimes com a maior facilidade. Vamos dificultar a ação dos criminosos.
Recife, 12.11.06.
(1) http://www.senado.gov.br/sf/atividade/Materia/detalhes.asp?p_cod_mate=63967
(2) O substitutivo, que cria a Lei de Crimes de Informática, já foi aprovado pela Comissão de Educação (CE) do Senado e tramita agora na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).
(3) Essa reprodução de artigos está sendo feita com base no substitutivo do Sen. Eduardo Azeredo apresentado ainda na Comissão de Educação do Senado, pois não tive acesso à versão apresentada perante a CCJ, onde pode ter havido emendas. Acredito, no entanto, que não deve ter havido qualquer mudança essencial no projeto, nesse ponto específico, pelo menos baseado no que a imprensa tem divulgado.
(4) «Eu sou favorável a permitir a liberdade e criar uma legislação que puna aquele que abuse dessa liberdade. O que não pode é que na expectativa de alcançar os criminosos se puna quem não tem culpa nenhuma» (frase atribuída pela revista Veja ao Dep. Aldo Rebelo).
(5) Em entrevista ao Terra, Antônio Tavares, Presidente da ABRANET (Associação Brasileira de Provedores de Acesso, Serviços e Informações da Rede Internet), afirmou que, caso aprovadas da forma que estão, as exigências podem levar os provedores a oferecer seus serviços no exterior, onde tais obrigações inexistem. Segundo ele, isso acarretaria perda de empregos diretos e indiretos, além de diminuição de investimentos no setor. Tavares afirma que a Abranet defende a auto-regulação e participação da sociedade e dos usuários, a exemplo do que há muitos anos se consolida em práticas internacionais. O presidente da entidade avalia que exigir co-responsabilidade dos provedores na veracidade das informações prestadas é exagerado. «Querem passar para os provedores uma responsabilidade que não é deles», diz.
http://noticias.terra.com.br/brasil/interna/0,,OI1231864-EI306,00.html
(6) http://www.senado.gov.br/agencia/verNoticia.aspx?codNoticia=59435&codAplicativo=2
(7) Ver, a respeito, artigo de nossa autoria intitulado «A DIRETIVA EUROPÉIA SOBRE RETENÇÃO DE DADOS DAS COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS», escrito em 16.03.06, em: http://www.infojus.com.br/webnews/noticia.php?id_noticia=2567&
(8) O projeto cria o tipo penal de «Divulgação de informações depositadas em banco de dados», com o acréscimo de um artigo ao CP:
«Art. 154-D. Divulgar, ou tornar disponíveis, para finalidade distinta daquela que motivou a estruturação do banco de dados, informações privadas referentes, direta ou indiretamente, a dados econômicos de pessoas físicas ou jurídicas, ou a dados de pessoas físicas referentes a raça, opinião política, religiosa, crença, ideologia, saúde física ou mental, orientação sexual, registros policiais, assuntos familiares ou profissionais, além de outras de caráter sigiloso, salvo por decisão da autoridade competente, ou mediante expressa anuência da pessoa a que se referem, ou de seu representante legal. Pena – detenção, de um a dois anos, e multa».
(9) O projeto inclui um novo artigo no Código Penal (art. 154-F), prevendo a pena de detenção de um a dois anos e multa, para os casos em que o provedor disponibiliza o acesso à rede sem a devida identificação e cadastramento do usuário.
(10) Os projetos de lei condensados no substitutivo visavam a criminalizar ações cometidas por meio de sistemas informáticos ou contra sistemas de computação, criando os alguns tipos penais como, p. ex., o crime de acesso indevido a meio eletrônico, a fraude eletrônica e a sabotagem eletrônica.
(11) Outro ponto questionado do projeto, que acrescenta um dispositivo (art. 154-E) ao Código Penal, estabelecendo a obrigação do provedor de conservar os dados de conexões e comunicações realizadas em seus equipamentos. De acordo com o Senador Azeredo, relator do projeto, inicialmente a manutenção dos dados aconteceria por dez anos. Em sucessivos acordos, o prazo baixou para cinco e agora é de três anos.
O Aplicativo Lulu
O Aplicativo Lulu
A responsabilidade da empresa desenvolvedora pelas “avaliações” feitas pelas usuárias
As «Histórias Patrocinadas do Facebook»
As «Histórias Patrocinadas do Facebook»
os limites da utilização de dados pessoais no marketing on line.
O Facebook é o serviço de rede social mais utilizada em todo o mundo. Fundado em fevereiro de 2004, é operado pela companhia privada Facebook Inc., com sede na Califórnia (EUA). Em 04 de outubro de 2012, atingiu a marca de 1 bilhão de usuários ativos (1). Em agosto deste ano, a companhia divulgou que uma em cada três pessoas nos Estados Unidos visita o site todos os dias (2). No Brasil, as estatísticas também revelam um crescimento exponencial. No final de 2011, tornou-se a maior rede social do país, ultrapasando o Orkut (3). Em julho deste ano, alcançou a marca de 76 de milhões de cadastrados (4), o que coloca o Brasil como o segundo maior mercado em número de usuários da rede social, só perdendo para os Estados Unidos.
Com números impressionantes como esses, que demonstram o crescimento acentuado através da adesão constante de novos usuários, não seria difícil perceber que o Facebook tornou-se também um grande negócio para quem quer anunciar produtos e marcas. Aliás, o Facebook é um serviço «gratuito» e gera receita somente atravé da venda de publicidade, o que inclui banners no site, anúncios e, mais recentemente, as controvertidas «histórias patrocinadas» (ou, em inglês, sponsored stories).
As «histórias patrocinadas» são um modelo de publicidade diferente criado no interior do site do Facebook. Ao contrário dos anúncios, elas são divulgadas em forma de «destaques» (5) no Feed de notícias (6) e mostram as interações das pessoas. Quando um usuário interage com uma página, aplicativo ou evento, uma «história» é criada para que seus amigos vejam no feed de notícias. Os anunciantes pagam para exibir a atividade dos usuários do site na forma de histórias patrocinadas, em razão da maior probabilidade de influenciar os demais a adquirir o serviço ou comprar o produto patrocinado. Como reconhece o próprio Facebook, «as pessoas são influenciadas pelo gostos e conexões de seus amigos», daí que incentiva potenciais anunciantes em seu site com o seguinte exemplo: «quando alguém curte sua página, significa que a pessoa está interessada em se conectar com você e isso pode ser interpretado como um endosso de sua marca ou serviço» (7).
Esse novo arquétipo publicitário, possibilitado a partir do modo como as interações ocorrem na «rede social», tem no entanto gerado bastante polêmica.
Na verdade, a própria arquitetura dos anúncios do Facebook em si já é bastante polêmica. A publicidade online emprega métodos e softwares especializados em mineração de dados (data mining), que permitem aos anunciantes definir o público-alvo de seus anúncios e quais informações ele visualiza. OFacebook coleta e organiza informações sensíveis de seus usuários, como, por exemplo, informações demográficas, geográficas e comportamentais. Além dos dados cadastrais de cada um dos seus usuários (o que inclui nome, endereço de e-mail, data de nascimento, gênero e, em alguns casos, até mesmo o número de telefone), o Facebook também dispõe de informações que eles compartilham no site, quando executam qualquer ação, tais como publicar uma atualização de status, carregar uma foto, marcar alguém em uma foto, comentar uma atividade de um amigo, curtir uma determinada página, adicionar local à publicação ou iniciar um relacionamento. Todas as informações compartilhadas, incluindo os comentários, curtidas, fotos, vídeos, nomes dos usuários e conteúdos dos posts ficam armazenados no banco de dados do Facebook. Além disso, outras informações adicionais são coletadas a partir do computador, telefone celular ou outros dispositivos que os usuários utilizam para se conectar ao site, como, p. ex., endereço de IP, provedor de Internet, localização, o tipo de navegador e páginas visitadas. Assim, o Facebook dispõe de tecnologia informacional para possibilitar a oferta de «anúncios personalizados», em razão da imensa quantidade de dados pessoais que coleta de seus usuários. Ao contratar um anúncio, o anunciante pode, p. ex., escolher um público formado apenas por mulheres, de determinada idade, que moram em um local específico e que tenham predileção por algum tipo de comida ou vestimenta. Se os usuários do Facebook indicam algum tópico específico de interesse, ao curtirem uma página ou comentarem alguma atividade, incluindo temas ligados à religião, saúde ou preferência política, o anunciante também pode escolher alcançar aqueles que se relacionam com o assunto específico.
Os anúncios publicitários no Facebook são por vezes, vinculados a ações sociais dos usuários. Por exemplo, um anúncio de um restaurante pode ser vinculado à notícia de que um determinado usuário curtiu a página desse restaurante no Facebook. Mas esse tipo de histórico de notícias (de «curtidas») não é exibido no feed de notícias, e sim vinculado ao anúncio (na parte superior direita do site) (8).
Muito mais complicada é a modalidade de publicidade na forma de «histórias patrocinadas», pois parece utilizar a imagem das pessoas (usuários do site) de forma indevida. A história patrocinada aparece como publicação no Feed de notícias de uma forma que não é possível distingui-la de uma publicidade comercial. Utiliza a foto do perfil do usuário, seu nome e uma declaração de que curtiu uma determinada página, associada a uma determinada marca comercial ou produto (9).
Esse tipo de publicidade é bem mais vantajoso para o Facebook e seus anunciantes, pois sua veiculação através do Feed de notícias permite uma maior probabilidade de que a rede de contatos (amigos) do usuário que fez a interação com a página a vejam. Anúncios fixos postados do lado direito da página do site quase nunca são lidos pelos usuários. Ademais, uma declaração de que um amigo gosta de uma determinada marca ou produto é capaz de significar para a pessoa alvo desse tipo de publicidade uma declaração de confiança, uma espécie de chancela ou endosso sobre tal produto ou serviço.
O problema é que utilizar o nome e a imagem das pessoas com fins comerciais sem remunerá-las por isso parece não se coadunar com normas e princípios que dão proteção a atributos da personalidade humana. Além disso, é preciso que se obtenha consentimento expresso antes de tal utilização. No caso do Facebook, é bem verdade que sua nova política de uso de dados pessoais informa que são utilizados em anúncios (incluindo fotos do perfil) (10), mas quando a forma de publicidade intitulada de «história patrocinada» tornou-se funcional, não se renovou aos usuários antigos um pedido expresso de consentimento para tal finalidade. Assim, se um usuário aderiu ao Facebook antes da implantação da função da «história patrocinada», ele não deu permissão para que seus dados sejam usados em publicidade da forma que hoje é feita. A empresa que opera o Facebook, para poder utilizar a foto do perfil e o nome da pessoa, indicando para toda a sua rede de amigos que ela «curtiu» determinada marca, produto ou fabricante, teria que buscar novo consentimento aos usuários, informando-lhes adequadamente sobre as modificações na sua publicidade. Nada disse parece ter sido feito.
Para piorar, as configurações de privacidade do site só se aplicam aos anúncios sociais, mas não às histórias patrocinadas. Em outras palavras, se um determinado usuário não quiser que seu histórico de notícias (curtidas e outras ações) seja vinculado a anúncios publicitários, pode desativar essa função (11). Já em relação às «histórias patrocinadas» não é possível fazer o mesmo (12).
Ainda levanta preocupações adicionais o fato de que o Facebook tem uma grande quantidade de usuários que são crianças e adolescentes. Como se sabe, o site permite que qualquer pessoa que declare ter pelo menos 13 anos de idade possa se tornar usuário (13). Mas na verdade, o universo de usuários do Facebook parece incorporar crianças até mesmo abaixo desse limite etário. Com base em dados de maio de 2011 do ConsumersReports.org, existiam 7,5 milhões de crianças menores de 13 anos com contas no Facebook, violando os termos de serviço do próprio site (14). Ou seja, um considerável percentual de usuários do Fabebook é formado de crianças e adolescentes, que não podem por si próprios dar autorizações válidas para o uso de seus dados pessoais. Seria necessário que o Facebook tivesse como dar conhecimento aos pais e representantes legais dessa categoria de usuários a respeito de como seus dados são utilizados no site, bem como requisitar diretamente deles (pais) autorização para o uso do nome e imagem de seus filhos em campanhas publicitárias.
Por conta disso tudo, o Facebook foi acionado na Califórnia, numa corte distrital (15). Cinco pessoas ingressaram com a ação em 2011(16), contestando a legalidade da publicidade do site na forma de «histórias patrocinadas». Antes que o processo tivesse algum pronunciamento judicial sobre o mérito da demanda, as partes resolveram extingui-lo, mediante acordo em que o Facebook se comprometeu a pagar a quantia de 20 milhões de dólares (17). O Facebook também aceitou alterar a sua «Declaração de Direitos e Responsabilidades» (também chamada de «Termos» de uso) (18), para dar aos usuários um panorama mais claro de como seus nomes, fotos e gostos (expressados pela função «curtir») são utilizados em conexão com as «histórias patrocinadas». A despeito da contrariedade manifestada por alguns grupos de defesa de direitos de menores, o acordo foi homologado judicialmente.
No dia 29 do mês passado, a Chefe de assuntos ligados à privacidade do Facebook, Erin Egan, publicou uma mensagem no site, comunicando que havia sido feita uma revisão em dois importantes documentos, a «Declaração de Direitos e Responsabilidades» e a «Política de Uso de Dados». Segundo ela, a revisão foi necessária para dar melhor explicação sobre como o nome do usuário, sua foto do perfil e outros dados pessoais podem ser usados em conexão com anúncios ou conteúdo comercial, para ficar claro que «está dando permissão ao Facebook para esse uso» (19). De logo, surgiram pressões para que o Facebook desista das alterações propostas. Várias entidades de proteção da privacidade, lideradas pela EPIC- Eletronic PrivacyInformation Center, enviaram uma carta (20) à FTC-Federal Trade Comission – que vem a ser uma espécie de agência reguladora do Governo dos EUA encarregada da proteção de direitos dos consumidores. Na carta, os grupos de defesa da privacidade digital argumentam que as alterações irão possibilitar que o Facebook utilize as fotos e nomes de seus usuários para fins comerciais, sem que eles, quando se registraram no site, tivessem dado consentimento para tal. Argumenta-se também que as alterações são especialmente perniciosas para os menores de idade, pois a nova redação do documento propõe a seguinte representação fictícia:
«Se você tiver menos de 18 (dezoito) anos, ou tiver menos de qualquer idade aplicável à maioridade, você declara que pelo menos um de seus pais ou responsáveis legais também concordou com os termos desta seção (e com o uso do seu nome, imagem do perfil, conteúdo e informações) em seu nome.» (21)
Ou seja, através dessa enunciação o Facebook considera ter obtido uma autorização parentalcom o simples ingresso do menor no site, mas se trata de representação meramente fictícia (e despida de valor), pois não se exige um consentimento expresso dos pais. Para utilizar dados de menores, o Facebook teria que ter se utilizado de uma ferramenta para que os pedidos de registro ficassem pendentes, até que os pais manifestassem sua concordância com a política de uso.
O envolvimento de crianças e adolescentes é realmente um elemento fundamental quanto se trata de examinar a legalidade da publicidade na forma de «histórias patrocinadas» do Facebook. Existem muitas páginas e comunidades fazendo publicidade ou apologia do consumo de cigarros e bebidas, e outras com orientação política, ideológica e sexual. Permitir que menores de idade possam não só ter acesso a esse tipo de material informacional, mas também vincular sua imagem a determinados conteúdos inadequados viola as leis e princípios de proteção a esse grupo de pessoas mais vulnerável.
Nos EUA, a FTC já anunciou que vai abrir investigação contra o Facebook (22).No Canadá, também foi proposta uma ação coletiva contra o Facebook, por uma mulher que se sentiu lesada ao ver sua imagem e nome sendo utilizados para fins comerciais sem seu consentimento específico (23). Não é difícil imaginar que essa questão da legalidade das «histórias patrocinadas» do Facebook em breve assome aos tribunais brasileiros.
Notas:
(1) FOLHA DE SÃO PAULO. «Facebook mostra o raio-x de 1 bilhão de usuários«, Folha de São Paulo, 04 de outubro de 2012. Página visitada em 04 de outubro de 2012.
(2) Facebook divulga número de usuários diários dos EUA e Reino Unido http://tecnologia.terra.com.br/facebook-divulga-numero-de-usuarios-diarios-dos-eua-e-reino-unido,625c7a5568870410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
(3) Facebook passa Orkut e vira maior rede social do Brasil, diz pesquisa
(4) Facebook alcança marca de 76 milhões de usuários no Brasil http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/facebook-alcanca-marca-de-76-milhoes-de-usuarios-no-brasil
(5) Segundo notícia do site Terra, o Facebook começou a liberar publicidade no feed de notícias a partir de abril de 2012, na forma de «destaques» – Facebook libera publicidade nos feeds e chama de «destaques». tecnologia.terra.com.br. Página visitada em 19 de abril de 2012.
(6) O Feed de notícias é a coluna central da página inicial do usuário do Facebook. É uma lista em constante atualização de publicações das outras pessoas e Páginas que um determinado usuário segue no Facebook. As publicações no Feed de notícias incluem atualizações de status, fotos, vídeos, links, atividade de aplicativos e opções Curtir.
(7) Informações contidas na «Central de Ajuda» do site do Facebook, acessível em: https://www.facebook.com/help/294671953976994
(8) Ver foto com anúncio em destaque, indicando onde é posicionado no site do Facebook: http://fotos.sapo.pt/sitiocomvista/fotos/?uid=Hn8g45hYy4EfGdoTdRUo
(9) Veja aqui foto que realça a diferença de concepção entre o anúncio e a «história patrocinada», destacando que esta aparece no centro (Feed de notícias) do site, enquanto aquele se situa no lado direito: http://www.nuvemlab.com.br/blog/historias-patrocinadas-no-facebook/
(10) Na parte que presta esclarecimentos sobre «Como funcionam os anúncios e as Histórias patrocinadas» – https://www.facebook.com/about/privacy/advertising
(11) Para tanto, basta utilizar a configuração de Editar anúncios sociais.
(12) Isso está expressamente dito, na política de uso de dados pessoais do Facebook, na parte que informa sobre «Como funcionam os anúncios e as Histórias patrocinadas», da seguinte maneira: «Sua configuração Mostrar minhas ações sociais em Anúncios do Facebook controla somente os anúncios com contexto social. Ela não controla Histórias patrocinadas, anúncios nem informações sobre os serviços e recursos do Facebook ou outros conteúdos do Facebook».
(13) Ver «Ferramentas para Pais e Educadores» – https://www.facebook.com/help/parents
(14) Five million Facebook users are 10 or younger«, ConsumerReports.org, 10 de maio de 2011.
(15) U.S. District Court, Northern District of California.
(16) Fraley, et al. v. Facebook, Inc., et al., Case No. CV-11-01726 RS.
(17) Ver notícia em: http://www.pcworld.com/article/2047520/judge-approves-20-million-facebook-fund-to-settle-advertising-suit.html
(18) Ver cópia da Declaração de Direitos e Responsabilidade do Facebook em:https://www.facebook.com/legal/terms
(19) Para ver o inteiro teor do texto divulgado a respeito da revisão das políticas de uso de dados pessoais e declaração de direitos e responsabilidade, acesse: https://www.facebook.com/notes/facebook-site-governance/atualiza%C3%A7%C3%B5es-propostas-para-os-documentos-de-governan%C3%A7a/10153197317185301
(20) Para ver o texto da carta, acesse: http://epic.org/privacy/ftc/Privacy-Grps-FTC-tr-9-13.pdf
(21) No original, eminglês: «If you are under the age of eighteen (18), or under any other applicable age of majority, you represent that at least one of your parents or legal guardians has also agreed to the terms of this section (and the use of your name, profile picture, content, and information) on your behalf.»
(22) Ver notícia no site do Jornal New York Times, de 11.09.13, acessível em: http://www.nytimes.com/2013/09/12/technology/personaltech/ftc-looking-into-facebook-privacy-policy.html?_r=1&
(23) http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/b-c-woman-sues-facebook-for-using-her-photo-1.1192457
Existe um limite máximo para execução das astreintes?
Existe um limite máximo para execução das astreintes?
A evolução da jurisprudência do STJ quanto à matéria
A multa processual, também conhecida como astreinte[1], tem a finalidade de incentivar o cumprimento de decisão judicial que estabelece obrigação de fazer ou não fazer. Está prevista nos artigos 461, §§ 4º., 5º. e 6º.[2], e 461-A, § 3º., do CPC[3] e, por meio dela, o Juiz procura coagir o obrigado a cumprir a determinação judicial[4]. Não se confunde com as multas indenizatórias, isto é, não busca recompor um prejuízo causado ao patrimônio do lesado por ato de alguém. Conforme ensina Candido Dinamarco sobre as atreintes, «elas miram o futuro, querendo promover a efetividade dos direitos, e não o passado em que alguém haja cometido alguma infração merecedora de repulsa». «Concebidas como meio de promover a efetividade dos direitos, elas são impostas para pressionar a cumprir, não para substituir o adimplemento. Consequência óbvia: o pagamento das multas periódicas não extingue a obrigação descumprida e nem dispensa o obrigado de cumpri-la. As multas periódicas são, portanto, cumuláveis com a obrigação principal e também o cumprimento desta não extingue a obrigação pelas multas vencidas», completa o doutrinador[5].
O legislador concedeu ao Juiz a prerrogativa não somente de impor multa diária ao destinatário da ordem para cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer (§ 4º. do art. 461), mas também de alterá-la, independentemente de pedido da parte interessada, quando se tornar insuficiente ou excessiva. Tal faculdade está predisposta no § 6º. do art. 461 do CPC (incluído pela Lei n. 10.444, de 2002), verbis:
«§ 6o O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.»
Não há dúvida, portanto, quanto ao poder complementar do magistrado, para redução ou aumento da multa que se torna insuficiente ou excessiva. Quer tenha sido fixada na decisão ou sentença de conhecimento (art. 461, §§ 3º. e 4º.), quer no processo de execução (art. 644, caput), o valor da multa pode ser modificado. A jurisprudência proporcionou a compreensão exata desse dispositivo (§ 6º. do art. 461), estabelecendo que essa faculdade do Juiz, de alteração da multa, pode ser exercida a qualquer tempo, «mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão»[6]. Isso porque a multa do art. 461, § 6º., «não faz coisa julgada material, podendo ter seu valor alterado pelo Juiz a qualquer tempo, desde que se tenha tornado insuficiente ou excessivo»[7].
Posteriormente, a jurisprudência evoluiu, para exigir também uma adequação, indicando que deve haver um controle quando o valor da multa diária, acumulada, atinge quantia exagerada. Se o destinatário da ordem não a cumpre em tempo oportuno ou retarda o seu cumprimento, causando, assim, a acumulação diária do valor da dívida originalmente arbitrada, nem por isso se deve permitir a execução do valor acumulado sem qualquer limite. A exigência da multa fica adstrita aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade[8], no sentido de que se deve adequá-la ou torná-la compatível com a obrigação.
Essa exigência de adequação visa a, em primeiro lugar, preservar a natureza coercitiva da multa e, em um segundo momento, evitar enriquecimento sem causa da parte beneficiada com a sua imposição. Com efeito, a multa cominatória (astreinte), enquanto instituto de direito processual, serve como meio de coerção patrimonial para que o obrigado faça ou deixe de fazer algo, em virtude do comando judicial. Não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, limitando-se a influenciar o cumprimento da ordem judicial. Por isso, deve ser suficientemente adequada e proporcional à sua finalidade intimidatória, de modo que não se torne insignificante a ponto de não criar no obrigado qualquer receio quanto às consequências de seu não acatamento, bem como não pode, de outro lado, ser desproporcional ou desarrazoada a ponto de proporcionar ao exequente um enriquecimento sem causa.
O nosso Código Civil veda o enriquecimento sem causa, ao dizer que «aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários» (art. 884). Portanto, a multa não pode servir para dar causa a enriquecimento injusto da parte beneficiada pela decisão judicial, com o que ficaria com sua natureza desnaturada, tornando-se mais desejável ao credor do que a satisfação da obrigação principal, como alertou o Min. Luis Felipe Salomão, ao julgar recurso especial que resultou com a seguinte ementa:
«PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EXCLUSÃO DO CADASTRO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO E REVOGANDO A MEDIDA ANTECIPATÓRIA. MULTA COMINATÓRIA APLICADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE.
(…)
A partir do momento que a fixação das astreintes atinge o ponto de ser mais interessante à parte que a própria tutela jurisdicional do direito material em disputa, há uma total inversão da instrumentalidade caracterizadora do processo. Este não pode ser um fim em si mesmo, deve ser encarado por seu viés teleológico, sendo impregnado de funcionalidade. Não é a toa que um dos princípios do direito processual é a efetividade do processo. Quando o juiz fixa multa em caso de descumprimento de determinada obrigação de fazer, o que se tem em mente é que sua imposição sirva como meio coativo para cumprimento das obrigações para que a parte adversa obtenha efetivamente a tutela jurisdicional pretendida, não podendo servir como enriquecimento sem causa« (REsp 661.683-SP).
Ainda no mesmo sentido de que a multa não seja cobrada em valores exorbitantes, para não permitir a descaracterização de sua instrumentalidade e o enriquecimento sem causa da parte beneficiada, advertiu a Mininstra Nancy Andrighi em acórdão assim ementado:
«PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA COM BASE NOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRAZO INICIAL PARA A CONTAGEM DOS JUROS MORATÓRIOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
– É lícito ao julgador, a qualquer tempo, modificar o valor e a periodicidade da multa (art. 461, parágrafo 4º. c/c parágrafo 6º. do CPC), conforme se mostre insuficiente ou excessiva. Precedentes.
(…)
A finalidade da multa é compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer. Nesse sentido, a multa não pode se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa. O processo deve ser um instrumento ético para a efetivação da garantia constitucional de acesso à justiça, sendo vedado às partes utilizá-lo para obter pretensão manifestamente abusiva, a enriquecer indevidamente o postulante« (REsp 1.060.293-RS).
No mesmo sentido:
«PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EXCESSO. REDUÇÃO.
A multa pelo descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, como no caso, devendo ser reduzida a patamares razoáveis» (REsp 793491-RN, rel. Min. César Asfor Rocha, 4ª. Turma, DJ de 06.11.06).
Fica evidenciada, portanto, a necessidade de uma relação de proporcionalidade entre o valor da multa e a obrigação principal que se pretende seja cumprida através de sua aplicação. A multa tem caráter acessório, não podendo se tornar mais interessante para o credor do que a prestação do próprio direito material em disputa[9]. Nesse diapasão, também a esse instituto de natureza processual deve ser observado um princípio básico do Direito: de que «o acessório segue o principal», no sentido de que o que é acessório existe em razão e gravita em torno do bem ou valor principal.
É importante ressaltar que a relação de compatibilidade e adequação entre a multa e a obrigação principal não somente deve ser observada no momento de sua fixação. Ao estabelecer o valor da multa diária em decisão liminar ou na sentença, o Juiz deve arbitrá-la em patamar «suficiente ou compatível com a obrigação», diz o parágrafo 4º. do art. 461 do CPC. Essa relação de compatibilidade deve também ser perseguida na hipótese de execução do valor acumulado da multa em determinado período, em caso de inobservância (parcial ou total) pelo obrigado. Na cobrança da multa acumulada deve ser tomado como parâmetro ou limite, quando possível, o valor da obrigação principal ou bem material que se procura preservar. Se a decisão judicial que fixa originalmente a multa tem por escopo a garantia ou preservação de um determinado bem jurídico, é indispensável que, na execução do valor acumulado, se preserve uma relação de proporcionalidade com esse bem que constitui o objetivo da prestação jurisdicional.
Essa advertência já vem sendo feita há algum tempo pelo STJ, deixando claro que, além da possibilidade de se reduzir a multa, quando exorbitante, deve ser observada uma limitação para a cobrança da multa, um teto máximo para execução do seu valor acumulado, conforme arestos abaixo:
«PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – ASTREINTES – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE.
A multa imposta pelo Juízo, com vencimento diário, para prevenir descumprimento de determinação judicial (astreintes), deve ser reduzida, se verificada discrepância injustificável entre o patamar estabelecido e o montante da obrigação principal. Agravo regimental improvido» (AgRg no Ag 896430-RS, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 23.09.08).
«CIVIL E PROCESSUAL. (…). MULTA DIÁRIA. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CABIMENTO. EXCESSO. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO.
(…)
III. Dado às peculiaridades da espécie, possível a imposição de penalidade para que a ré cautelar efetue o depósito judicial da importância garantida por fiança, desde que fixada em valor razoável e limitada ao montante da obrigação em discussão, podado o excesso aqui identificado.
IV. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte, extinta a Medida Cautelar n. 5.406/PR, por superveniente perda do seu objeto.» (STJ-4ª. Turma, REsp 685.984/PR, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. em 06/04/2010, DJe 26/08/2010).
«AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES . FIXAÇÃO EM VALOR ELEVADO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SÚMULA 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS EM SEDE DE AGRAVO
1. É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixada a sua limitação ao valor do bem da obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem causa» (REsp 947.466/PR, DJ de 13.10.2009). Incidência da súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
(…)
3. Agravo regimental desprovido.» (STJ-4ª. Turma, AgRg no REsp 541.105/PR, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 4/2/2010, DJe 08/03/2010).
«CIVIL E PROCESSUAL. AUTOMÓVEL. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES . PENALIDADE ELEVADA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO VALOR DO BEM PERSEGUIDO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO.
I. É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixada a sua limitação ao valor do bem da obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem causa.
II. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(STJ-4ª. Turma, REsp 947.466-PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. em 17/9/2009, DJe 13/10/2009)
Mais recentemente, o Ministro Luis Felipe Salomão proferiu decisão terminativa no REsp 1.284.683-BA, deixando assente que a execução da multa cominatória deve observar como teto máximo o valor da obrigação principal, ao dizer o seguinte:
«Esta Corte entende que, em regra, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito, o teto do valor fixado a título de astreintes não deve ultrapassar o valor do bem da obrigação principal».
A decisão mencionada portou a seguinte ementa:
«RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUMULA 362/STJ. JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC. VALOR TOTAL. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
(…)
3. Em princípio, o valor das astreintes não pode ser revisto em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Contudo, em situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária.
4. No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado, ante a capacidade de solvência do agravado, sendo, ao mesmo tempo, o suficiente a compeli-lo a manter-se obediente à ordem judicial.
5. Todavia, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve distanciar-se do valor da obrigação principal.
Precedentes.
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido» (decisão publicada no DJe em 04.09.12).
Em conclusão, deve ser dito que na execução da multa (astreinte), quando acumulada em razão do descumprimento (total ou parcial) do obrigado, o Juiz pode observar como limite o valor da obrigação principal, quando esta puder ser estimada em termos monetários e, em não sendo isso possível, pode se ater ao valor da causa no processo de conhecimento ou a qualquer outro critério que torne compatível a cobrança com o direito material disputado. Se a decisão judicial que fixa originalmente a multa tem por escopo a garantia ou preservação de um determinado bem jurídico, é indispensável que se guarde uma relação de proporcionalidade com esse bem que constitui o objetivo da prestação jurisdicional. O que importa é que o magistrado se atenha a padrões de proporcionalidade e razoabilidade, para não permitir que o instituto da multa coercitiva (astreintes) perca seu caráter instrumental e se transforme em fonte de enriquecimento ilícito.
É importante deixar claro que a limitação do valor da multa, quando exigida diante do descumprimento de ordem judicial, não deve ser tomada como princípio absoluto, mas depender do exame das circunstâncias do caso concreto. Se o único obstáculo ao cumprimento da decisão judicial é a resistência ou descaso da parte condenada, que age com completa ausência de boa-fé e de forma maliciosa, o valor acumulado da multa não deve ser reduzido ou limitado. A limitação ou adequação do valor da multa acumulada deve ser reconhecida somente como uma potencialidade do sistema ou faculdade do julgador[10], sob pena de destituí-la de sua função intimidatória. Em situações de resistência injustificável, limitar a cobrança da astreinte «sinalizaria às partes que as multas fixadas não são sérias, mas apenas figuras que não necessariamente se tornam realidades», adverte a Ministra Nancy Andrighi. A procrastinação sempre poderia acontecer «sob a crença de que, caso o valor da multa se torne elevado, o inadimplente a poderá reduzir no futuro, contando com a complacência do Poder Judiciário»[11].
[1] Astreinte, do latim astringere, de ad e stringere, apertar, compelir, pressionar. Originária do Direito francês astreinte e a vernácula estringente (cf. Wikipedia).
[2] Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994).
[…]
§ 4o O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
§ 5o Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial. (Redação dada pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002)
§ 6o O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. (Incluído pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002).
[3] É resultado das reformas na legislação processual, entre elas a da Lei nº 8.952/94, que deu nova redação ao art. 461 do CPC, e a da Lei nº 10.044/02, que acrescentou o art. 461-A.
[4] O legislador ainda trata das astreintes no art. 621, parágrafo único, 644 e 645 do CPC, artigo 84, § 4º, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e artigo 52, V, da Lei nº 9.099/95 (Juizados Especiais).
[5] Citado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, do STJ, em voto proferido no Resp 973.879.
[6] AgRg no AREsp 204.338-MS, rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª. Turma, j. 28.08.12, DJe 18.09.12.
[7] AgRg no AREsp 14.395-SP, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª. Turma, j. 02.08.12, DJe 09.08.12.
[8] STJ-1ª. Turma, AgRg no AREsp 180.249/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 06.09.12, DJe 12.09.12.
[9] Carla Maria de Souza Pereira, depois de explicar que a multa processual (astreinte) é coercitiva e patrimonial, afirma que tem também característica acessória, na medida em que, «tendo como objetivo a coação do demandado para cumprir determinada obrigação, somente tem razão de existir quando este fim ainda é possível de cumpri-lo, ou seja, depende da possibilidade concreta de execução da obrigação principal» (em Astreintes: importância da limitação do valor quando da sua fixação evitando-se a posterior redução diante do descumprimento da ordem judicial, artigo publicado no site da Academia Brasileira de Direito Processual Civil < www.abdpc.org.br > Acesso em 25.10.12
[10] Sempre levando em consideração o comportamento do devedor (condenado), sua condição econômica, grau de resistência, vantagens obtidas com o atraso e demais circunstâncias.
[11] Em notícia publicada no site do STJ, de 12.12.10, sobre a jurisprudência do STJ em torno do tema das astreintes.
Protesto de nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito
Protesto de nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito
sua admissibilidade
É assente o entendimento no STJ acerca da inexequibilidade da nota promissória emitida como garantia no contrato de abertura de crédito em conta corrente. Como nesse tipo contratual o objeto é a disposição de certo numerário, dentro de um limite prefixado, na verdade débito algum existe quando é assinado, podendo se constituir com os atos subseqüentes do correntista (como, p. ex., a emissão de cheques) que importem na utilização do crédito (sempre dentro do limite concedido). O banco abre ao correntista (creditado) um crédito em conta corrente, com limite fixo, destinado a constituir reforço de provisão, que vai sendo consumida a depender das suas necessidades, mediante saques, transferências, pagamentos ou emissões de cheques. O débito que se constitui, portanto, é variável na proporção da utilização do direito de acesso ao capital bancário aberto ao correntista. Essa indeterminação prévia do quantum devido fez com que alguns considerassem que o contrato de abertura de crédito não gozava de liquidez suficiente a aparelhar processo de execução. Apesar desse entendimento, sempre se entendeu que, desde que acompanhado dos devidos extratos que comprovem o valor do débito, o contrato de abertura de crédito enquadrava-se como título executivo extrajudicial. Mas a jurisprudência terminou prevalecendo, no sentido de que a juntada de documentos complementares não supre o aspecto da certeza e liquidez fundamentais para a ação executiva, além do que não teriam valor por serem produzidos de «forma unilateral» pela instituição bancária, conforme se pode ver da ementa de acórdão da relatoria do então Ministro Eduardo Ribeiro, assim ementado:
«Contrato de abertura de crédito. Limitando-se a ensejar a utilização de determinada quantia, não consubstancia obrigação de pagar quantia determinada, inexistindo correspondência com o modelo previsto no artigo 585, II do C.P.C. Impossibilidade de o título completar-se com extratos fornecidos pelo próprio credor que são documentos unilaterais. Não é dado às instituições de crédito criar seus próprios títulos executivos, prerrogativa própria da Fazenda Pública» (REsp. n. 66.304-0-PR, DJU de 23.09.66, rel. Min. Eduardo Ribeiro).
No seu voto, o Ministro relator do acórdão acima transcrito salientou:
«Afirma-se que a falta tem-se por suprida com a apresentação de extratos pelo banco que abriu o crédito. Ora, isso se admitindo, estar-se-á criando outro título executivo, que de nenhum modo se compreende no citado dispositivo da lei processual. Os extratos são documentos unilaterais. Deles não consta qualquer declaração do devedor. Com todo o respeito, parece-me que o entendimento ora contestado importa aceitar que as instituições de crédito, à semelhança da Fazenda Pública, possam criar seus próprios títulos executivos» (grifo nosso).
Com a devida vênia, mas o extrato da conta corrente não é documento complementar do contrato, e sim documento integrante, eis que, através dele se precisa o valor do capital mutuado em determinado período. Além disso, em geral os contratos de abertura de crédito contêm cláusulas estabelecendo que servem como prova da dívida os registros de movimentação tais como compensação de cheques, saques, transferências (inclusive por meio eletrônico), ordens, recibos e avisos de débito lançados diretamente na conta corrente. Os extratos bancários, portanto, são documentos suficientes para demonstrar a existência do negócio jurídico estabelecido entre as partes, bem como suas conseqüências e repercussões. Na verdade, os extratos de conta bancária são ínsitos ao tipo de negociação contratada e representam a execução contratual, visto que significam a materialização contábil dos valores lançados. Se os extratos não servissem como prova do débito, também não serviriam para instruir a ação monitória ou qualquer outra ação de cobrança – a jurisprudência tem entendido que o demonstrativo do saldo e os extratos bancários mostram-se hábeis a instruir a ação monitória, pois demonstram a presença da relação jurídica entre credor e devedor e denotam indícios de existência do débito.
Ocorre que a jurisprudência que desconsidera o contrato de abertura de crédito como título executivo, ainda que acompanhado dos demonstrativos da evolução do débito, tornou-se majoritária (Resp. nº 158.039-MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, in DJ de 3/4/2000); AgRg nos EREsp 197090- RS, rel. Min. Waldemar Zveiter, 2a. Seção, 09.02.2000, DJ 10/04/2000; Embargos de Divergência nos REsps 108.259-RS, 115.462-RS e 135.374-MG, REsp n. 64.462-RS, REsp 172212-RS), acabando por constituir Súmula do Superior Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
«Súmula 233: O contrato de abertura de crédito ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo».
Posteriormente, a Corte superior entendeu que a iliquidez que retira a força executiva do contrato de abertura de crédito transfere-se à nota promissória dada em garantia do negócio. A iliquidez que macula o contrato também atinge a nota promissória, por derivar da mesma relação obrigacional. Foi editada, então, nova Súmula representativa dessa extensão conceitual, nesses termos:
«Súmula 258: A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou».
Embora não concordemos com essa jurisprudência, temos a compreensão de que muito dificilmente será modificada a médio ou curto prazo. O processo de alteração sumular, embora previsto, depende de uma mudança de concepção sedimentada em torno de determinado fenômeno, o que na prática é muito difícil de se conseguir, além do que a manutenção dos entendimentos sumulares confunde-se com um sentimento de segurança jurídica. Por isso que não pretendemos confrontar as súmulas, mas concorrer para que não induzam a compreensões disformes do seu real significado jurídico.
A jurisprudência expressa nas súmulas, exemplificativamente, não deve servir de lastro para pretensão de se anular o título (nota promissória) ou impedir que seja protestado. Atualmente temos observado que, servindo-se dela, as partes que negociaram esse tipo de contrato com bancos estão tomando a iniciativa de ingressar em juízo e requerer a anulação do título e o impedimento do protesto, antes mesmo de sofrerem a promoção de eventual processo executivo. A jurisprudência em questão não autoriza esse tipo de pretensão, porquanto se limita a impedir que a nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito enseje processo executivo. O título evidencia a exigibilidade da dívida, e deve continuar servindo para esse desiderato, por outros meios processuais (como a ação monitória ou de cobrança). De posse do título (nota promissória) e os extratos comprobatórios da disponibilidade do crédito, o banco pode promover a cobrança da dívida por esses outros meios[1], os quais conferem maior largueza procedimental para realizar eventual apuração ou acertamento, se necessário, inclusive com base em outras provas. Assim, não é correto se conceder medidas judiciais para simplesmente anular ou impedir o protesto de nota promissória, pela simples razão de ser vinculada a contrato de abertura de crédito, porquanto isso implicaria na prática em eliminar a exigibilidade da dívida (ainda que ilíquida) representada pelo título.
A jurisprudência do STJ, representada pela Súmula 258, dever ser recepcionada no sentido de que pode existir formalmente um título de crédito, mas que não seja apto a propiciar um processo de execução. Em outras palavras, além de se enquadrar em algumas das figuras predispostas nos incisos do art. 585 do CPC, para adquirir força executiva é necessário que o documento (representativo da dívida ou obrigação) ainda apresente as características de certeza e liquidez (como exigido pelo art. 586). «Destarte, há que se ver não se constituir o título executivo tão-somente com o documento que contenha a denominação e aqueles requisitos formais estabelecidos em lei. Na verdade, o documento somente poderá autorizar a execução forçada quando se tratar de título certo, líquido e exigível (art. 586 do CPC)» (Ministra Nancy Andrighi). Em suma, podemos nos deparar com um documento que satisfaça os pressupostos formais de um título de crédito, mas que, por não fornecer nele próprio os elementos para que se possa aferir a liquidez do débito, não pode ser tido como título executivo.
É o caso da nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito, uma vez que o objeto desse tipo contratual é a disposição de certo numerário, dentro de um limite prefixado. A nota promissória não é sacada como representativa do débito, mas como garantia de seu pagamento. A indeterminação antecipada do quantum devido, falta de liquidez característica do contrato de abertura de crédito, é transmitida à nota promissória vinculada, impedindo que seja utilizada para fins de execução, somente isso. O título de crédito vinculado ao contrato permanece formalmente válido, com força documental para outros fins, não servindo apenas para aparelhar processo de execução. A única imprestabilidade da nota promissória assim emitida, ou seja, vinculada a contrato de abertura de crédito, é não poder servir como instrumento da execução, dada a falta de liquidez, como já vimos. Mas se o título e o contrato a que está vinculado não atestam documentalmente a «liquidez» da dívida, requisito formal da execução (art. 586 do CPC), é certo que eles evidenciam sua exigibilidade. Servem para comprovar a existência do negócio jurídico e seus efeitos, dentre os quais a obrigação de pagamento, a circunstância de ser exigível a dívida (não paga) do correntista. A nota promissória continua sendo um título de crédito, ou seja, um documento representativo de uma obrigação e emitido de conformidade com a legislação específica[2].
Esse realmente é o entendimento adequado e que respeita o conteúdo das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 233 e 258). Por força da orientação jurisprudencial contida nessas súmulas, a nota promissória permanece válida, sendo apenas retirada do credor a via executiva. Os demais efeitos decorrentes da existência do título permanecem válidos, preservando-se inclusive as demais qualidades que marcam os títulos cambiariformes, como a literalidade e a cartularidade. Quando se menciona que a nota promissória vinculada a contrato de crédito rotativo perde sua autonomia[3], apenas se está a indicar que não se presta a propiciar, de forma isolada, processo executivo. Como se sabe, autonomia é «a característica dos títulos de crédito que permite a seu possuidor de boa-fé o exercício pleno do direito creditório neles mencionado, independentemente das relações entre seus anteriores possuidores e o devedor, e da titularidade de quem lhe transferiu o título, por ser o direito nele expresso constitutivo, gerador, pois, de uma nova relação jurídica, que é autônoma»[4]. Como bem resume Amador Paes de Almeida, «cada obrigação que se estabelece é autônoma com relação às demais»[5]. Assim, «os vícios que comprometem a validade de uma relação jurídica, documentada em título de crédito, não se estendem às demais relações abrangidas no mesmo documento». Nesse sentido, o vício originário (iliquidez) do contrato de abertura de crédito se transfere à nota promissora, a qual, por ter perdido sua autonomia, também não vai servir para aparelhar processo executivo. Se o beneficiário do crédito inscrito no título utilizá-lo para documentar uma ação de execução, o executado (devedor) poderá arguir a sua iliquidez e requerer a extinção do processo. Se por outro lado, fizer circular o título, o executado também poderá levantar o mesmo vício contra eventual possuidor. A perda da autonomia se limita a isso, não atingindo as outras características do título, que permanece válido, inclusive para efeito de cobrança por outros meios judiciais.
As Súmulas 233 e 258 não autorizam, portanto, interpretação que permita concluir que os títulos (contrato de abertura de crédito e nota promissória) sejam nulos ou despidos de qualquer efeito creditício ou cambiariforme. Não se pode pretender a nulidade da nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito em conta corrente, nem retirar do credor a legitimidade para o protesto, porquanto o título continua a existir validamente, representativo de dívida não paga. Todos os demais efeitos decorrentes da existência do título permanecem incólumes. Não é correto, por conseguinte, conceder cautelar ou qualquer outra medida judicial para impedir o protesto de nota promissória com apoio exclusivamente no conteúdo das mencionadas súmulas (233 e 258).
Com esse sentir, é que discordamos de decisões que emprestam uma extensão não autorizada pelo entendimento originado pelas Súmulas 233 e 258, a exemplo do acórdão proferido no Resp 500433-PR, onde se firmou ser indevido o protesto de nota promissória vinculada a contrato de crédito rotativo, nesses termos;
«Cautelar de sustação de protesto. Súmulas nºs 233 e 258 da Corte.
- Não tem autonomia a nota promissória vinculada a contrato de crédito rotativo, com o que, nos termos das Súmulas nºs 233 e 258 da Corte, não se reveste das formalidades necessárias para a sua validade. Procedente a cautelar de sustação de protesto.
- Recurso especial conhecido e provido» RESP 500433/PR, Min. Carlos Alberto Menezes de Direito, Terceira Turma, DJ 07/08/2003, p. 327)
Essa nova jurisprudência representada pelo acórdão acima transcrito, além de emprestar uma interpretação errônea aos enunciados sumulares, que, como vimos, não proclamam a invalidade da nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito (a não ser para o fim específico de promoção de ação executiva), também não atenta para o conceito técnico do ato de protesto cambial, que não é uma espécie de fase pré-processual da ação executiva. Trata-se de medida extrajudicial, sem natureza processual civil. Pode ser definindo como a formalidade destinada a servir de prova da impontualidade no pagamento de obrigação constante de título de crédito ou documento de dívida. Mas além desse efeito probatório, o ato de protesto tem outras finalidades, como explica Pedro Nolasco de Araújo, que aponta também os seguintes efeitos para o ato em questão: coercitivo, constitutivo, público e regressivo. De fato, lembra ele que o instrumento de protesto não se limita a servir como prova da impontualidade do devedor (efeito probatório), mas também para coagir com a ameaça da falência (efeito coercitivo), constituir em mora o aceitante (constitutivo), dar publicidade do fato a terceiros (público), e para possibilitar o exercício do direito de regresso contra os coobrigados (regressivo)[6]. Observa-se, portanto, que o protesto produz não só efeitos entre as partes mas também perante terceiros. Entre as partes, caracteriza a impontualidade, o descumprimento da obrigação, faz surgir a mora e o atraso culposo. Perante terceiros, revela a inidoneidade financeira ou insolvabilidade. Ao se vedar que a nota promissória (vinculada a contrato de abertura de crédito) seja levada a protesto, vai se impedir a produção de todos esses efeitos que resultam do ato, o que certamente não foi o que se pretendeu ao editar as Súmulas do STJ (233 e 258). A obstrução ao protesto configura uma proibição à salvaguarda de direitos cambiários.
Mesmo que se entenda que a inteligência das Súmulas reside em retirar qualquer efeito cambiário de nota promissória emitida nessas circunstâncias, desnaturando-a por completo como título de crédito, ainda assim não se poderia impedir o protesto da cártula. É que a Lei que regula o protesto cambial (Lei n. 9.492/97) prevê a possibilidade de sua realização em relação a uma infinidade de situações não abrangidas pelos títulos de crédito, conforme se depreende de seu art. 1o., assim redigido:
«Art. 1º. Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.»
Nessa direitura, ainda que não se considere título de crédito, a nota promissória vinculada a contrato de crédito rotativo é, inegavelmente, um documento que representa dívida, sendo, portanto, protestável nos termos da Lei supra transcrita.
É realmente inconcebível se pretender que o devedor, assim compreendido o emitente de nota promissória ou indicado pelo credor como responsável pelo cumprimento da obrigação, não possa figurar no termo de lavratura e registro do protesto. As Súmulas do STJ (233 e 258) tão somente proclamam que a falta de liquidez da dívida constante de nota promissória vinculada a contrato de crédito rotativo impede que o credor dela se utilize para promover processo executivo, mas em nenhum momento reconhecem a extinção da obrigação. Para que se possa cancelar o registro de protesto é necessário que a decisão judicial reconheça a própria extinção da obrigação. Portanto, obstar o protesto de título ou documento de dívida sem reconhecimento da própria extinção da dívida equivale a desmantelar a regularidade dos serviços cartorários concernentes ao protesto, anulando as garantias de autenticidade, publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos.
[1] O próprio STJ tem reconhecido que o contrato de desconto de títulos acompanhado dos extratos do saldo e de cópia do título, comprovando o creditamento na conta corrente, serve para viabilizar a cobrança da dívida pela via do procedimento monitório (REsp n. 195972-MG, 4a. Turma, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 13.08.2001). Não dispondo de título executivo, «é viável a ação monitória baseada em contrato de borderô de desconto que contenha os elementos necessários a identificar os encargos e taxas cobrados, restando clara a forma com que o credor calcula a evolução do débito. O contrato de borderô de desconto de cheques, acompanhado de títulos não saldados emitidos em nome do contratante e os extratos com a liberação a ele correspondente, serve a demonstrar que o valor indicado nos cheques foi creditado» (TJPR – 15a. C.Cível – AC 0394083-8, rel. Des. Hamilton Mussi Correa, ac. un., j. 28.02.07).
[2] A definição mais corrente para título de crédito, elaborado por Vivante, é «documento necessário para o exercício do direito, literal e autônomo, nele mencionado».
[3] Súmula 258. Precedentes: STJ-3a. Turma, REsp 264850/SP, rel. Min. Ari Pargendler, rel. p. ac. Min. Nancy Andrighi, j. 15.12.00, DJ 05.03.01; 2a. Seção, EREsp 262623/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.02.01, DJ 02.04.01.
[4] MIANO, Bruno Machado. Autonomia dos Título de Crédito. Artigo publicado no site
[5] ALMEIDA, Amador Paes. Teoria e Prática dos Títulos de Crédito, ed. Saraiva, 18.ª ed., 1.998.
[6] Protesto Cambial, artigo publicado na Revista da OAB Goiás Ano XI nº 30.
Apelação de sentença que julga improcedentes embargos à execução
Apelação de sentença que julga improcedentes embargos à execução
Possibilidade de atribuição de efeito suspensivo pelo próprio Juiz prolator
A jurisprudência tergiversava sobre a definitividade (ou não) de execução por título extrajudicial quando pendente apelação contra sentença que julga improcedentes os embargos. A questão era saber se, nessa situação, a execução adquiria o caráter de provisória ou definitiva. A discussão tinha relevância porque se entendida como definitiva, poderiam ser praticados todos os atos para a satisfação desde logo do direito credor, incluindo a alienação de bens penhorados e o levantamento de quantias, sem necessidade de caução, exigência própria da execução provisória. Segundo Cândido Rangel Dinamarco, que defendia ser definitiva a execução nessa situação, o propósito do legislador ao atribuir somente efeito devolutivo ao recurso da sentença que rejeita os embargos, teria sido o de tornar a prestação jurisdicional mais célere. Para o emérito processualista, não havia sentido em postergar a satisfação do direito do credor diante da certeza proporcionada pelo título e pela (primeira) decisão judicial, daí que a execução, depois da sentença denegatória dos embargos, adquiria caráter de completude, autorizando-se plenamente a alienação de bens e levantamento de quantias. Dizia ele:
«O visível intuito do legislador é a aceleração da tutela jurisdicional, apoiado no fato de ser extremamente provável a existência do crédito exeqüendo, quando nesse sentido convergem a própria existência de um titulo dotado de eficácia abstrata e ainda um ato judicial que reafirma essa eficácia».[1]
No mesmo sentido – pelo destravamento completo do processo executivo, com todos atos necessários à satisfação do crédito, inclusive levantamento de depósitos, independentemente de caução, no caso de sentença que rejeita embargos à execução e apelação recebida apenas com efeito devolutivo – pronunciava-se Araken de Assis, o qual argumentava que a possibilidade de reversão da decisão não é fundamento suficiente ao impedimento de atos de alienação e levantamento de depósitos, pois resta sempre o caminho de eventual ressarcimento do executado. Sustentava ele que a certeza do título soma-se à credibilidade da (primeira) decisão judicial e, ainda que provisória, não haveria razão para travar a execução até o julgamento do recurso:
«A posição contrária lobriga temor quanto à reversão da sentença e os conseqüentes danos provocados na esfera jurídica do executado. Essas considerações se mostram pouco razoáveis. Em primeiro lugar, o ressarcimento do devedor se encontra assegurado pelo art. 574; ademais, o regime do art. 520, V, deriva de um sábio juízo de probabilidade: o credor já dispunha de título, beneficiado pela presunção de certeza, e, agora, a seu favor milita a sentença proferida nos embargos, é verdade que provisória, mas que só reforça a credibilidade de sua vantagem inicial. Entre travar por mais tempo a execução, na pendência do recurso, e, desde logo atuar os meios executórios, o legislador optou, com razão, pela primeira diretriz. Ela não é de assusta»[2].
Essa doutrina teve amparo na jurisprudência do STJ, que editou a Súmula n. 317, de seguinte teor:
«É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos».
Não havia, portanto, qualquer dúvida quanto à definitividade da execução na pendência de apelação de sentença que rejeita os embargos à execução, abrangendo a realização de todos os atos executórios, inclusive a realização de praça[3] e a expedição da respectiva carta de arrematação[4].
Ocorre que sobreveio a Lei n. 11.382, de 6.12.06, que possibilitou a reforma do processo de execução fundada em título extrajudicial, atribuindo nova redação ao art. 587, que ficou com o seguinte texto:
«Art. 587. É definitiva a execução fundada em título extrajudicial; é provisória enquanto pendente apelação da sentença de improcedência dos embargos do executado, quando recebidos com efeito suspensivo (art. 739)».
Essa nova redação atribuída ao art. 587 do CPC leva à superação da Súmula 317 do STJ, já que, se pendente apelação contra a sentença que rejeita dos embargos, a sua definitividade (ou provisoriedade) fica a depender do que houver decidido previamente o Juiz quanto aos efeitos da peça de defesa do executado. Antes, na inteligência da Súmula citada, a execução, nessa hipótese, era sempre definitiva, ficando autorizada a prática de todos atos executórios. Agora, a definitividade fica condicionada ao ato de recebimento dos embargos; depende de como o Juiz os recebeu, atribuindo-lhes ou não efeito suspensivo da execução, na forma do art. 739-A, § 1o.. Este último dispositivo permite ao Juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos quando o prosseguimento da execução puder resultar em prejuízo de difícil ou incerta reparação ao executado[5]. Assim, acaso o Juiz tenha recebido os embargos com efeito suspensivo, e havendo apelação da sentença de improcedência, a execução prossegue, mas em caráter provisório, com os condicionamentos estabelecidos na Lei processual. Se, ao contrário, aos embargos não se atribui efeito suspensivo, deve ser dada continuidade à execução, como definitiva, propiciando-se o pagamento ao credor, através do levantamento do dinheiro depositado ou da entrega do produto dos bens alienados (arts. 708 e 709 do CPC).
Embora criticada por muitos, essa nova redação do art. 587 do CPC é perfeitamente compreensível, pois denota a preocupação do legislador em dotar o Juiz de instrumentos para evitar qualquer forma de prejuízo ao executado. A alteração legislativa não constituiu, como argumentam alguns[6], um retrocesso em relação à reforma do processo de execução[7]. O que ocorre é que a realização de atos executórios que importem liberação de depósitos ou alienação de bens traz sempre o potencial de irreversibilidade, em termos de prejuízo ao patrimônio do executado, tornando inútil o eventual êxito deste no julgamento final dos embargos. Assim, é preferível o caminho híbrido seguido pelo legislador reformista, não estabelecendo que a execução é sempre provisória ou sempre definitiva, na pendência dos embargos, mas que pode ser uma coisa ou outra, dependendo de, diante das circunstâncias do caso, entender de conferir ou não efeito suspensivo aos embargos. Trata-se de uma regra que flexibiliza a natureza da execução quando ainda pendente de recurso a sentença que julga (ainda que os rejeite) os embargos, o que dá mais garantias ao devedor de não sofrer prejuízos irreparáveis. Embora exista previsão (art. 574 do CPC) de que o credor deve ressarcir o devedor danos por este sofridos, quando a decisão final declara inexistente a obrigação que deu lugar à execução, sabe-se que, na prática, a reparação é sempre muito difícil. Daí ser preferível estabelecer mecanismos para que o Juiz, mesmo rejeitando os embargos, possa prosseguir com a execução de forma provisória, evitando a liberação antecipada de valores ou outra medida que cause prejuízos ao executado.
Um aspecto que merece análise mais profunda diz respeito à possibilidade (ou não) de o Juiz conferir efeito suspensivo aos embargos depois de já tê-los julgado, quando recebe a apelação da sentença de improcedência. A redação do § 1o. do art. 739-A do CPC, embora não o diga expressamente, deixa entrever que o momento em que o Juiz decide sobre a atribuição de efeito suspensivo coincide com o recebimento da peça dos embargos[8]. Em regra, é na oportunidade em que recebe os embargos que o Juiz decide sobre a suspensão ou prosseguimento da execução, até porque o pedido de atribuição de efeito suspensivo costuma ser formulado no próprio corpo da petição dos embargos. Isso não significa, no entanto, que não possa examinar essa questão em outra ocasião, pois tal possibilidade decorre da própria letra da Lei, quando confere ao Juiz a faculdade de modificar a decisão sobre os efeitos dos embargos, tal qual está previsto no parágrafo 2o. do artigo citado, verbis:
«A decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada, cessando as circunstâncias que a motivaram».
Pelos termos dessa norma, não somente o magistrado pode retirar efeito suspensivo aos embargos, se já o houver concedido, como pode atribuí-lo, no caso de o haver negado anteriormente. Tudo estará a depender da alteração das circunstâncias do caso específico, dependendo de o prosseguimento dos atos executórios causar ou não dano de difícil ou incerta reparação ao executado. Mesmo quando o Juiz se omite em decidir sobre atribuição de efeito suspensivo, por não ter o embargante requerido expressamente na peça de embargos ou por outro motivo qualquer, nada obsta que aprecie a questão posteriormente. A análise das circunstâncias que justificam a atribuição de efeito suspensivo aos embargos pode ser feita até mesmo depois de o Juiz já tê-los rejeitado.
Para alguns, essa posição encerra uma incongruência, pois se o magistrado não confere, num primeiro momento, o efeito suspensivo, com muito mais razão não pode conferi-lo depois de julgar improcedentes os embargos, já que a sentença reforça a credibilidade do direito do exequente. Se o Juiz não concede a suspensão inicialmente, é contraditório que o faça já depois de ter exercido um juízo de valor em favor da regularidade do crédito, argumenta-se. Porém, embora possa parecer contraditório, a concessão de efeito suspensivo mesmo depois da rejeição dos embargos, pode, em certos casos, emergir como medida processual adequada para evitar riscos de lesão de difícil reparação ao patrimônio do executado. Explico: quase sempre o Juiz evita paralisar a execução no seu nascedouro. Paralisá-la logo no início pode trazer prejuízos maiores de ordem inversa, uma vez que o credor fica sujeito a possível desfalque do patrimônio do devedor e à perda de eventual preferência pela primeira penhora, sem contar a demora em receber o que lhe é devido. Por outro lado, logo no começo o processo executivo não tem como causar dano de difícil ou incerta reparação ao executado. Os atos iniciais são apenas de reserva patrimonial (através da penhora e avaliação), insuscetíveis de causar prejuízos de difícil reparação. Tanto esses atos são incapazes de causar dano que o legislador estabeleceu que «a concessão do efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e avaliação de bens» (§ 6o. do art. 739-A, do CPC). O risco de irreversibilidade da lesão (ao patrimônio do devedor) só surge quando a execução caminha para outra fase, quando os bens já estão arrecadados e existem quantias depositadas para garantir o débito. Daí que, mesmo na eventualidade de rejeição dos embargos, o Juiz pode, nesse momento, atribuir-lhes efeito suspensivo, para evitar a alienação de bens e especialmente o levantamento de depósitos. Isso evita que, se a apelação dos embargos for provida, o devedor não tenha desfalque irreversível em seu patrimônio, considerando as naturais dificuldades de se recuperar em outro processo judicial o que o tribunal reconhecer como pagamento indevido.
A faculdade de o Juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos na pendência de apelação também resulta de uma interpretação sistemática das normas do CPC. Com efeito, o Código contém norma que permite ao relator de recurso no tribunal suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara (art. 558). O parágrafo único desse artigo refere que a mesma medida pode ser aplicada às hipóteses previstas no art. 520 do mesmo Código, ou seja, abrange os casos de apelação recebida apenas no efeito devolutivo[9]. Assim, o cumprimento da sentença que rejeita liminarmente ou julga improcedentes os embargos à execução pode ser suspenso por ato do relator do recurso, desde que seja relevante o fundamento invocado e do prosseguimento da execução possa resultar lesão grave e de difícil reparação[10]. Ora, se o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso, o que na prática implicar transformar a natureza da execução de definitiva para provisória, é razoável também se entender que o Juiz a quo possa tomar medida que traga o mesmo resultado. Essa regra (art. 558 do CPC) existe dentro do sistema de normas processuais para evitar prejuízos patrimoniais irreversíveis ao executado. A lógica dela é justamente essa: de impedir a consumação de atos que produzam resultados irreversíveis, em termos de prejuízo patrimonial (ao executado). Ora, se existe norma com esse objetivo, nada mais natural que se atribuir ao Juiz da primeira instância a faculdade de, divisando a possibilidade de o prosseguimento dos atos de execução produzir prejuízo incontornável, atribuir efeito suspensivo aos embargos (na forma da previsão do art. 739-A), mesmo depois de já tê-los julgado (com rejeição).
É claro que essa atribuição de efeito suspensivo aos embargos deve ser adotada em situações excepcionais, sobretudo quando existem quantias vultosas a serem levantadas. Na grande maioria dos casos, em que a execução envolve valores modestos ou a parte exequente apresenta solvabilidade, é preferível não retirar a agilidade da execução, satisfazendo-se desde logo o crédito.
[1] Em de Instituições de Direito Processual Civil, Vol. IV, São Paulo: Malheiros, 2004 pp. 765-766.
[2] Manual do Processo de Execução, 8a. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, pp. 1.293-1.294.
[3] STJ-4a. Turma, REsp 347.455, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 6.7.02, DJU 24.3.03.
[4] STJ-3a. Turma, REsp 144.127, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 15.10.98, DJU 23.5.94.
[5] E desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (parte final do § 1o.).
[6] Theotônio Negrão argumenta que a modificação legislativa em questão configurou um retrocesso, na medida e que retira a força da execução na pendência de apelação voltada contra a rejeição dos embargos. Nota 4 ao art. 587. Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor. Editora Saraiva. 42a. edição, p. 752.
[7] Proporcionada pela Lei 11.382, de 6.12.06.
[8] O art. 791, I, do CPC, também prevê a suspensão da execução «no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução (art. 739-A)».
[9] Nesse sentido: JTJ 204/184, RJ 276/95.
[10] O STJ admite o recebimento, em ambos os efeitos, da apelação contra sentença que julga improcedentes embargos do devedor: «Havendo risco de irreversibilidade da execução definitiva, tornando inútil o eventual êxito do executado no julgamento final dos embargos, poderá o embargante, desde que satisfeitos requisitos genéricos da antecipação de tutela (fumus boni juris e periculum in mora), socorrer-se de uma peculiar medida antecipatória, oferecida pelo art. 558 do CPC: a atribuição de efeito suspensivo ao recurso» (STJ-1a. T., REsp 450.259, rel. Min. Castro Meira, j. 21.10.04, DJU 16.11.04). No mesmo sentido: STJ-1ª. Turma, REsp 652346-RJ, rel. Min. Teori Albino Zavascki, ac. un., j. 21.10.04, DJ 16.11.04; STJ-2ª. Turma, REsp 608178-SC, rel. Min. Castro Meira, j. 03.06.04, DJ 16.08.04.
Dinâmica Social das Tecnologias da Informação
Dinâmica Social das Tecnologias da Informação
Processos de fragmentação e reaglutinação das identidades culturais
1. Da modernidade à sociedade da informação
Não é de hoje que se discutem as transformações que caracterizam o estágio atual da evolução social. Podemos perceber claramente os contornos de uma ordem nova e diferente de todo estilo de vida, costume ou organização social antecedente. Estamos no limiar de uma nova era, que está nos levando para além da própria «modernidade». O estilo de vida ou estágio social que se convencionou chamar de «modernidade» compreende o período de mudanças ocorridas nos três ou quatro últimos séculos, que emergiu na Europa (a partir do século XVII) e depois se disseminou pelo resto do mundo, devido à sua influência e os benefícios que fomentou. Como efeito, algumas formas sociais modernas (a exemplo do sistema político do estado-nação, a diversificação das fontes e produção por atacado de energia, a produção massificada de produtos para consumo, o trabalho assalariado e os modernos assentamentos urbanos) criaram oportunidades bem maiores para os seres humanos gozarem de uma existência segura e gratificante que qualquer tipo de sistema pré-moderno[2]. Mas a trajetória do desenvolvimento social está nos retirando das instituições da modernidade e nos levando a um novo e diferente tipo de ordem social. Realmente, temos um sentido geral de estarmos vivendo uma nítida disparidade do passado, quando o avanço das tecnologias da informação faz surgir nascentes espaços virtuais, propiciando um novo estilo de vida e novas formas de relacionamento interpessoal, diferentes do padrão a que estamos acostumados. A informática contemporânea, ou seja, a informática em rede, que tem na Internet a concretização de um espaço ou mundo virtual (ciberespaço) está gerando profundas modificações na forma do relacionamento humano e dando novo impulso ao fenômeno conhecido como «globalização»[3].
Uma grande variedade de termos tem sido cunhada para definir essa nova era ou novo período evolutivo, como «pós-modernidade», «pós-modernismo», «sociedade da informação», «sociedade do conhecimento», «nova economia», apenas para citar alguns. Particularmente, preferimos o termo «sociedade da informação», que indica uma mudança de um sistema social baseado na manufatura de bens materiais para outro voltado para um bem atualmente mais valioso – a informação. Este novo modelo ou sistema de organização social se assenta num modo de desenvolvimento econômico «onde a informação, como meio de criação de conhecimento, desempenha um papel fundamental na produção de riqueza e na contribuição para o bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos». Para alguns, ainda não entramos definitivamente na «pós-modernidade» ou nesse novo tipo de sociedade, que ainda se encontra em processo de formação e expansão. Seria mais precisamente uma fase de transição, de transformações institucionais, mas ainda não completamente concluída e estabelecida. Nesse lado se posiciona Anthony Giddens, para quem vivenciamos períodos de «alta modernidade» ou «modernidade radicalizada», mas sem um distanciamento absoluto ou aniquilamento das instituições e modo de vida que caracterizaram a modernidade[4]. Já para outros pensadores e sociólogos, a revolução da tecnologia da informação e a reestruturação do capitalismo foram suficientes para introduzir uma nova forma social. É o caso de Manuel Castells, para quem a «cultura da virtualidade real construída a partir de um sistema de mídia onipresente, interligado e altamente diversificado», que terminou por transformar as «bases materiais da vida – o tempo e o espaço – mediante a criação de um espaço de fluxos e de um tempo intemporal», caracteriza um novo sistema social, que chama de a sociedade em rede[5]. Castells argumenta que a Internet é muito mais do que simples tecnologia, é o meio de comunicação que constitui a forma organizativa de nossas sociedades[6].
A sociedade, realmente, não é um elemento estático, mas um corpo em constante mutação. A história humana é marcada por certas «descontinuidades» e não tem uma forma homogênea de desenvolvimento. Existiram e podem ser identificadas certas «descontinuidades» ou pontos de transição em várias fases do processo evolutivo social, como, por exemplo, na transição entre sociedades tribais e a emergência de estados agrários[7]. Talvez ainda não dispomos de elementos suficientes para identificar uma «descontinuidade» capaz de separar as novas instituições sociais (pós-modernas) da ordem social anterior. Os modos de vida produzidos pelas tecnologias da informação não nos desvencilharam de todos os tipos de relacionamentos sociais preexistentes. Mas as mudanças ocorridas nas últimas décadas foram tão dramáticas e tão abrangentes que não podem ser comparadas a qualquer outro período compreendido na modernidade. As formas de interconexão social que cobrem o globo promoveram ondas de transformação social em ritmo e escopo diferentes de outros períodos históricos precedentes. A sociedade contemporânea está inserida em um processo de mudança, em que as tecnologias são as principais responsáveis, criando novos paradigmas sociais. Assim, de certo modo não é tão relevante identificar um momento exato de transição, se já saímos de uma fase histórica para outra ou se houve um deslocamento definitivo das instituições sociais modernas. Parece-nos ter maior importância compreender as consequências dessas transformações sócio-institucionais promovidas pela revolução tecnoeconômica. Com o nascimento e desenvolvimento de novas estruturas sociais, a partir das redes de comunicação em escala global, é mais interessante analisar as transformações e suas conseqüências.
2. Desterritorialização x territorialização
As principais transformações sociais promovidas pela revolução tecnológica devem ser analisadas sob o prisma da relação entre tempo e espaço, alterada pelas comunicações em redes de alcance mundial. Essa questão está relacionada com as condições nas quais o tempo e o espaço são organizados de forma a vincular situações de presença e ausência. O cálculo do tempo que constituía a base da vida cotidiana sempre foi vinculado a uma noção de lugar. Havia uma vinculação do tempo e do espaço pelos sistemas sociais. As barreiras geográficas sempre serviram como limites dos sistemas sociais, no sentido de que as pessoas se relacionavam umas com as outras num cenário físico. O lugar ou a localidade em que as pessoas estavam situadas geograficamente sempre esteve intimamente relacionado (e limitando) as atividades sociais delas. A atividade social reservava seus «encaixes» nas particularidades dos contextos de presença (física). Como explica Giddens, «nas sociedades pré-modernas, espaço e tempo coincidem amplamente, na medida em que as dimensões espaciais da vida social são, para a maioria da população, e para quase todos os efeitos, dominados pela «presença» – por atividades localizadas. O advento da modernidade arranca crescentemente o espaço do tempo fomentando relações entre outros «ausentes», localmente distantes de qualquer situação dada ou interação face a face»[8].
Com o dinamismo da sociedade em rede, marcada por interconexões comunicativas que perpassam barreiras geográficas (e os limites naturais de sistemas políticos e ordens culturais), esse processo do deslocamento da relação tempo-espaço (lugar) vem a ser estimulado poderosamente. Na verdade, e como adverte Giddens, esse processo de distanciamento entre as noções de tempo-espaço não é uma característica original da sociedade da informação. A modernidade já conhecera, como ele diz, outros mecanismos de «desencaixe» dos sistemas sociais[9]. Por «desencaixe», ele se refere ao deslocamento das relações sociais de contextos locais de interação e sua reestruturação através de extensões indefinidas de tempo-espaço. Ao lado do desenvolvimento das comunicações e dos sistemas de transporte, que possibilitaram a interação social além dos contextos locais, ele cita o dinheiro como um mecanismo de desencaixe. Ele explica: «O dinheiro é um modo de adiamento, proporcionando os meios de conectar crédito e dívida em circunstâncias em que a troca imediata de produtos é impossível. O dinheiro, pode-se dizer, é um meio de retardar o tempo e assim separar as transações de um local particular de troca. Posto com mais acurácia, nos termos anteriormente introduzidos, o dinheiro é um meio de distanciamento tempo-espaço. O dinheiro possibilita a realização de transações entre agentes amplamente separados no tempo e no espaço»[10]. Giddens tem razão nessa observação das consequências da utilização do dinheiro como fator de deslocamento do tempo em função do local (espaço físico), nas relações sociais, sobretudo agora em que o dinheiro é independente dos meios físicos (papel ou moeda) pelos quais ele era representado, assumindo a forma de pura informação armazenada em computadores de instituições financeiras. Mas nada é comparável, em termos de recombinação da equação tempo-espaço, com as transformações que são proporcionadas com a utilização das tecnologias da informação. As comunicações em redes informáticas são capazes de conectar o local e o global de forma que seria impensável tempos atrás, alterando a rotina e a vida de milhões de pessoas e criando uma estrutura de ação e experiência genuinamente mundial.
As características peculiares das novas estruturas comunicativas das redes de computadores, que têm na Internet o exemplo mais fidedigno e evoluído, proporcionaram profundas transformações nas relações humanas, em especial no modelo político-administrativo centralizador moderno, fortemente marcado pelo aspecto geográfico na sua definição. A possibilidade de o usuário interagir com a informação, o que não acontece em se tratando dos meios de mídia clássicos (como o rádio e a televisão, que funcionam somente irradiando informações de um ponto central), bem como o aumento da velocidade que as transmissões em rede vêm adquirindo a cada dia, encurtando as distâncias geográficas a ponto de torná-las insignificantes, estariam nos levando a um novo e abrangente processo de «desterritorialização»[11].
Conceito cunhado por Deleuze e Guattari[12], para quem ao longo da história o homem teria sofrido três grandes processos de desterritorialização, essa nova fase seria bem mais profunda e não identificada a um simples deslocamento físico de um espaço para outro, mas sobretudo mental. Primeiramente os selvagens ocupavam uma pequena área circunscrita ao espaço geográfico onde viviam, depois os bárbaros habitaram território mais amplo, até chegar aos povos civilizados organizados em Estados-nação. O poder político e social sempre esteve vinculado a territórios geográficos, exercido por um chefe de tribo, um rei, um parlamento, mas sempre circunscrito a um determinado espaço geográfico, dentro do qual o poder do soberano era quase absoluto. Mesmo numa democracia, o poder político central tem grande influência na vida dos cidadãos, por meio do estabelecimento da estrutura social, do ordenamento legal, de normas econômicas, de praticamente tudo, enfim. Dentro do ciberespaço, onde fronteiras geográficas inexistem, isso tende a se modificar.
Pierre Lévy delineia uma quarta desterritorialização[13], sendo esta uma mudança para o que ele chama de espaço do saber. Em outras palavras, a Internet criou um espaço alternativo de comunicação, livre da ingerência dos governos territoriais, que perderam o poder de determinar o que as pessoas devem estudar, o que fazer e pensar e a quem devem se associar. Dentro do ciberespaço, formam-se grupos auto-organizados, que realizam o ideal de democracia direta, sem necessidade de delegação de poder a representantes. As pessoas se relacionam cada vez mais de acordo com os seus interesses específicos, deixando de se identificar como deste ou daquele país; passam a ser integrantes desta ou daquela comunidade, cujos membros podem estar espalhados pelo mundo afora. Esse fenômeno, inclusive, já começa a ser denominado por alguns pensadores e filósofos como o «neomedievalismo», numa alusão à organização social da Europa medieval, onde o poder político e a autoridade não eram geograficamente definidos.
O ciberespaço é realmente desterritorializante, no sentido de que permite o acesso à informação ilimitada e propicia interação social além de fronteiras físicas. Um internauta que acessa a rede mundial e navega no espaço informacional infinito, vivencia um processo desterritorializante, sem sair do lugar. Mas não devemos ter a idéia do ciberespaço apenas como instrumento do desencaixe físico e da compressão espaço-tempo ou como portador de processos desterritorializantes. A dinâmica social propiciada pelas tecnologias da informação é mais complexa. Em meio ao processo mais amplo de desterritorialização, podem ser visualizados fenômenos de territorialização[14] no ciberespaço. «Desterritorializado, o homem se vale de meios técnicos e simbólicos para reterritorializar-se, construindo seu habitat»[15]. O ciberespaço nasce como espaço estriado, instrumento da sociabilidade coletiva, e vai sendo, pouco a pouco, reterritorializado por «novos agenciamentos da sociedade»[16].
O que possibilita a formação de novos «territórios» é o controle dos fluxos informacionais, em determinadas sub-áreas do ciberespaço. Como já afirmava Raffestin, «o acesso ou o não-acesso à informação comanda o processo de territorialização, desterritorialização da sociedade»[17]. Com efeito, existem certas áreas no ciberespaço que são controladas efetivamente por algumas pessoas, que limitam o acesso à determinada informação. As pessoas que constroem um site, que moderam um chat, que gerenciam uma plataforma de rede P2P ou que monitoram um blog, promovem reterritorializações, na medida em que controlam, nesses subespaços, o fluxo de informações. Todo espaço, físico ou eletrônico, apropriado por alguma força de forma exclusiva, se transforma em um território. Em resposta aos múltiplos engajamentos que propiciados pela utilização das tecnologias da informação, os controladores dessas subáreas marcam no ciberespaço a sua territorialidade.
Essa interferência de múltiplos agentes controladores do fluxo informacional, modificando a estrutura nascente do ciberespaço, «territorializando-o», deu margem ao surgimento de agrupamentos humanos em redes de relacionamentos de interesses específicos e comuns (sejam religiosos, sociais, profissionais etc.). Esses agrupamentos, identificados por outros elementos, como p.ex. o sentimento de pertencimento[18], podem assumir características de verdadeiras comunidades virtuais. Rheingold, um dos primeiros autores a utilizar esse termo, diz que:
«As comunidades virtuais são agregados sociais que surgem na Rede (Internet) quando uma quantidade significativa de pessoas promove discussões públicas num período de tempo suficiente, com emoções suficientes, para formar teias de relações pessoais no espaço cibernético (ciberespaço)»[19].
As subáreas ou «novos territórios» servem como locos para o estabelecimento das comunidades virtuais. As listas de discussão, os chats, os blogs e outros «lugares» de «assentamento» no ciberespaço não são propriamente as comunidades, não podendo ser confundidos com estas. Servem como suporte da comunidade ou, no dizer de Jones[20], de virtual settlement. Como explica Raquel da Cunha Recuero, sobre a concepção do virtual settlement:
«As idéias de Jones trazem alguns pontos que podem ajudar-nos a esclarecer um pouco a idéia de «comunidade virtual». Se agregarmos, como o próprio autor determina, ao conceito de comunidade virtual o de virtual settlement, veremos que também existe como condição para a comunidade virtual, a existência de um espaço público, onde a maior parte da interação da comunidade se desenrole. Este espaço, por si só não constitui a comunidade, mas a completa. A comunidade precisa, portanto, de uma base no ciberespaço: um lugar público onde a maior parte da interação se desenrole. A comunidade virtual possui, deste modo, uma base no ciberespaço, um senso de lugar, um locus virtual. Este espaço pode ser abstrato, mas é «limitado», seja ele um canal de IRC, um tópico de interesse, uma determinada lista de discussão ou mesmo um determinado MUD. São fronteiras simbólicas, não concretas[21].
Cada comunidade virtual, portanto, se desenvolve a partir de um «local» no ciberespaço que serve como referência para o estabelecimento das comunicações de interesse de seus membros. É o suporte tecnológico da comunidade; não é a verdadeira comunidade, pois o que identifica realmente esta é o senso de traço comum, de identificação de interesses. A comunidade virtual pode ocupar um «lugar» no ciberespaço (virtual settlement), que pode ser um site, um blog, um canal de chat, uma lista de discussão (no Yahoo Groups, p.ex), um determinado espaço em um site que gerencia rede de relações sociais (como, p.ex., no Orkut), só para citar alguns. Mas o que a caracteriza é a identificação de interesses comuns, é a união de pessoas para a realização de objetivos comuns[22]. Para se formar, a comunidade pressupõe, portanto, a interatividade na relação entre seus membros, que se unem movidos por um sentimento de pertencimento. Este é o sentido de ligação, a sensação ou consciência que as pessoas têm de que «são partes de um mesmo corpo» e sentem-se responsáveis por ele.
3. Sociabilização no ciberespaço
A existência das comunidades virtuais faz solapar de uma só vez dois tabus que insistiam em permanecer no que diz respeito às relações sociais nas redes informáticas. O primeiro, de que não poderia ser transportado para o ciberespaço o conceito tradicional de comunidade, relacionado à idéia de uma base territorial (física). A existência de uma base territorial sempre fora, até então, um dos requisitos do conceito de comunidade defendido pela sociologia clássica. Muitos autores criticavam a idéia de uma comunidade virtual justamente por não conseguirem conceber comunidade sem um território físico delimitado, um lugar que propiciasse a interação das pessoas. Agora se sabe que ciberespaço (a exemplo de um lugar físico, como a vizinhança, a cidade, o bairro) permite que as pessoas, mesmo que não vivam em um mesmo lugar, estabeleçam relações entre si e obedeçam a convenções comuns. As tecnologias da informação, ao alterarem a equação espaço-tempo, possibilitaram as condições para a existência de relações entre pessoas separadas fisicamente. Território físico, portanto, não é mais condição para a formação de uma comunidade ou grupo social.
O segundo tabu tinha a ver com as previsões sombrias feitas por alguns pensadores, em relação às modificações na forma de relacionamento humano nos espaços virtuais. Alguns pensadores, considerados «apocalípticos», viam na virtualização das relações por meio telemático um caminho para a degeneração dos valores humanos e para a perda de referências físicas e psíquicas. Baudrillard, por exemplo, chegava a alertar para os perigos das novas tecnologias da informação[23], que podem proporcionar o fim da cultura, das artes etc. Lucien Sfez, por sua vez, aponta o tautismo (que seria uma síntese de tautologia + autismo), para definir o estado de alheamento do homem do mundo exterior, na realização de tarefas repetidas e troca de informações no espaço virtual, como paradigma da nova sociedade da informação[24].
Realmente, não podemos deixar de concordar que as novas tecnologias de comunicação estão proporcionando o aparecimento de um estilo de vida diferente de tudo o que estamos acostumados a vivenciar. O que não nos parece seguro é afirmar que as relações humanas estão sendo enfraquecidas pelas relações tecnológicas; melhor seria dizer que as relações humanas encontraram nova forma de expressão e desenvolvimento, completamente distintos do padrão a que estamos acostumados. De fato, computadores operando em rede estão produzindo uma transformação tão fantástica e assustadoramente veloz na forma como as coisas se processam na sociedade, que o melhor seria tentar compreender como a Internet funciona e como se transforma[25], antes de se anunciar qualquer catástrofe do tipo da massificação e homogeneização do homem.
Como tivemos oportunidade de enfatizar[26], as novas tecnologias da informação, sintetizadas no acesso à internet, constituem meios admiráveis para o descobrimento, a invenção e a criação humanas. As transformações que permitem são imensamente favoráveis aos indivíduos. A cultura e as artes ou qualquer outra forma de expressão da inteligência e sensibilidade humanas tendem a se desenvolver nesse novo mundo virtual, e não ao contrário. Nem tampouco iremos caminhar em direção a um futuro em que os homens passarão a viver num isolacionismo cada vez maior, alheado às relações com seus semelhantes mais próximos. Em primeiro lugar porque é um engano pensar que com o surgimento do ciberespaço o ambiente natural vai ser alterado. O ciberespaço preserva os espaços antecedentes, do mundo concreto e físico, onde as atividades tradicionais irão permanecer. As relações interpessoais, sem a mediação dos meios eletrônicos de comunicação, continuarão a ser estabelecidas nas formas com que estamos acostumados[27]. Em segundo lugar porque a marca mais acentuada da Internet é o cooperativismo, e não o isolamento. Isso tem explicação na própria origem da internet, nascida em meios acadêmicos, utilizada para troca de informações entre pesquisadores, mas também retrata a imensidão da rede, que ninguém, sozinho, consegue dominar e conhecer todo o seu funcionamento, daí porque necessita ser construída coletivamente, com o predomínio de uma ética que valoriza a troca de informações. Por fim, é preciso atentar que a internet é uma mídia totalmente diferente dos «classics media», ou seja, da mídia tradicional – o rádio e a televisão-, que funcionam pela irradiação das informações de uma fonte centralizada. Em razão de sua estrutura toda baseada no padrão de rede – ponto a ponto -, permite estabelecer um processo de comunicação interativo[28].
De um modo geral, portanto, a vida em rede não acarreta problemas para o processo de sociabilização. A rede de computadores não é um agente desumanizador ou de isolamento do ser humano. A vida em rede, como já previa Pierre Levy, traz mais vantagens do que desvantagens, porquanto possibilita contatos mais frequentes e produtivos, aproximando os atores sociais. Abre o caminho para acompanharmos «as tendências mais positivas da evolução em curso e criarmos um projeto de civilização centrado sobre os coletivos inteligentes: recriação do vínculo social mediante trocas de saber, reconhecimento, escuta e valorização das singularidades, democracia mais direta, mais participativa, enriquecimento das vidas individuais, invenção de formas novas de cooperação aberta para resolver os terríveis problemas que a humanidade deve enfrentar, disposição das infra-estruturas informáticas e culturais da inteligência coletiva»[29].
4. Pluralidade ou fragmentação das identidades culturais na pós-modernidade
Como estágio final desse trabalho, abordaremos as conseqüências sócio-culturais decorrentes do surgimento das comunidades virtuais, em termos de formação de identidades individuais. A partir do momento em que as pessoas se reúnem em grupos sociais, através de um suporte tecnológico que lhes possibilite compartilhar interesses comuns (comunicação interativa), experimentam práticas culturais específicas que constitui a chamada cibercultura[30]. As comunidades virtuais, ao mesmo tempo em que permitem uma maior aproximação entre as pessoas de todo o mundo, propiciam a que elas encontrem satisfações individualizadoras, focando suas relações com outros indivíduos com quem guardem vocações identitárias. Como descreve Cynthia H. Watanabe Corrêa:
«O fato curioso e até paradoxal desse período é que, embora a sociedade esteja conectada mundialmente via redes de computador e o próprio contato ou interação social possa acontecer em intervalos de segundos, o homem cada vez mais sente a necessidade de se integrar a grupos sociais, de se envolver com pessoas que compartilhem algo comum, com as quais tenha certa identificação, enfim, há um retorno à busca de características que lhe forneçam uma identidade, uma forma de se fazer reconhecer diante de outros»[31].
Guattari já analisava o processo de subjetivação operado pelas novas tecnologias de comunicação. Para ele, elas apontam para um movimento duplo e simultâneo, de «homogeneização universalizante e reducionista da subjetividade e uma tendência heterogenética, quer dizer, um reforço da heterogeneidade e da singularização de seus componentes»[32]. Bauman destacou que esse paradoxo é um dos efeitos do processo de globalização, que produz «guerras de identificação»:
«A busca frenética por identidade não é um resíduo dos tempos pré-globalização que ainda não foi totalmente extirpado, que tende a se tornar extinto conforme a globalização avança; ele é, pelo contrário, o efeito colateral e o subproduto da combinação das pressões globalizantes e individualizadoras e das tensões que elas geram. As guerras de identificação não são nem contrárias nem estão no caminho da tendência globalizante: são crias legítimas e companhias naturais da globalização, e, longe de deter sua marcha, lubrificam suas rodas»[33].
Esse paradoxo de forças de aglutinação cultural com bases cada vez mais «locais» em um mundo estruturado por processos cada vez mais globais, também foi observado por Manuel Castells. Segundo ele, esse retorno à identificação cultural[34] singular pode ser explicado como um movimento defensivo, de reação à homogeneização cultural provocada pela globalização. A formação de redes e flexibilidade nos contatos interpessoais, «tornam praticamente indistintas as fronteiras da participação de envolvimento», atomizando os vínculos pessoais, daí a necessidade de as pessoas se agarrarem a suas referências culturais, «recorrendo à sua memória histórica». A construção da identidade na sociedade em rede, segundo Castells, passa pela formação das «comunas culturais da era da informação», que têm forte cunho religioso ou apelo a significados de nacionalidade, como «reações defensivas contra as condições impostas pela desordem global e pelas transformações, incontroláveis e em ritmo acelerado». Abaixo segue trecho do que ele diz sobre esse aspecto da formação cultural defensiva:
«Para os atores sociais excluídos ou que tenham oferecido resistência à individualização da identidade relacionada à vida nas redes globais de riqueza e poder, as comunas culturais de cunho religioso, nacional ou territorial parecem ser a principal alternativa para a construção de significados em nossa sociedade. Essas comunas culturais são caracterizadas por três principais traços distintivos. Aparecem como reações a tendências sociais predominantes, às quais opõem resistência em defesa de fontes autônomas de significado. Desde o princípio, constituem identidades defensivas que servem de refúgio e são fontes de solidariedade, como forma de proteção contra um mundo externo hostil. São construídas culturalmente, isto é, organizadas em torno de um conjunto específico de valores cujo significado e uso compartilhado são marcados por códigos específicos de auto-identificação: a comunidade de fiéis, os ícones do nacionalismo, a geografia do local».
E continua mais adiante:
«Tais reações defensivas tornam-se fontes de significado e identidade ao construírem novos códigos culturais a partir da matéria-prima fornecida pela história. Devido ao fato de que os novos processos de dominação aos quais as pessoas reagem estão embutidos nos fluxos de informação, a construção da autonomia tem de se fundamentar nos fluxos reversos de informação. Deus, a nação, a família e a comunidade fornecerão códigos eternos, inquebrantáveis, em torno dos quais uma contra-ofensiva será lançada contra a cultura da realidade virtual. A verdade eterna não pode ser virtualizada. Ela está incorporada em nós. Assim, contra a informacionalização da cultura, os corpos são informacionalizados. Quer dizer, os indivíduos carregam os seus deuses no coração. Não raciocinam, acreditam. São a manifestação corpórea dos valores eternos de Deus e, como tal, não podem ser dissolvidos, perdidos em meio ao turbilhão dos fluxos de informação e das redes inter-organizacionais»[35].
Stuart Hall, da mesma maneira, enxergou esse antagonismo da construção de identidades singulares num mundo pós-globalização, mas alertando que se trata de um fenômeno típico da pós-modernidade, em que as identidades estão sendo fragmentadas ou «descentradas»[36]. A globalização, que produz a extração das relações sociais dos contextos locais de interação e sua reestruturação ao longo de escalas indefinidas de espaço-tempo, teria promovido um impacto sobre a identidade cultural, desarticulando as identidades estáveis do passado e abrindo possibilidades para novas articulações sociais: a criação de novas identidades. Na nova sociedade, as pessoas não passariam a ser identificadas por apenas uma categoria identitária, ligada à classe social ou ao sentimento de nacionalidade. As identidades culturais nacionais, explica ele, é que estão sendo mais duramente afetadas ou «deslocadas» pelo processo de globalização. As culturas nacionais em que nascemos se constituem em uma das principais fontes de identidade cultural. «A nação não é apenas uma entidade política mas algo que produz sentidos – um sistema de representação cultural. As pessoas não são apenas cidadãos/ãs legais de uma nação; elas participam da idéia da nação tal como representada em sua cultura nacional. As culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre a «nação», sentidos com os quais podemos nos identificar, constroem identidades»[37]. As identidades nacionais, que foram uma vez centradas, coerentes e inteiras, estão sendo agora deslocadas pelo processo de globalização. As culturas nacionais, que dominaram o período da modernidade como expressão de uma identidade unificada (cultura de «um único povo»), estão perdendo a importância diante de outras fontes, mais particularistas, de identificação cultural. «Uma maior interdependência global está levando ao colapso de todas as identidades culturais fortes» e está produzindo a fragmentação de códigos culturais, uma multiplicidade de estilos, o «pluralismo cultural». «À medida em que as culturas nacionais tornam-se mais expostas a influências externas, é difícil conservar as identidades culturais intactas ou impedir que elas se tornem enfraquecidas através do bombardeamento e da infiltração cultural»[38].
Além de evidenciar a diminuição do sentimento de nacionalidade como base única (ou principal) da construção identitária, Hall também enfatiza, como fizeram outros autores, a tensão entre o «global» e o «local» na transformação das identidades. Se, por um lado, há uma tendência em direção à homogeneização cultural (global), «há também uma fascinação com a diferença e com a mercantilização da etnia e da alteridade»[39]. Ele explica que a «globalização» é sobretudo um fenômeno ocidental, um processo de «ocidentalização», consistente na exportação dos produtos e valores ocidentais para o restante do mundo. O processo de homogeneização cultural é produzido, portanto, pelas «indústrias culturais das sociedades ocidentais»[40]. Mas ao lado da homogeneização cultural, também se verifica um fortalecimento das identidades «locais» (comunitárias). Embora possa ser aparentemente contraditório, a globalização promove da mesma forma uma produção de novas identidades. Na verdade, não é propriamente um processo de formação de novas identidades, mas de re-identificação com as culturas de origem, com sentimentos religiosos e outras formas de particularismos. Conquanto o processo de «globalização» indicasse inicialmente que o apego ao local e ao particular daria gradualmente vez a valores e identidades mais universalistas e cosmopolitas ou universais, ocorreu uma virada bastante inesperada dos acontecimentos. A globalização resulta na produção de novas identidades «globais» e novas identificações «locais», de forma simultânea.
A exemplo de Castells, Stuart Hall também aponta no ressurgimento ou reforço das identidades particularistas uma forma de resistência ao processo de globalização. Só que, como a globalização nada mais é do que uma «ocidentalização», a reação ocorre em relação aos valores da cultura capitalista ocidental. Ele não deixa de concluir, no entanto, que, na pós-modernidade (que ele também chama de modernidade tardia), o mundo caminha não para uma divisão estanque entre formas identitárias de conotações e origens diferentes, mas para um hibridismo cultural, no sentido de que as pessoas passam pertencer a diferentes culturas ou culturas híbridas. Sobre a globalização, ele diz que «ela tem um efeito pluralizante sobre as identidades, produzindo variedade de possibilidades e novas posições de identificação, e tornando as identidades mais posicionais, mais políticas, mais plurais e diversas, menos fixas, unificadas ou trans-históricas»[41]. O hibridismo, consistente na fusão entre diferentes tradições culturais, produzindo novas formas de cultura, mais apropriadas à modernidade tardia, é fruto «desses complicados cruzamentos e misturas culturais que são cada vez mais comuns num mundo globalizante»[42].
5. A construção de identidades nas comunidades virtuais
O desenvolvimento de comunidades virtuais segue essa tendência da pós-modernidade, de deslocamento cultural, de fragmentação identitária, com abertura de possibilidades de construção de novas e múltiplas identidades. Como as estruturas comunicativas da rede permitem a uma pessoa relacionar-se com outras situadas a uma grande distância, isso possibilita a que ela seja confrontada com uma diferente gama de culturas e escolher aquelas com as quais mais se identifique. É nesse contexto de perda das referências exclusivamente físicas, que os indivíduos buscam se relacionar com seus semelhantes, selecionando suas marcas identitárias.
Historicamente, o homem sempre sentiu a necessidade de se integrar a grupos sociais, de se envolver com pessoas com quem compartilhe algo em comum, com as quais tenha certa identificação. Esse mecanismo de agregação social guiado pela busca de afinidades permanece no âmbito do ciberespaço, apenas com algumas características próprias decorrentes da natureza das interações nos ambientes desmaterializados. Antecedentemente à introdução das tecnologias da informação no cotidiano da vida das pessoas, a construção de identidades culturais ficava quase sempre presa a limitações decorrentes dos fatores geográficos. Era uma espécie de «processo impositivo», tendo em vista que o indivíduo ficava preso a desenvolver laços sociais com as pessoas que trabalhavam ou viviam na mesma localidade (território físico), tendo que aderir aos símbolos sociais e significações culturais compartilhados pela comunidade geográfica. Sem instrumentos tecnológicos que possibilitassem uma comunicação além dos limites geográficos de sua comunidade original, terminava refém da localidade no processo de formação da sua identidade cultural. Com a aproximação das pessoas por meio das tecnologias comunicativas, elas passaram a poder desenvolver suas relações sociais e construir suas identificações culturais seguindo o critério da eletividade, no sentido que são livres para escolher a que comunidade virtual ou grupo de pessoas se vincular, mesmo que estas estejam muito distantes do ponto de vista geográfico.
O professor Marcos Palácios já destacava a eletividade como sinal distintivo das comunidades virtuais, em relação às comunidades tradicionais (de base territorial), ao explicar que o sentimento de «pertencimento» no ciberespaço não está associado a um território geográfico. Nas comunidades antecessoras ao processo de interconectividade global, o sentimento de «pertencimento» estava indissoluvelmente associado ao território concreto. No ciberespaço, esse sentimento se prende à própria comunidade em si, aos interesses que os integrantes têm nos assuntos em comum. Segundo Palácios, tratando-se de ambientes desmaterializados, existe uma eletividade do pertencimento, no sentido de que é possível escolher a comunidade da qual se quer fazer parte. «O indivíduo só pertence se, quando e por quanto tempo estiver, efetivamente, interessado em fazê-lo»[43].
O aspecto eletivo da busca de novas características identitárias na sociedade em rede, a partir da formação de comunidades virtuais, constitui efetivamente uma das notas distintivas em relação às comunidades tradicionais (desconectadas). Alguns autores já qualificaram esse novo processo de integração social como «privatização da sociabilidade», que caracterizaria a integração social mais fortemente marcada pelo elemento eletivo na aproximação das pessoas. Nas comunidades virtuais, os indivíduos constroem laços sociais com base em identificações; fazem escolhas guiadas por semelhanças de idéias e sentimentos com os demais membros da comunidade. Quem destaca bem essa particularidade da «sociabilidade virtual» é Cynthia Watanabe Corrêa, que aponta a circunstância de que as comunidades virtuais surgem de forma espontânea, quando se estabelecem agrupamentos em torno de afinidades:
«O indivíduo não é obrigado a integrar determinada comunidade, a motivação é individual, é eletiva, subjetiva. Essa possibilidade de optar por traços de identificação é o que a diferencia do modelo tradicional de atribuição de identidades culturais, como o caso da identidade nacional, em que todo um povo era obrigado a aderir a determinados símbolos nacionais, como hino e bandeira, e a manter vínculos a lugares, datas comemorativas, histórias e a tradições específicas, por exemplo.
Na comunidade virtual, o indivíduo escolhe, elege qual comunidade quer fazer parte, sendo a principal motivação seu interesse particular em um ou mais assuntos em que percebe uma identificação e encontra pessoas com quem possa compartilhar idéias e promover discussões públicas, uma vez que a interação mútua, relação recíproca que ocorre entre as pessoas mediadas pelo computador, é fundamental para o estabelecimento e consolidação de comunidades virtuais»[44].
A tecnologia influencia as formas de sociabilidade, como se constata. A utilização das tecnologias da informação provoca mudanças na interação entre as pessoas, fazendo surgir novos meios de sociabilidade, diferentes em alguns aspectos, porém semelhantes em outros, com os agrupamentos sociais antigos. Acima foram evidenciadas duas marcas que distinguem as comunidades virtuais de seus antigos padrões off-line, quais sejam, o deslocamento do sentimento de pertencimento do espaço territorial (lugar físico) e a eletividade na formação dos grupos de interesses. Mas ainda podemos citar uma terceira, consistente na pluralização das identidades nos ambientes virtuais.
Sem estarem mais submetidas a limitações geográficas, em razão do encurtamento das distâncias (noção de espaço-tempo) proporcionado pelas tecnologias comunicativas, as pessoas optam por pertencer a uma ou outra comunidade, mas essa facilidade também leva a que terminem por pertencer a diversas aglutinações sociais. No ciberespaço, é comum a pessoa participar de várias comunidades, ligando-se a vários e separados grupos ou movimentos sociais, dos mais diversos matizes ideológicos, políticos ou econômicos. Trata-se de outra consequência ou desdobramento da universalização da informação e facilidade de comunicação. Encontrando traços identitários em mais de uma comunidade, pela existência de interesse em determinados assuntos, o internauta tende a se aproximar e participar efetivamente de mais de um desses novos agenciamentos da sociedade interconectada. «O indivíduo, ao se inserir em comunidades virtuais, busca na realidade traços de identificação e não uma identidade única. Assim, um mesmo indivíduo pode fazer parte de diversas comunidades, dependendo de seu grau de interesse, adotando uma «pluralização» de identidades, quando a hibridização cultural acontece na prática»[45]. Ocorre uma «potencialização» da capacidade de relacionamentos que um sujeito pode estabelecer no ciberespaço, já que pode se engajar em grupos sociais e fazer parte de quantas comunidades desejar. Portanto, não é sem razão afirmar que a sociabilidade, nos ambientes das redes informáticas, se apóia sobre múltiplas «identificações».
6. Uma cultura pós-massiva?
Alguns autores, em face das peculiaridades das relações sociais nas redes telemáticas, sustentam que a cibercultura contrapõe-se à cultura de massas que caracterizou a modernidade. A massificação cultural que marcou a modernidade, sobretudo pela difusão dos meios tradicionais de comunicação social (como o rádio, a televisão e a mídia impressa), era caracterizada pela padronização de comportamentos e estilo de vidas semelhantes. A noção de massa, para efeitos de estudos sociológicos, remonta ao pensamento de Augusto Comte, do século 19, e «traz à tona a perda de um senso do indivíduo para a coletividade, algo como um conjunto de pessoas indissociáveis, indiferenciáveis, que passam a adotar padrões de comportamento e estilos de vida semelhantes, mesmo vivendo em contextos culturais distintos»[46]. A padronização comportamental ou cultura de massas pôde ser vivenciada a partir da revolução industrial e da urbanização. Os meios de comunicação sociais da primeira revolução tecnológica, como a televisão e o cinema, somaram-se à mídia impressa e ao rádio, favorecendo a massificação cultural, pois permitiram a disseminação da informação de forma simultânea para grandes camadas da população, tornando-se conhecidos como «meios de comunicação de massa». Hodiernamente (na pós-modernidade), com grande parte da interação social acontecendo por meio da formação de comunidades no ciberespaço, estaria havendo a superação do coletivismo, tal como a cultura de massas o representava[47]. O produto cultural agora é personalizável. As pessoas consumem o que querem, conforme suas vocações identitárias, filiando-se a determinados nichos de fluxos informacionais (comunidades virtuais) existentes no ciberespaço. Experiências comunicacionais na Internet através de blogs, sites, chats e outros nichos ou ciberlocais representariam a perda do sentido coletivo, já que levam a particularismos de identificações culturais.
Preferimos, no entanto, seguir com a visão dos que enxergam, na Internet, possibilidades de compartilhamento de experiências de comunicação, sem uma compartimentação entre meio de comunicação massivo ou não massivo. Existem diversas ferramentas de comunicação, que nem sempre são experimentadas apenas por alguém que está segregado em subespaços da rede, e que promovem efetivamente uma disseminação da informação de forma massificada, atingindo um imenso número de pessoas, que podem ser influenciadas em termos de aculturação. Veja-se, por exemplo, o caso do Youtube, plataforma de edição instantânea de vídeos onde são colocados produtos audiovisuais consumidos ao mesmo tempo por milhões de pessoas. Essa ferramenta permite entrever, como lembra Thiago Soares[48], que a Internet não eliminou as instituições da indústria cultural de massa. Os meios de comunicação, hoje, são complemento um do outro[49]. A Internet não acaba como os jornais e periódicos mantidos por empresas jornalísticas (típicos meios de comunicação de massa), que inclusive migram para os ambientes da rede, em versões eletrônicas.
A cibersociabilidade alimentada pelas tecnologias da informação é uma nova e complexa realidade, multifacetária, que promove difusão da comunicação e relações de sociabilidade virtual em diversos cenários. Esse processo disforme favorece muito mais a «hibridização» do que a «massificação» ou o «particularismo» cultural. Como previra Stuart Haal, parece improvável que a pós-modernidade vá simplesmente destruir as identidades ou formas de interação tradicionais. «É mais provável que ela vá produzir, simultaneamente, novas identificações «globais» e novas identificações «locais». Uma coisa é certa: o ciberespaço nunca será um ambiente controlado por poucas pessoas ou um poder político único, que imponha o que devemos ler, o que devemos consumir, o nosso modo de pensar ou de agir. A Internet é um corpo descentralizado, desprovido de organização, que abre contínuas brechas para a interação social, sem obedecer a um controle de poucos homens. Na verdade, trata-se da mais fantástica ferramenta de comunicação interpessoal já vivenciada, com uma força libertadora muito superior à qualquer outra invenção humana.
7. Conclusões:
1ª. A possibilidade de o usuário interagir com a informação e o aumento da velocidade que as transmissões em rede vêm adquirindo a cada dia, encurtando as distâncias geográficas a ponto de torná-las insignificantes, estão nos levando a um novo e abrangente processo de «desterritorialização». Em meio ao processo mais amplo de «desterritorialização», podem ser visualizados fenômenos de «territorialização» no ciberespaço, que nasce como espaço aberto, mas vai sendo, pouco a pouco, reterritorializado pelo surgimento de comunidades virtuais.
2ª. O desenvolvimento de comunidades virtuais facilita a pluralização identitária do cidadão do ciberespaço (internauta), já que, podendo relacionar-se com outras pessoas situadas a uma grande distância, ele é confrontado com uma diferente gama de culturas e termina escolhendo mais de uma com as quais compartilhe interesses e sentimentos comuns.
3ª. A cibersociabilidade é uma nova e complexa realidade, multifacetária, que promove difusão da comunicação e relações de trocas interpessoais em diversos cenários. Esse processo disforme favorece a «hibridização» cultural.
Referências bibliográficas
BAUDRILLARD, Jean. Televisão/revolução: O caso Romênia. In: PARENTE, A (org.). Imagem máquina: A era das tecnologias do virtual. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993.
BAUMAN, Zygmunt. A Sociedade Individualizada. Vidas contadas e histórias vividas. Editora Zahar. Rio de Janeiro. p. 193.
CASTELLS. Manuel. O Poder da Identidade. Volume II, 6ª. edição. Editora Paz e Terra, p. 17.
A Sociedade em Rede. A Era da Informação: economia, sociedade e cultura, vol. 1. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
CORRÊA, Cynthia Harumy Watanabe. Comunidades Virtuais gerando identidades na sociedade em rede. Artigo publicado na Revista eletrônica Ciberlegenda, Número 13, 2004, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense. Disponível em: http://www.uff.br/mestcii/cyntia1.htm
DELEUZE, G. e GUATTARI, F. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. Vol.1. Rio de Janeiro: Ed. 34. 1995.
GIDDENS. Anthony. As Conseqüências da Modernidade. Editora UNESP. p. 16.
HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. 11ª. edição. DP & A editora. 2006.
JUCÁ, Diego. Virtual x Real: o ciberespaço e as transformações da vida cotidiana. Artigo publicado no site UOL.
LEMOS, André. Ciberespaço e Tecnologias Móveis. Processos de Territorialização e Desterritorialização na Cibercultura. Artigo integrante da pesquisa do Grupo de Pesquisa em Cibercidades (GPC/CNPq), do Centro Internacional de Estudos e Pesquisa em Cibercultura (Ciberpequisa), da Facom/UFBA.
LÉVY, Pierre. O Que é Virtual?. Rio: Editora 34. 1996.
Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999, p. 118.
RECUERO, Raquel da Cunha. Comunidades Virtuais – Uma abordagem teórica. Trabalho apresentado no V Seminário Internacional de Comunicação, no GT de Comunicação e Tecnologias das Mídias, promovido pela PUC/RS.
REINALDO FILHO, Demócrito. Tecnologias da Informação: novas linguagens do conhecimento. Artigo publicado no site Infojus, em 26.10.99.
As comunidades virtuais: o desaparecimento dos limites geográficos na organização político-social e os riscos de surgimento de novas formas de dominação. Artigo publicado no site Infojus, em 2001. Disponível:< http:www.infojus.com.br/area/democritofilho6.html>
RHEINGOLD. Howard. La Communidad Virtual: Una Sociedad sin Fronteras. Gedisa Editorial. Colección Limites da Ciência. Barcelona.
SFEZ, Lucien. Crítica da Comunicação. Editora Instituto Piaget, Portugal. 1994.
SOARES, Thiago. E quem diria, nós ainda somos a massa. Artigo publicado no Pernambuco, suplemento cultural do Diário Oficial do Estado de PE, n. 43, setembro de 2009, editado pela CEPE – Companhia Editora de PE.
[1] Doutorando do curso de Direito da Universidade Estácio de Sá.
[2] GIDDENS. Anthony. As Conseqüências da Modernidade. Editora UNESP. p. 16.
[3] A globalização é um dos processos de aprofundamento da integração econômica, social, cultural e política, que teria sido impulsionado pelo barateamento dos meios de transporte e comunicação dos países no final do século XX e início do século XXI. Representa uma fase da expansão capitalista, pela necessidade dos países centrais (democracias ocidentais) expandirem seus mercados, em razão da saturação dos mercados internos. Com a facilitação e desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação, é possível realizar transações financeiras e expandir negócios para mercados distantes e emergentes, sem elevados custos. A comunicação no mundo globalizados permite tal expansão, porém traz como consequência o aumento da concorrência (conceito retirado da Wikipedia).
[4] Diz ele, defendendo apenas a existência de uma fase social de transição: «Devo analisar a pós-modernidade como uma série de transições imanentes afastadas – ou «além» – dos diversos feixes institucionais da modernidade que serão distinguidos ulteriormente. Não vivemos ainda num universo social pós-moderno, mas podemos ver mais do que uns poucos relances da emergência dos modos de vida e formas de organização social que divergem daquelas criadas pelas instituições modernas» (ob. cit., p. 58).
[5] CASTELLS. Manuel. O Poder da Identidade. Volume II, 6ª. edição. Editora Paz e Terra, p. 17.
[6] CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. A Era da Informação: economia, sociedade e cultura, vol. 1. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
[7] Giddens, ob. cit., p. 13. Ele explica que «a história não pode ser vista como uma unidade, ou como refletindo certos princípios unificadores de organização e transformação», mas que isso «não implica que tudo seja caos» ou resultado de «histórias» desconexas (p. 15).
[8] Ob. cit., p. 27.
[9] «O dinamismo da modernidade deriva da separação do tempo e do espaço e de sua recombinação em formas que permitem o «zoneamento» tempo-espacial preciso da vida social; do desencaixe dos sistemas sociais (um fenômeno intimamente vinculado aos fatores envolvidos na separação tempo-espaço);» (ob. cit., p. 25).
[10] Ob. cit., p. 32.
[11] REINALDO FILHO, Demócrito. As comunidades virtuais: o desaparecimento dos limites geográficos na organização político-social e os riscos de surgimento de novas formas de dominação. Artigo publicado no site Infojus, em 2001. Disponível:< http:www.infojus.com.br/area/democritofilho6.html>
[12] DELEUZE, G. e GUATTARI, F. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. Vol.1. Rio de Janeiro: Ed. 34. 1995.
[13] LÉVY, Pierre (1996). O Que é Virtual?. Rio: Editora 34.
[14] Deleuze e Guattari explicam que a humanidade vivencia historicamente processos de desterritorialização, seguidos por territorializações. São processos indissociáveis. Se há um movimento de desterritorialização, teremos também uma iniciativa de reterritorialização. A desterritorialização «é a operação da linha de fuga», o movimento pelo qual se abandona o território original, e a reterritorialização é o movimento de construção ou criação do território; no primeiro movimento, os agenciamentos se desterritorializam e no segundo eles se reterritorializam como novos agenciamentos (ob. cit., p. 224).
[15] LEMOS, André. Ciberespaço e Tecnologias Móveis. Processos de Territorialização e Desterritorialização na Cibercultura. Artigo integrante da pesquisa do Grupo de Pesquisa em Cibercidades (GPC/CNPq), do Centro Internacional de Estudos e Pesquisa em Cibercultura (Ciberpequisa), da Facom/UFBA.
[16] Ob. cit.
[17] RAFFESTIN, C., Repères pour une théorie de la territorialité humaine. In, Dupuy, G (dir.)., Réseaux Territoriaux, Caen, Paradigme, 1988. Apud André Lemos, ob. cit.
[18] O sentimento de pertencimento ou «pertença» seria a noção de que o indivíduo é parte de um todo e coopera para uma finalidade comum com os demais membros.
[19] RHEINGOLD. Howard. La Communidad Virtual: Una Sociedad sin Fronteras. Gedisa Editorial. Colección Limites da Ciência. Barcelona.
[20] JONES, Quentim. Virtual-Communities, Virtual Settlements & Cyber-Archeology – A Theoretical Outline. In Journal of Computer Mediated Communication, vol. 3 issue 3. December, 1997. Apud Raquel da Cunha Recuero.
[21] RECUERO, Raquel da Cunha. Comunidades Virtuais – Uma abordagem teórica. Trabalho apresentado no V Seminário Internacional de Comunicação, no GT de Comunicação e Tecnologias das Mídias, promovido pela PUC/RS.
[22] JUCÁ, Diego. Virtual x Real: o ciberespaço e as transformações da vida cotidiana. Artigo publicado no site UOL.
[23] BAUDRILLARD, Jean. Televisão/revolução: O caso Romênia. In: PARENTE, A (org.). Imagem máquina: A era das tecnologias do virtual. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993.
[24] SFEZ, Lucien. Crítica da Comunicação. Editora Instituto Piaget, Portugal. 1994.
[25] REINALDO FILHO, Demócrito. Tecnologias da Informação: novas linguagens do conhecimento. Artigo publicado no site Infojus, em 26.10.99.
[26] Ob. cit.
[27] Também para Diego Jucá não se deve ver nos agenciamentos virtuais uma eliminação das relações interpessoais travadas nos ambientes físicos. Diz ele sobre os novos ambientes virtuais: «É nesse contexto que surgem as ciber-cidades. Estas não devem ser pensadas como fatos isolados e substitutivos das cidades. São uma extensão, um complemento da vida urbana, instrumento do fluxo de informações e da interação entre pessoas. Diminuem as distâncias físicas, promovem o encontro de culturas diferentes e ainda criam uma nova cultura, baseada em toda essa mistura, velocidade e perda dos contatos físicos. Essa dissociação entre relações físicas e virtuais não pode ser interpretada, no entanto, como provocadora de um esvaziamento das cidades. Na verdade, as relações do ciberespaço permitem às pessoas uma maior liberdade de movimentação, já que não têm mais de ficar presas em escritórios ou bancos, por exemplo» (ob. cit.).
[28] Demócrito Reinaldo Filho. Ob. cit.
[29] LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999, p. 118.
[30] A cibercultura é a cultura contemporânea fortermente marcada pelas tecnologias digitais, mas é também um termo utilizado na definição dos agenciamentos sociais das comunidades no espaço eletrônico.
[31] CORRÊA, Cynthia Harumy Watanabe. Comunidades Virtuais gerando identidades na sociedade em rede. Artigo publicado na Revista eletrônica Ciberlegenda, Número 13, 2004, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense. Disponível em: < http://www.uff.br/mestcii/cyntia1.htm>
[32] Ob. cit., p. 15.
[33] BAUMAN, Zygmunt. A Sociedade Individualizada. Vidas contadas e histórias vividas. Editora Zahar. Rio de Janeiro. p. 193.
[34] Identidade cultural pode ser definida como o aspecto de nossa identidade que surge de nossa ligação («pertencimento») a culturas étnicas, raciais, liguísticas, religiosas e, acima de tudo, nacionais.
[35] O Poder da Identidade, p. 84 e 85.
[36] HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. 11ª. edição. DP & A editora. 2006.
[37] Ob. cit., p. 51.
[38] Ob. cit., p. 74.
[39] Aqui ele invoca argumento de Kevin Robin. Ob. cit., p. 77.
[40] As economias ocidentais mais fortes, como EUA, Japão, Alemanha, Inglaterra etc.
[41] Ob. cit., p. 87.
[42] Ob. cit., p. 88.
[43] PALACIOS, Marcos. Cotidiano e Sociabilidade no Cyberespaço: Apontamentos para uma Discussão. 1998. Apud Raquel da Cunha Recuero, ob. cit.
[44] Ob. cit.
[45] Cynthia Watanabe Corrêa, ob. cit.
[46] SOARES, Thiago. E quem diria, nós ainda somos a massa. Artigo publicado no Pernambuco, suplemento cultural do Diário Oficial do Estado de PE, n. 43, setembro de 2009, editado pela CEPE – Companhia Editora de PE.
[47] A cultura de massas também é vista sob um aspecto negativo, por representar o fim da cultura «legítima», além dos efeitos ideologizantes das mídias de massas.
[48] Ob. cit.
[49] Alguns programas de televisão no formato talkshow, nos EUA, elaboram sua pauta de entrevistas com pessoas que ficaram mais em evidência nos vídeos divulgados no Youtube na semana anterior.
A Informatização do processo judical
A Informatização do processo judical. – Da “Lei do Fax” à Lei 11.419/06: uma breve retrospectiva legislativa
O Presidente Lula sancionou a Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 (1), que disciplina a informatização do processo judicial. A Lei sancionada teve origem no Projeto de Lei 5.828/01 (2) , aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados no dia 30 de novembro daquele ano, na forma de substitutivo apresentado no Senado Federal, com subemendas de redação adotadas pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara. A nova Lei 11.419/06 faculta aos órgãos do Poder Judiciário informatizarem integralmente o processo judicial, para torná-lo acessível pela Internet.
Uma das autoridades judiciárias que se mostraram mais entusiasmadas com a publicação da Lei foi o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Raphael de Barros Monteiro Filho. «Esta lei é de muita relevância para o Poder Judiciário porque vai estabelecer, vai criar, o processo digital, que na verdade é uma quebra de paradigma do Poder Judiciário», afirmou o Ministro. Para ele, o processo virtual ou eletrônico acabará rompendo as resistências naturais da sociedade civil, e até mesmo, de alguns julgadores. «Temos certeza de que o legislador, com a edição da lei 11.419, está justamente atendendo à premente necessidade de que o processo tenha uma tramitação mais ágil», acredita o Presidente (3). Espera-se realmente que, com a edição da nova Lei, a Justiça finalmente ingresse no século XXI, mais próxima do cidadão e mais ágil na prestação jurisdicional.
O Projeto de Lei 5828/01 percorreu um longo caminho, em ambas as casas do Congresso, antes de atingir sua redação final, aprovada pelo Plenário da Câmara. Nasceu de uma proposta da Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE, acolhida pela Comissão de Participação Legislativa da Câmara em 2001, quando recebeu parecer (4) favorável do Dep. Ney Lopes (5). Foi aprovado pelo plenário da Câmara em junho de 2002 (6). No Senado (onde foi registrado sob o número de PLC 71 de 2002 (7)), o projeto recebeu parecer pela aprovação em forma de substitutivo (8), do relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Senadora Serys Slhessarenko (9).
Em seu Substitutivo (aprovado no Plenário do Senado em 07.12.05), a Senadora modificou substancialmente a feição do projeto original, sob o argumento de que desde o momento inicial de sua apresentação já haviam transcorridos 05 anos, período em que «ocorreram vários progressos na área de informática, fazendo-se necessárias algumas adaptações no texto original para que sejam contemplados os avanços tecnológicos que proporcionam maior agilidade, segurança e economia». Com esse argumento, da necessidade de «atualização tecnológica» do PL, o Substitutivo incorporou novas «ferramentas jurídico-processuais», a exemplo do Diário de Justiça on line e métodos procedimentais de citação e intimação por via eletrônica, frutos da experiência bem sucedida dos Juizados Especiais Federais, que não eram conhecidos ou «eram tecnicamente inviáveis» quando da proposição do projeto original. O Substitutivo da Senadora também inovou quando passou a prever, como tipo de certificação eletrônica, o método de certificação digital por meio de «Autoridade Certificadora» credenciada (10). O projeto original somente previa a identificação eletrônica através de cadastro do usuário junto ao Poder Judiciário. Por fim, foram sugeridas algumas alterações no Código de Processo Civil, para acomodar as modificações.
Em razão das modificações feitas à proposta inicial, o PL voltou à Câmara dos Deputados (em 14.12.05), onde foi de logo remetido para a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC), tendo sido designado relator o Dep. José Eduardo Cardozo (PT-SP). O relator apresentou seu parecer (11) no dia 29.06.06, pela aprovação do Substitutivo do Senado, com emendas de redação. As alterações sugeridas ao texto do Senado pelo deputado José Eduardo Cardozo e aprovadas na CCJC (12) se limitaram a melhorar a redação de alguns de seus dispositivos. A redação final (13) do projeto foi votada no plenário da Câmara no dia 30.11.06 e aprovada nessa mesma data, seguindo então para sanção presidencial (14). O projeto recebeu a sanção (com veto parcial) do Presidente da República no dia 19.12.06.
O deputado José Eduardo Cardozo elogiou a proposta, que, segundo ele, tem «grande relevância, uma vez que criará suporte jurídico para a expansão e a uniformização da informatização dos atos processuais» (segundo notícia no site da Câmara (15)).
A idéia de um processo totalmente informatizado já estava presente no texto da AJUFE oferecido à Comissão de Participação Legislativa da Câmara (em 2001), pois essa proposta original adotava como linha de princípio a validade de todas as atividades em meio eletrônico indispensáveis para a informatização completa de um processo judicial, como o armazenamento de peças, a coleta de depoimentos e a comunicação dos atos processuais, além, claro, do envio e recebimento de petições.
Antes da atual Lei, outras iniciativas legislativas foram tomadas visando à informatização do processo judicial. Com efeito, antes dela já tínhamos sido presenteados com a Lei 9.800, de 26.05.99 (16), de alcance porém muito limitado, pois admite apenas a utilização de sistemas de transmissão de dados para a prática de atos processuais (art. 1º). Ao permitir a transmissão de peças processuais por meio eletrônico, quebrou o elo da corrente de documentos materiais a que estávamos acostumados a assistir na cadeia processual. A Lei 9.800/99 foi a primeira a admitir o uso das tecnologias da informação para o desenvolvimento de sistemas de comunicação de atos processuais. Constituiu o primeiro passo no caminho da transformação da natureza física (suporte material em papel) do processo judicial, rumo à virtualização completa. Na prática, todavia, isso não significou muito, porque nos poucos tribunais em que foram estruturados sistemas para receber petições eletronicamente, a forma eletrônica era sempre transitória, pois quando as peças chegavam ao seu destino eram reproduzidas para a forma tangível e física. Em outras palavras, o que a Lei 9.800/99 possibilitou foi apenas um trânsito de petições em meio eletrônico, as quais, chegando aos provedores informáticos dos tribunais, eram impressas em papel e anexadas ao processo físico. A forma física (da peça processual) não era abandonada até porque essa Lei não dispensava as partes de entregar os originais (entenda-se: documento em meio físico) até 05 dias da data do término do prazo (art. 2o.). Além disso, a Lei 9.800/99 possibilitou a prática de ato processual específico – a transmissão de petições por meio eletrônico (excluídos, portanto, outros atos, tais como aqueles próprios da audiência) (17).
Não muito tempo depois, a Lei 10.259, de 12 de julho de 2001 (18), que disciplinou a instituição dos Juizados Federais, trouxe em seu bojo três dispositivos que impulsionaram a informatização do processo perante esses órgãos especiais da Justiça Federal. O primeiro deles (art. 8º, § 2º) permitiu o desenvolvimento de sistemas informáticos de recepção de peças processuais – sem exigência semelhante à da lei anterior quanto à apresentação subseqüente de originais em meio físico -, além de autorizar a organização de serviços eletrônicos de comunicação de atos processuais . O segundo dispositivo (§ 3º do art. 14) estabeleceu que as reuniões de juízes integrantes da Turma de Uniformização jurisprudencial, quando domiciliados em cidades diferentes, deve ser feita por via eletrônica. O terceiro artigo contido na Lei obrigou o desenvolvimento de programas de informática necessários para subsidiar a instrução das causas (art. 24).
Os departamentos de informática dos TRF´s desenvolveram a solução do e-processo (conhecida simplesmente pela sigla «e-Proc»), que eliminou totalmente o uso do papel e dispensou o deslocamento dos advogados à sede da Justiça Federal. Todos os atos processuais, no sistema do «e-Proc», são realizados em meio digital, desde a petição inicial até o arquivamento. A sua implantação teve início em julho de 2003, em quatro JEF´s: Londrina (PR), Florianópolis (SC), Blumenau (SC) e Rio Grande (RS). A primeira ação do JEF do RS foi julgada em apenas 04 horas. A Turma Recursal dos JEF´s de Santa Catarina estreou seu sistema de videoconferência no dia 19.10.05, quando juízes em locais diferentes puderam participar da sessão de julgamento (20).
Essa solução, no entanto, além de ter aplicabilidade limitada ao universo dos Juizados Federais, não era dotada de técnicas que garantissem a identidade dos usuários. Registre-se, a propósito, que uma das críticas feitas à plataforma do «E-Proc» era justamente a de que não oferecia garantia de validação de identidade e autenticação dos documentos. O programa de processo eletrônico foi instalado nos primeiros juizados sem a exigência de cadastramento presencial (21). Os usuários se cadastravam para receber a senha do sistema no próprio site, daí que não havia garantia de que uma pessoa não se passasse por outra (advogado ou parte de um processo). Essa crítica, é bem verdade, não se restringia apenas ao sistema de processo eletrônico dos Juizados Federais, pois, na mesa época, os tribunais (autorizados pela Lei 9.800/99) tinham desenvolvido equipamentos de recepção de peças de recursos destituídos de métodos que pudessem verificar a real identidade do remetente.
Ainda no ano de 2001, foi votada a Lei 10.358/01 (22), de 27 de dezembro daquele ano, com o propósito de enfrentar esse problema, mediante a inserção de um parágrafo único ao art. 154 do CPC, com a seguinte redação:
«Art. 154 …………………………………………………..
Parágrafo único. Atendidos os requisitos de segurança e autenticidade, poderão os tribunais disciplinar, no âmbito da sua jurisdição, a prática de atos processuais e sua comunicação às partes, mediante a utilização de meios eletrônicos.» (NR)».
Essa primeira tentativa de fornecer autorização legal para os tribunais implantarem sistemas de autenticação eletrônica não foi bem sucedida em razão do veto do então Presidente da Republica, Fernando Henrique Cardoso, ao dispositivo transcrito. Nas razões do veto (23) ficou estampada a preocupação de cada tribunal desenvolver seu próprio sistema de certificação eletrônica, em prejuízo de uma recomendável uniformização de padrões técnicos. Naquela época já tinha sido editada a Medida Provisória n. 2.200 (24) e já estava em funcionamento a ICP-Brasil (25), infra-estrutura de chaves públicas brasileira, que tem a função de garantir a validade jurídica por meio da certificação digital de documentos e transações produzidos em meio eletrônico. O receio era que alguns tribunais quisessem desenvolver suas próprias estruturas de certificação digital ou se filiar a outras ICP´s. A OAB até então vinha insistindo em criar uma ICP autônoma, relutando em que o credenciamento de advogados, para fins de certificação de atos processuais, fosse feito através da ICP-Brasil. O veto presidencial também objetivou evitar a insegurança jurídica, uma vez que, nos termos do art. 10 da MP 2.200, somente os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação da ICP-Brasil têm valor em relação a terceiros (26). De nada adiantaria, portanto, os tribunais adotarem outras estruturas de comprovação de autoria e autenticidade de documentos em forma eletrônica, que não receberam atributo de validade legal oponível contra todos.
Em atenção às razões do veto presidencial, o legislador ordinário voltaria, mediante a edição da Lei 11.280, de 16 de fevereiro de 2006 (27), a introduzir parágrafo único no art. 154 do CPC, dessa vez com a previsão de que a validação dos atos processuais realizados em forma eletrônica perante os tribunais deve ser feita por meio da estrutura de certificação digital da ICP-Brasil. O parágrafo único foi reintroduzido com o seguinte texto:
«Art. 154. …………………………………………………………
Parágrafo único. Os tribunais, no âmbito da respectiva jurisdição, poderão disciplinar a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por meios eletrônicos, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.» (NR)
O dispositivo acima transcrito encontra-se atualmente em vigor, mas, a exemplo das demais leis que o precederam e mencionadas no presente trabalho, configura apenas uma etapa do esforço legislativo no sentido de conferir plena legalidade à informatização dos atos processuais.
Poucos meses depois, sobreveio a Lei 11.341, de 07 de agosto de 2006 (28), que deu nova redação ao art. 541 do CPC, para possibilitar ao recorrente, nos casos de recurso especial ou extraordinário fundado em dissídio jurisprudencial, a prova da divergência através de decisões disponíveis em mídia eletrônica, inclusive julgados reproduzidos na Internet.
Ainda no mesmo ano, foi publicada a Lei 11.382, de 06 de dezembro de 2006 (29), que alterou vários dispositivos do Código de Processo Civil relativos ao processo de execução por título extra-judicial, criando os institutos da penhora on line (art. 655-A) e do leilão on line (art. 689-A).
Essas Leis, que possibilitaram (para efeito de recurso especial ou extraordinário) a conferência da correspondência de julgados publicados em mídia eletrônica (Lei 11.341/06) e a realização por meios eletrônicos da penhora e do leilão na execução (Lei 11.382/06), representaram também apenas mais alguns passos no caminho da informatização completa do processo judicial, que somente completaria o seu ciclo com a edição da novel Lei 11.419, de 19.12.96.
Esta última, sim, deve ser aclamada como o marco regulatório da informatização processual em nosso país, na medida em que contém um completo tratamento legal para o processo informatizado, abrangendo todas as fases ou todas as atividades em meio eletrônico indispensáveis à implantação do processo informatizado em todo e qualquer órgão da Justiça, seja em qual grau de jurisdição for. Com efeito, o art. 1º da nova Lei admite «o uso do meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais». O art. 8º, por sua vez, traz regra destinada a materializar, na prática, a possibilidade autorizada pela lei da formação de um processo completamente digitalizado, sem qualquer peça ou ato registrado em suporte físico (como o papel), ao estabelecer que «os órgãos do Poder Judiciário poderão desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais por meio de autos total ou parcialmente digitais, utilizando, preferencialmente, a rede mundial de computadores e acesso por meio de redes internas e externas». Já o art. 11 predispõe que «os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais». Esses dispositivos são complementados por uma série de outros, que regulam a transmissão de peças processuais, a comunicação de atos processuais (procedimentos de citação e intimação), a digitalização e conservação de documentos e outros aspectos da tramitação do processo eletrônico.
A Lei 11.419/06, portanto, adota como linha de princípio a validade de todas as atividades necessárias à implantação de um processo totalmente eletrônico. Todas as leis precedentes a ela tiveram algum tipo de valia, mas se limitaram a tentar informatizar fases, atos ou aspectos específicos do trâmite processual. Doravante, todo e qualquer ato processual realizado por meio eletrônico recebe a presunção legal de validade se realizado exclusivamente por esse meio. Diante desse novo quadro legislativo, espera-se que os órgãos do Poder Judiciário cumpram as expectativas do legislador (que, por extensão, é de toda a sociedade brasileira), desenvolvendo sistemas informáticos e programas aptos a suportar a consecução de todas as atividades processuais em meio eletrônico. Augura-se que a Administração Judiciária, em suas diferentes esferas, desenvolva sistemas dotados de capacidade para realizar eletronicamente o envio e recebimento de mensagens, a proteção da integridade e autenticidade dos textos recebidos e enviados e o seu armazenamento de forma confiável, além de possibilitar o credenciamento seguro dos usuários do sistema (partes, advogados, juízes e outros profissionais do campo jurídico).
Recife, 21 de dezembro de 2006
(1) O texto pode ser lido em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11419.htm
(2) http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=41619
(3) Em notícia publicada em: http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=83525
(4)Ver parecer do Dep. Ney Lopes em: http://www.camara.gov.br/internet/sileg/integras/8008.htm
(5) Sugerimos a leitura de nosso artigo, contendo comentários ao parecer do Dep. Ney Lopes, sob o título «A INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL: o anteprojeto de lei da AJUFE», publicado no site Infojus – http://www.infojus.com.br/webnews/noticia.php?id_noticia=1326&
(6) A sugestão foi apresentada por meio do ofício nº 174, de 13/8/01, pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), tendo sido a primeira (Sug. nº 01/2001) a ser recebida pela Comissão de Legislação Participativa (CLP), em 5/9/01. Em 9/10/01, o relator, deputado Ney Lopes, apresentou Parecer pela aprovação. A sugestão da Ajufe foi recebida em Plenário em 4/12/01 como Projeto de Lei nº 5.828/01, tramitando em regime de prioridade, e logo em seguida encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação (CCJR). O relator, Deputado José Roberto Batochio, apresentou parecer em 22/5/02 pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação. O parecer do Dep. Batochio foi aprovado por unanimidade pela CCJR. O Plenário aprovou a redação final em 19/6/02.
(7) http://legis.senado.gov.br/pls/prodasen/PRODASEN.LAYOUT_MATE_DETALHE.SHOW_MATERIA?P_COD_MAT=50764
(8)Ver parecer da Senadora Serys Slhessarenko em notícia do Conjur – http://conjur.estadao.com.br/static/text/40098,1
(9) No Senado, a matéria inicialmente foi distribuída ao Senador Osmar Dias, que apresentou relatório pela aprovação na forma de substitutivo. O relatório, entretanto, não foi à deliberação da Comissão, em razão de o relator ter deixado de integrá-la. Em seguida, redistribuída ao Senador Magno Malta, houve de ser redistribuída pelo mesmo motivo, à Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT).
(10) Na verdade, essa matéria foi incluída originalmente no Substitutivo do Senador Osmar Dias, relator inicialmente designado perante a CCJ do Senado, que não chegou a ser deliberado na Comissão, no entanto, como explicamos em nota anterior, em razão de o relator ter deixado de integrá-la
(11) O parecer do Dep. José Eduardo Cardozo pode ser visto em: http://www.camara.gov.br/sileg/integras/406190.pdf
(12) A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) aprovou no dia 04.07.06 as emendas de redação, sugeridas pelo relator, ao substitutivo do Senado para o Projeto de Lei 5828/01.
(13) A redação final do projeto, aprovada pelo Plenário da Câmara em 30.11.06, pode ser vista em: http://www.camara.gov.br/sileg/integras/430803.doc
(14) A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados enviou a matéria à Sanção presidencial no dia 13.12.06.
(15) http://www2.camara.gov.br/homeagencia/materias.html?pk=93111
(16) O texto da Lei 9.800/99 pode ser encontrado em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9800.htm
(17) Some-se a isso a circunstância de que os tribunais demoraram muito para regulamentar a Lei 9.88/99. Por exemplo, o STF somente regulamentou a matéria através da Resolução n. 287, de 14.04.04.
(18) O texto da Lei 10.259/01 pode ser acessado em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10259.htm
(19 O § 2º do Art. 8º da Lei 10.259/01 tem a seguinte redação: «Os tribunais poderão organizar serviço de intimação das partes e de recepção de petições por meio eletrônico».
(20) Na ocasião, foram julgados 328 processos (segundo notícia do site Consultor Jurídico, de 20.10.05).
(21) Atualmente, a Res. 522 do CJF, que regulamenta a intimação eletrônica no âmbito dos Juizados Especiais Federais, estabelece que o cadastramento do usuário será feito mediante identificação presencial no juizado (art. 3º).
(22) O texto da Lei 10.358/01 pode ser encontrado em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10358.htm
(23) A mensagem do veto presidencial pode ser encontrada em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/2001/Mv1446-01.htm
(24) O texto da MP 2.200 pode ser encontrado em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas_2001/2200-2.htm
(25) http://www.icpbrasil.gov.br/
(26) Art. 10 da MP 2.200: «Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.
§ 1º As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916 – Código Civil.
§ 2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento».
(27) O texto da Lei 11.280/06 pode ser acessado em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11280.htm
(28) O texto da Lei 11.341/06 pode ser acessado em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11341.htm
(29) O texto da Lei 11.382/06 pode ser acessado em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11382.htm
A garantia da identificação das partes nos sistemas para envio de peças processuais em meio eletrônico
A garantia da identificação das partes nos sistemas para envio de peças processuais em meio eletrônico.
O modelo de Ley 11.419
O Presidente Lula sancionou a Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 (1), que disciplina a informatização do processo judicial. A nova Lei faculta aos órgãos do Poder Judiciário informatizarem total ou parcialmente o processo judicial, para torná-lo acessível pela Internet. Dentre os atos do processo judicial que podem ser informatizados, destacam-se aqueles que são realizados pelas partes, a exemplo do envio de petições eletrônicas. As partes poderão produzir documentos eletrônicos e enviá-los para os sistemas informáticos dos órgãos judiciários. Com efeito, o art. 1o. da nova Lei admite «o uso do meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais». Esse dispositivo é complementado por uma série de outros, que regulam especificamente a transmissão de peças processuais (arts. 2º e 3º), como um dos aspectos da informatização do processo judicial.
A partir do momento em que a Lei autoriza as partes a produzir documentos eletronicamente e a enviá-los (para serem anexados a um processo judicial eletrônico) ao órgão judicial, utilizando-se de redes de comunicação de tecnologia aberta (dentre elas a Internet) (2), surge a necessidade de os órgãos judiciários desenvolverem sistemas capazes de autenticar essas transmissões e documentos, de forma a garantir a segurança dos atos processuais que são realizados dessa maneira. As comunicações eletrônicas de um modo geral encontram nos problemas relacionados à segurança o grande empecilho ao seu pleno desenvolvimento. As pessoas precisam ter segurança quanto à identidade dos interlocutores, os outros usuários com quem se comunicam através de redes telemáticas, e quanto à autenticidade e integridade dos documentos que transmitem.
Especificamente no que diz respeito a um sistema informático para tramitação de ações judiciais, a segurança está intimamente relacionada com a questão da identificação das partes (usuários do sistema). É indispensável que o sistema informático seja capaz de garantir a identidade dos seus usuários.
O legislador ordinário, atento a essa necessidade, incluiu dispositivo na Lei 11.419/06 (art. 2º) estabelecendo que «o envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante o uso de assinatura eletrônica«. Também no § único do art. 8º da mesma Lei, foi inserida a regra de que obrigatoriamente «todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente«. A assinatura eletrônica, portanto, foi o método de autenticação escolhido pelo legislador pátrio para a transmissão eletrônica de petições e armazenamento de documentos e arquivos digitais integrantes de um processo judicial eletrônico.
No inc. III do § 2º do art. 1º, o legislador consagrou dois tipos de assinatura eletrônica, que podem ser utilizados pelos órgãos do Poder Judiciário nos seus sistemas informáticos: a) a assinatura digital, «baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada»; e b) o cadastro do usuário no Poder Judiciário. A escolha do legislador por esses dois tipos de assinatura eletrônica pode ser explicada na circunstância de que, durante a tramitação do projeto de lei, diversos tribunais e juízos já os haviam implantado em seus respectivos sistemas informatizados de processamento e acompanhamento de ações judiciais. O legislador, portanto, preferiu não desautorizar as experiências tecnológicas já em funcionamento e bem sucedidas.
Assinatura eletrônica não avançada
O segundo tipo de assinatura eletrônica, a que é gerada mediante cadastro perante o tribunal ou juízo (prevista na alínea b do inc. III), é a forma mais conhecida e que primordialmente foi desenvolvida pelos tribunais e juízos que implantaram tecnologias de transmissão eletrônica e autos virtuais (processo eletrônico). Ao advogado que se cadastra no sistema é fornecida uma senha, que, para todos os efeitos legais, equivale à sua assinatura eletrônica nas peças processuais e documentos que envia. Como exemplo de órgãos judiciários que fizeram opção por esse método de identificação, podem ser citados os Juizados Especiais Federais, que empregam essa tecnologia no «e-Proc», plataforma de processo eletrônico cujo acesso é disponibilizado aos advogados em site específico na Internet (3).
A Lei 11.419/06 deixa ao completo arbítrio dos órgãos judiciários a disciplina do procedimento de cadastramento do usuário, para efeito de geração da assinatura eletrônica e utilização do sistema de envio de petições e prática de atos processuais em meio eletrônico (inc. III, b, do § 1º do art. 1º, e caput, parte final, do art. 2º). A única exigência legal é que o cadastramento no sistema seja feito pessoalmente, isto é, o advogado ou interessado tem que comparecer à unidade judiciária respectiva. O § 1º do art. 2º é explícito a esse respeito, quando prediz que «o credenciamento no Poder Judiciário será realizado mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do interessado». Essa exigência não é despicienda, uma vez que somente o comparecimento pessoal, por ocasião do credenciamento, pode garantir a identidade do usuário. Por ocasião do credenciamento, o usuário é identificado mediante apresentação de algum tipo de documento, perante servidor designado para a tarefa de checagem da identificação e coleta de informações pessoais do usuário. O simples credenciamento em site próprio, sem identificação presencial prévia, colocaria em risco a confiabilidade do sistema, pois qualquer pessoa poderia acessar a página eletrônica utilizando dados alheios e fazer o cadastramento em nome de outra. A confiabilidade do sistema, nos tribunais e juízos que utilizam o método de assinatura eletrônica mediante simples cadastro do usuário, depende de identificação presencial.
Assinatura eletrônica avançada (assinatura digital)
O outro modelo de assinatura eletrônica, que permite a identificação de usuário de um sistema informático judiciário para tramitação e acompanhamento de ações judiciais, consiste na assinatura digital. Espécie da assinatura eletrônica, a assinatura digital, na definição da Lei 11.419/06 (alínea a do inc. III do § 1º do art. 1º, é aquela «baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica». Trata-se de um tipo especial de assinatura eletrônica, qualificada pela utilização da tecnologia de certificados digitais emitidos e gerenciados por uma autoridade certificadora.
A Lei 11.419/06 limita-se a dizer que o certificado digital deve ser «emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma da lei específica», mas é claro que somente quem tiver certificado expedido por entidade credenciada junto à ICP-Brasil (Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira) pode se cadastrar perante os órgãos da Justiça. Várias razões levam a essa conclusão. A primeira delas reside na circunstância de que o seu art. 20, na parte em que atribuía nova redação ao parágrafo único do art. 154 do CPC, foi vetado (4). Na sua redação atual, conferida pela Lei 11.280/06, o art. 154 do CPC contém previsão de que os tribunais podem disciplinar a prática e a comunicação de atos processuais por meios eletrônicos desde que «atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil«. Nas razões do veto, o Presidente da República acentuou que «a norma já em vigor é de suma importância por deixar expressa a obrigatoriedade de uso da ICP-Brasil na prática de atos processuais». Logo, permanecendo em vigor o § único do art. 154, na redação que lhe deu a Lei 11.280/06, a realização de atos processuais judiciais em meio eletrônico, para ser válida, necessita da certificação de entidade credenciada à ICP-Brasil. A segunda razão deriva do fato de que, na alínea a do inc. III do § 1º do art. 1º, onde o legislador oferece o conceito de assinatura digital, ele indica que o status de autoridade certificadora credenciada a emitir certificado digital é regulado «na forma de lei específica». A legislação que trata especificamente da utilização de certificados digitais para garantir a autenticidade e validade jurídica de documentos e transações em forma eletrônica é a Medida Provisória n. 2.200, que instituiu a ICP-Brasil (5). A terceira razão que pode também ser citada, em complemento aos dois argumentos anteriores, consiste no fato de que, nos termos do art. 10 (e seus parágrafos) da citada medida provisória, somente os documentos eletrônicos produzidos com processo de certificação da ICP-Brasil têm valor jurídico oponível contra todos.
Todas essas circunstâncias deixam claro que a implantação de sistema de transmissão de peças processuais, pelo método de identificação baseado na assinatura digital, pressupõe que os usuários adquiram certificados digitais junto a empresa credenciada à ICP-Brasil.
A tecnologia de assinaturas e certificados digitais utilizada pelas entidades vinculadas à ICP-Brasil baseia-se na criptografia de chaves públicas. Funciona mais ou menos assim: o remetente usa a chave pública (um programa gerador de um código de encriptação) do destinatário para «assinar» (codificar) sua mensagem de dados, que transita codificada até chegar ao endereço deste último, o qual, valendo-se da chave privada (uma espécie de contra-senha) fica habilitado a decodificá-la. Todo usuário do sistema tem duas chaves: uma pública e uma privada. A pública é de conhecimento de todas as outras pessoas, enquanto que a privada deve ser mantida sob seu uso e conhecimento exclusivos. A geração, distribuição e gerenciamento das chaves públicas e dos certificados digitais é feita por meio de entidades conhecidas como autoridades certificadoras (AC’s). São essas autoridades certificadoras que vão garantir, por exemplo, que uma chave pública ou certificado digital pertence realmente a uma determinada pessoa. São elas que formam a cadeia de confiança que dá segurança ao sistema. Fazem o papel desempenhado pelos notários no sistema de certificação tradicional. O conjunto ou modelo formado de autoridades certificadoras, políticas de certificação e protocolos técnicos compõe o que se convencionou chamar de «Infra-Estrutura de Chaves Públicas» ou simplesmente ICP (6).
Como exemplo de órgãos judiciários que fizeram opção pelo método de identificação e autenticação da assinatura digital, com utilização de certificados emitidos por entidade vinculada à ICP-Brasil, podem ser citados os tribunais e varas do trabalho, que desenvolveram a plataforma e-DOC, que vem a ser o «Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de documentos Eletrônicos da Justiça do Trabalho» (7). Trata-se de um sistema que permite o envio eletrônico de documentos referentes aos processos que tramitam nas Varas do Trabalho dos 24 TRT´s e no TST, através da Internet, sem necessidade da apresentação posterior dos documentos originais (8). Para ter acesso ao sistema e-DOC, o usuário necessita adquirir previamente um certificado emitido por qualquer empresa vinculada à ICP-Brasil. O cadastramento no sistema é feito em área específica do site de um dos tribunais do trabalho e, depois de concluído, o usuário não necessita de senha para entrar no sistema, pois sua identificação é realizada apenas através da leitura do certificado digital. Com efeito, o processo de identificação do usuário, nesse tipo de sistema, é feito através da leitura do certificado digital, daí que ele necessita, no momento do acesso, de ter o certificado disponível e instalado em seu computador (9).
Para o cadastro no sistema e-DOC, não é necessário o comparecimento presencial do usuário perante o órgão judiciário, podendo ser feito inteiramente de forma on line. O § 1º do art. 2º da Lei 11.419/06 exige que o credenciamento no Poder Judiciário seja «realizado mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do interessado». Essa exigência decorre da necessidade de garantir a identidade do usuário, pois, pelo menos uma única vez, tem que ser feita uma checagem presencial de sua pessoa em vista de seus documentos pessoais. Mas em se tratando do sistema e-DOC, como, aliás, qualquer outro baseado na tecnologia de certificados digitais, não é imperativo que o usuário compareça pessoalmente perante a sede da vara ou juízo. Isso porque quando da aquisição do certificado digital, junto à entidade emissora (autoridade certificadora), já houve o prévio comparecimento presencial, oportunidade em que foi realizada a identificação física do usuário (10). A regra do par. 1º do art. 2º já foi atendida quando do primeiro comparecimento presencial do usuário perante a entidade (autoridade certificadora) emissora do certificado, não sendo necessário um segundo comparecimento físico.
Validade das duas espécies de assinatura eletrônica
Em conclusão, os sistemas para a transmissão de petições e prática de atos processuais podem ser desenhados utilizando-se diferentes tecnologias. A identificação do usuário e autenticação do seu acesso pode ser feito através de uma assinatura digital, qualificada pela utilização de certificado digital fornecido por empresa vinculada à ICP-Brasil (inc. III, a, do § 2º do art. 1º), ou por meio de senha obtida mediante cadastro no sistema próprio do órgão judiciário (inc. III, b, do § 2º do art. 1º).
Ambas são espécies do gênero assinatura eletrônica, por constituírem «formas de identificação inequívoca do signatário» (na definição do inc. III do § 2º do art. 1º). Ambas atendem os requisitos da Lei, já que configuram métodos que atribuem registro ao usuário e meio de acesso ao sistema, garantindo a preservação do sigilo e a identificação e autenticidade de suas comunicações (§ 2º do art. 2º).
O primeiro tipo (assinatura digital) poderia ser chamado de assinatura eletrônica qualificada (ou avançada), já que se utiliza de uma tecnologia mais avançada – a das chaves e certificados digitais fornecidos por autoridades certificadoras. Mas os tribunais podem implantar qualquer dos dois tipos de assinatura eletrônica definidos nas alíneas a e b do inc. III § 2º do art. 1º. Ao lado da assinatura eletrônica não avançada, a Lei estabeleceu um tipo especial de assinatura eletrônica, a assinatura digital (assinatura eletrônica avançada). As duas são formas de garantia de identificação inequívoca do usuário, permitindo a preservação do sigilo e autenticidade de suas comunicações (§ 2º do art. 2º). É suficiente que a assinatura esteja necessariamente associada ao signatário, permitindo sua identificação, e ser criada com meios que este possa manter sob seu controle exclusivo. Dentro do contexto da Lei 11.419/06, assinatura eletrônica é um dos dois métodos eletrônicos que visam autenticar o acesso do usuário ao sistema informático judiciário (desenvolvido para transmissão de peças e documentos processuais ou qualquer ato processual). O primeiro deles é o que é efetuado por meio de assinatura digital baseada em certificado digital (alínea a do inc. III) e, o segundo, é aquele realizado através de senha obtida em cadastro no órgão do Poder Judiciário (alínea b do inc. III).
Em havendo esses dois tipos válidos de assinatura eletrônica, como compatibilizar essa realidade com o art. 154 do CPC? Como já tivemos oportunidade de mencionar anteriormente, esse dispositivo (na redação que lhe foi conferida pela Lei 11.280/06) permanece em vigor e exige que, na disciplina da prática e da comunicação de atos processuais em meios eletrônicos, os tribunais devem atender «os requisitos de autenticidade, validade jurídica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil». Cuida-se de artigo (154 do CPC) que necessita ser interpretado em combinação com o inc. III do § 2º do art. 1º e art. 2º da Lei 11.419/06.
Os tribunais não só podem implantar sistemas informáticos para a transmissão de petições e prática de atos processuais baseados em tecnologia de certificados digitais (gerenciados por empresa credenciada à ICP-Brasil), mas também podem adotar sistemas que utilizam a tecnologia de assinatura eletrônica proveniente de cadastro em unidade do Poder Judiciário, tal como já foi explicado. A Lei 11.419/06 é posterior à Lei 11.280/06 (que alterou a redação do art. 154 do CPC), e expressamente validou a realização de envio de peças e atos de comunicação com a utilização de assinatura eletrônica não baseada em certificados digitais (assinatura eletrônica não avançada). O método de cadastro em site judiciário para obtenção de senha é reconhecido pela lei como apto a validar atos processuais realizados em meio eletrônico (alínea b do inc. III do § 2º do art. 1º). O art. 154 do CPC, portanto, deve ser interpretado no seguinte sentido: uma vez optando um tribunal ou juízo pelo sistema da assinatura digital, a emissão de certificados digitais aos usuários somente poderá ser feita por empresa pública ou privada (autoridade certificadora) credenciada à ICP-Brasil. Não pode o Judiciário adquirir certificados digitais de empresa não integrante da ICP-Brasil, nem pode qualquer órgão desse Poder intentar desenvolver uma infra-estrutura de certificação (ICP) autônoma, de forma isolada ou em convênio com outras instituições. Mas se optar, por razões de orçamento ou qualquer outra, por desenvolver sistema baseado em assinatura eletrônica não avançada, não haverá qualquer problema, diante da faculdade que a Lei lhe confere. Nesse caso, não está obrigado a atender a exigência do art. 154 do CPC, que somente se refere aos sistemas de comunicação e prática de atos processuais eletrônicos baseados em assinatura eletrônica avançada (assinatura digital).
A tendência, no entanto, é que os tribunais desenvolvam sistemas de controle eletrônico de autoria e integridade de documentos eletrônicos baseados em certificados digitais da ICP-Brasil, por se tratar de tecnologia mais avançada e cujo uso está se disseminando rapidamente. O STJ inclusive já criou e credenciou uma autoridade certificadora própria – a AC-JUS (11), junto à ICP Brasil, a qual já aderiram o STF e outros tribunais superiores. A AC-JUS já começou a distribuir certificados e chaves a juízes federais e servidores.
Cadastro único nacional
O par. 3º do art. 2º, da Lei 11.419/06, prevê a possibilidade de os órgãos do Poder Judiciário criarem um cadastro único, para efeito do credenciamento dos usuários dos serviços de envio de petições e prática de atos processuais em geral por meio eletrônico. O que é mais provável, no entanto, é que cada tribunal estadual ou ramo da Justiça Nacional desenvolva seu próprio sistema para realização de atos processuais em meio eletrônico. Na verdade, isso já vem acontecendo. Por exemplo, a Justiça do Trabalho já tem seu sistema informático para transmissão de petições (o «e-DOC», baseado em assinatura digital), que foi desenvolvido para usuários que tenham interesse ou sejam partes em processos que tramitam nesse ramo da Justiça. A Justiça Federal, por sua vez, também já desenvolveu o seu próprio modelo de processo eletrônico para os Juizados Especiais (o «e-Proc»), cujo acesso, para credenciamento, é feito através dos sites dos respectivos tribunais regionais federais. Alguns tribunais estaduais também desenvolveram sistemas próprios para tramitação total ou parcial de ações judiciais em meio eletrônico.
O que é pior é que esses diversos sistemas não guardam interoperabilidade uns com os outros, já que os tribunais não estabeleceram um protocolo de comunicação único. A informatização dos tribunais brasileiros, ao contrário do que aconteceu na Itália (12), não foi feita com um planejamento centralizado, através de um órgão único que promovesse uma política de uniformização de padrões técnicos. Essa falta de uma política de padronização dos sistemas informáticos tem origem na própria realidade da organização judiciária no Brasil, cujo Poder Judiciário se divide entre as Justiças dos Estados e a Justiça Federal (com seus sub-ramos da Justiça especializada Trabalhista, Eleitoral e Militar). Cada um dos tribunais de cada ramo do Poder Judiciário nacional goza de autonomia administrativa e financeira, não havendo, nesse aspecto, hierarquia entre eles. Mesmo os tribunais superiores não interferem na gestão administrativa dos tribunais dos estados e tribunais regionais. Se essa autonomia, por um lado, é salutar, por outro também traz resultados negativos, como a falta de uma política única para a informatização dos órgãos judiciários.
Espera-se que esse problema da falta de uma política unificada de administração judiciária seja resolvido com a criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que tem, entre outras competências, poderes para regulamentar procedimentos administrativos dos tribunais. O CNJ aliás já desenvolveu um modelo de processo eletrônico, que pretende seja adotado por todos os órgãos da Justiça brasileira. O sistema, que vem sendo denominado de «Sistema Virtual Nacional», foi desenvolvido em software livre e é baseado no sistema Pro-Jud, do Tribunal de Justiça da Paraíba (13). O CNJ está promovendo a divulgação desse sistema de processo eletrônico, incentivando os tribunais a adotá-lo (14), inclusive para os órgãos da Justiça do Trabalho (15), que já havia desenvolvido seu próprio sistema para tramitação de ações judiciais em meio eletrônico. É muito pouco provável, no entanto, que se consiga a proeza, pelo menos em curto espaço de tempo, de migrar os sistemas de todos os tribunais que já estejam em funcionamento para o modelo do CNJ. O sistema do CNJ é baseado em software livre, desenvolvido por seus técnicos, enquanto a maioria dos tribunais desenvolveu sistemas proprietários, mediante contratação com empresas privadas fornecedoras de serviços de informática. Certamente, a adoção do sistema do CNJ será feita por tribunais estaduais que não tenham ainda desenvolvido seus próprios sistemas de processo eletrônico. Mesmo que os tribunais estaduais se decidam pela implantação do modelo de processo eletrônico proposto pelo CNJ (o «Sistema Virtual Nacional»), é pouco provável que funcionem por meio de uma base de dados única, para efeito de cadastramento dos usuários. Possivelmente cada tribunal estadual vai ter o seu próprio cadastro, para ser usado pelas pessoas interessadas em processos sob sua jurisdição (16).
A previsão da lei, pelo visto, não vai se fácil de ser concretizada, pois envolveria a necessidade de uma padronização dos sistemas de transmissão de peças na forma eletrônica para todas unidades do Poder Judiciário, de qualquer um dos seus ramos.
Quando o legislador incluiu a regra do § 3º do art. 2º na Lei 11.419/06, certamente esteve atento à necessidade de facilitar o acesso ao sistema, por parte de advogados e outros usuários, que atuam em processos perante diversos tribunais ou órgãos de diferentes ramos da Justiça, para que não tenham que se deslocar a cada um deles, para fazer o cadastro presencial. Mas essa preocupação só seria justificável em se tratando de tribunais e órgãos que adotem sistemas informáticos baseados em assinaturas eletrônicas não avançadas. De fato, quanto aos sistemas e plataformas baseados na tecnologia de certificados digitais, o usuário não precisa comparecer fisicamente, para realizar seu cadastro (17). Um usuário que tenha certificado emitido por autoridade certificadora vinculada à ICP-Brasil, pode, de qualquer local, acessar um computador e, conectando-se à Internet, ingressar num sistema informático judiciário para efeito de credenciamento, sem necessidade de comparecimento presencial, em razão de que, quando da aquisição do certificado digital (perante a autoridade certificadora), já foi identificado fisicamente.
Por essas razões, talvez a solução do cadastro único não seja, diante da realidade da organização judiciária em nosso país, a mais viável. O ideal, isso sim, é que os órgãos dos diversos segmentos do Poder Judiciário implantem sistemas de transmissão de peças eletrônicas baseados em certificação digital, pois os usuários, nesse caso, já passaram pela identificação presencial no momento do registro perante a autoridade certificadora (autoridade vinculada à ICP-Brasil), podendo assim, dos computadores de suas residências e locais de trabalho, acessar os sistemas e fazer o cadastro (no site) em todo e qualquer tribunal, evitando as inconveniências de um (novo) deslocamento físico. A multiplicidade de credenciamentos, assim, não representará ônus excessivo para a classe dos advogados nem importará em dificuldade maior de acesso ao processo judicial eletrônico.
Momento da transmissão de petições
O art. 3º da Lei 11.419/06 estabelece que «consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico». Essa norma abrange os atos processuais que devem ser realizados pela parte, usuário do sistema informático de um tribunal para o envio de petições na forma eletrônica. Não alcança todo e qualquer ato processual, notadamente aqueles que devem ser realizados pela secretaria do juízo (pelo servidor) ou juiz. Por exemplo, para as intimações (ato processual da secretaria) que são feitas através da versão eletrônica do Diário da Justiça, existe uma regra específica sobre o momento da realização do ato, para possibilitar a contagem de prazos. De fato, o § 3º do art. 4º da mesma Lei estabelece que «considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação» no sistema». Portanto, o art. 3º não é regra que normatiza o tempo dos termos e «atos em geral», que constituem e integram o processo (total ou parcialmente) eletrônico, mas se destina exclusivamente a disciplinar os «atos da parte». Regula o o tempo, o momento da realização, de um determinado ato processual em meio eletrônico a cargo da parte.
A parte final do art. 3º, onde prediz que «deverá ser fornecido protocolo eletrônico» do ato a cargo da parte, visa a municiá-la de algum meio de prova da efetiva realização do ato, para os fins que se fizerem necessários. Para o processo judicial tradicional (em meio físico), o art. 160 do CPC prevê que «poderão as partes exigir recibo de petições, arrazoados, papéis e documentos que entregarem em cartório». Para o processo eletrônico, a Lei 11.419/06 trouxe essa regra do protocolo eletrônico (parte final do art. 3º), que obriga os tribunais a desenvolverem sistemas informáticos capazes de expedir automaticamente comprovante eletrônico do recebimento da petição ou registro do ato, sob pena de não ter validade.
Uma grande vantagem para as partes, no processo eletrônico, será a extensão do horário para envio de petições e documentos até a meia-noite. Com efeito, o parágrafo único do art. 3º da Lei 11.419/06 estabelece que: «quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia». Atualmente, os protocolos físicos para recebimento de petições existentes nas varas e unidades judiciárias, funcionam limitados a um determinado horário do dia, em regra correspondente ao horário do expediente forense. Essa restrição decorre do par. 3º do art. 172 do CPC que estabelece que «quando o ato tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição, esta deverá ser apresentada no protocolo, dentro do horário de expediente, nos termos da lei de organização judiciária local» . Em geral o expediente forense nas diversas repartições judiciárias termina às 18:00 ou 19:00h, dependendo, como prevê o mencionado artigo do CPC, do que regular as respectivas leis de organização judiciária.
No processo eletrônico, quando a parte tiver que realizar algum ato processual através de petição, poderá fazê-lo até o último minuto do dia, não se limitando ao horário do expediente forense da repartição judiciária. Essa possibilidade é resultado da revolucionária acessibilidade do sistema eletrônico, sem as restrições do horário do expediente forense. O sistema fica disponível para utilização pelos usuários 24 horas por dia.
(1) O texto integral da Lei 11.419/06 pode ser acessado em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11419.htm
(2) O inc. II do § 2º do art. 1º, da Lei 11.419/06, indica que a transmissão de peças eletrônicas deve ser feita preferencialmente pela Internet. O art. 8º., por sua vez, faculta aos órgãos do Poder Judiciário desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais que utilizem preferencialmente a rede mundial de computadores.
(3) O endereço do «e-Proc», sistema de processo eletrônico, para os Juizados Especiais Federais do Paraná é: http://www.jef-pr.gov.br/ . O mesmo sistema é utilizado para os Juizados das outras seções judiciárias (Rio Grande do Sul e Santa Catarina) que integram a 4º Região.
(4) Na redação do Projeto de Lei n. 5828/01, que deu origem à Lei 11.419/06, o parágrafo único do art. 154 do CPC aparecia como «vetado». Isso ocorreu porque esse dispositivo (quando acrescentado pela Lei 10.358/01) havia sido realmente vetado, em dezembro de 2001, mas, depois, uma Lei posterior (a Lei 11.280/06) o restaurou, com a redação que permanece até hoje. O Legislativo cometeu erro ao não atentar para essa circunstância, daí porque o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vetou a nova redação do Projeto 5828/01, esclarecendo que «o parágrafo único do art. 154 do Código de Processo Civil não está ‘vetado’, como consta do Projeto de Lei, mas em vigor e produzindo efeitos».
O art. 20 da Lei 11.419/06, na redação final do Projeto 5828/01, tal qual aprovado no Congresso Nacional, tinha o seguinte texto:
«Art. 20. A Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 154. ………………………………………………………………
Parágrafo único. (Vetado).
§ 2º Todos os atos e termos do processo podem ser produzidos, transmitidos, armazenados e assinados por meio eletrônico, na forma da lei.» (NR)
(5) O «marco regulatório» da atividade de certificação digital em nosso país coincide com a edição da MP 2.200, o primeiro texto legal a disciplinar a estrutura da ICP-Brasil, mas que deverá em breve ser substituído (revogado) pelo Projeto de Lei 7.316/02, diploma de maior amplitude normativa.
(6) Para saber mais sobre a estrutura da ICP-Brasil e a atividade das autoridades certificadoras, sugerimos a leitura do nosso artigo «A ICP-BRASIL E OS PODERES REGULATÓRIOS DO ITI e do CG», que pode ser acessado em: http://www.ibdi.org.br/index.php?secao=&id_noticia=537&acao=lendo .
(7) O e-DOC do TRT da 4a. Região pode ser acessado no seguinte endereço: http://www.trt4.gov.br/edoc/
(8) A Instrução Normativa n. 28 do Tribunal Superior do Trabalho, publicada no DJ de 07.06.05, disciplina o Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos da Justiça do Trabalho (e-DOC). O texto completo pode ser encontrado no seguinte endereço: http://www.trt4.gov.br/edoc/in28tst.htm
(9) O certificado também pode estar embutido em dispositivos como «token» ou «smart card». Em sendo esse o caso, o usuário deve ter uma leitora de certificado conectada à porta USB de seu computador, onde deve inserir o cartão ou token contendo seu certificado.
(10) O art. 7º da MP 2.200 estabelece que o cadastro dos usuários dos serviços de certificação digital é feito na presença destes.
(11) A AC-JUS foi criada pela Resolução Conjunta nº 001, de 20 de dezembro de 2004 (publicada no Diário Oficial da União em 19/01/2005, Seção 1, pág. 83), concebida como «Autoridade Certificadora do Sistema Justiça Federal», reunindo o Conselho da Justiça Federal (CJF), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e os cinco Tribunais Regionais Federais. Mas depois, com a adesão de outros tribunais superiores (TST, STM, TSE e o próprio STF), mudou de nome, passando a se chamar «Autoridade Certificadora da Justiça». A decisão foi objeto da Resolução Conjunta n. 003 de 14 de julho de 2005, do STJ e do CJF, assinada pelo presidente desses dois órgãos, ministro Edson Vidigal, e publicada no Diário Oficial do dia 15.07.05. A AC-JUS é uma autoridade certificadora (normativa) dentro da AC-Raiz da ICP-Brasil e desenvolve uma mesma política de segurança para certificados digitais emitidos para magistrados, servidores, advogados e partes em processos na Justiça. Por meio de um convênio firmado entre o STJ e o CJF de um lado, e a Caixa Econômica Federal (CEF) de outro, inicialmente cada juiz federal e também alguns servidores da Justiça Federal que trabalham na expedição com procedimentos processuais críticos terão um cartão por meio do qual irão garantir a autenticidade em documentos digitais.
(12) Como informa Augusto César de Carvalho Leal, o qual esclarece que naquele país a informatização dos tribunais foi precedida por uniformização de padrões para o processo telemático, que resultou na adoção de um único sistema para todos os órgãos do Judiciário (In «A multiplicidade de credenciamentos e a falta de interoperabilidade dos softwares dos tribunais: ameaça ao sucesso do processo judicial telemático no modelo dogmático brasileiro», artigo disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9295
(13) Segundo notícia no site da AMB, onde consta também a informação de que além do desenvolvimento e distribuição do sistema de gerenciamento do processo virtual, o Conselho Nacional de Justiça está fornecendo aos tribunais suporte técnico e equipamentos (servidores e scanners). O CNJ prevê investir até R$ 100 milhões para ajudar os TJs que tenham dificuldades financeiras para a compra de equipamentos (computadores, digitalizadores) e treinamento de servidores e juízes.
(14) O CNJ espera que os tribunais estaduais comecem a implantar o sistema de processo virtual já em fevereiro deste ano. Houve inclusive um encontro, fruto de uma parceria entre o Colégio de Presidentes de Tribuanis de Justiça e o CNJ, realizado nos dias 18 e 19 de janeiro deste ano, na sede o TJRJ, com a participação do secretário-geral do CNJ, Sérgio Tejada, com técnicos e os presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados, para definir uma agenda de implantação do modelo do processo eletrônico em todo o país (conf. Notícia no site Conjur, de 17.01.07).
(15) Segundo notícia no site do CNJ (do dia 08.02.07), já está sendo discutido com integrantes da Justiça do Trabalho a possibilidade de adoção do «Sistema Nacional Virtual» nos tribunais e varas do trabalho. A Justiça do Trabalho já estava desenvolvendo um modelo de processo virtual, batizado de Sistema Único de Acompanhamento Processual (Suap). Uma das possibilidades de encaminhamento é fazer uma fusão dos dois sistemas, de maneira a otimizar o uso dos recursos. O sistema do CNJ seria adaptado às necessidades da Justiça do Trabalho e repassado aos tribunais trabalhistas sem qualquer custo. O anúncio foi feito por Sérgio Tejada, Secretário-Geral do CNJ, no 1º Encontro Sobre Processo Virtual da Justiça do Trabalho, que se realizou em Brasília, no dia 08.02.07. O evento foi organizado pelo CNJ em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (DF e TO). Participaram juízes e técnicos em informática de todos os TRTs brasileiros.
(16) Até porque o art. 2º da Lei 11.419/06 dá autonomia a cada órgão judicial para disciplinar o seu próprio procedimento para credenciamento em seu sistema eletrônico de envio de petições e para a prática de atos processuais em geral. Como efeito, diz o art. 2º: «O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico será admitido mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1º, sendo obrigatório o credenciamento prévio junto ao Poder Judiciário conforme disciplinado pelos órgãos respectivos«.
(17) Conforme já explicamos no item anterior, a respeito da assinatura digital.
A Atualização da lei americana de proteção dos dados das crianças na internet
A Atualização da lei americana de proteção dos dados das crianças na internet
A agência governamental reguladora do comércio nos EUA – a
FTC – Federal Trade Comission (1)– anunciou no dia 19 deste mês a adoção de novo regulamento da COPPA, a lei americana de proteção de dados das crianças na Internet. COPPA corresponde à abreviatura da Lei que recebeu a denominação de Children’s Online Privacy Protection Act,(2) aprovada pelo Congresso em 1998 (3). Essa lei pretendeu regular a coleta de informações pessoais de crianças menores de 13 anos de idade pelos operadores de sites comerciais na Internet. Basicamente, a Lei em comento estabeleceu que o operador de um website dirigido a crianças ou de serviço on line que coleta informações de crianças deve:
a) informar, através de aviso no site, que tipo de informação está sendo coletada, como ela é utilizada e se é divulgada a terceiros;
b) obter consentimento dos pais ou responsável para a atividade de coleta, uso ou divulgação de informações pessoais de crianças;
c) responder aos pais, mediante solicitação destes, o tipo de informação que foi coletada, para que, dessa forma, possam ter a chance de controlar a coleta e uso de informações pessoais de seus filhos;
d) impedir a continuidade da coleta de informações da criança ou divulgação a terceiro, quando houver prévia solicitação paterna;
e) adotar procedimentos para assegurar a confidencialidade e integridade dos dados recolhidos de crianças.
No conceito de «informações pessoais», a Lei abrangeu dados como nome, endereço, e-mail, número de telefone, número de carteira de identidade ou outro documento, bem como qualquer outro elemento que permita identificar ou contactar a pessoa (criança).
A Lei atribuiu poderes à Federal Trade Comission para baixar atos regulamentares, como também para ajuizar ações judiciais e impor multas por descumprimento das normas relativas à coleta de dados pessoais de crianças por operadores de websites. No regulamento inicial expedido pela FTC em 2000, o alcance da proibição de coleta foi estendido a outros dados, como hobbies e interesses de crianças, coletados através de cookies
(4) e outros mecanismos de rastreamento. O regulamento também definiu que o aviso a ser colocado no site deve ser ostensivo e conter o nome e informações de contato do operador (endereço físico, telefone e e-mail), o tipo de informações que coleta de crianças e como as utiliza (por exemplo, se para fins de marketing) e divulga. Também ficou estabelecido que o consentimento paterno pode ser solicitado por e-mail, via telefônica ou carta enviada aos pais, antes da coleta das informações. Se o operador do site pretende compartilhar as informações da criança com terceiros, aí o consentimento tem que ser obtido por um método mais confiável, como por exemplo, através de um formulário assinado pelos pais, ou por meio da solicitação do número do cartão de crédito deles (para verificar a identidade) ou ainda através de um e-mail assinado digitalmente. O regulamento excepciona da necessidade de obtenção do prévio consentimento certos tipos de coleta que se resumem ao nome ou e-mail da criança para finalidades internas, como suporte aos serviços prestados no site.
Em razão do desenvolvimento tecnológico ocorrido nos últimos anos, a Agência reguladora entendeu que o regulamento da COPPA necessitava de uma atualização. Realmente, quando implementada pela primeira vez em 1998, ainda não havia se disseminado o fenômeno das redes sociais. O Facebook só foi lançado a partir de 2004 e o primeiro Iphone liberado em 2007, seguido do desenvolvimento do sistema operacional Android para smartphones em 2009. Naquela época da edição da Lei, também não havia a pletora de mecanismos de publicidade via adwares
(5) ou advertising networks (6), nem eram utilizados mecanismos de localização geográfica instalados em telefones móveis. Assim, um novo regulamento foi baixado para fazer frente a esse novo cenário tecnológico da disseminação do uso de aparelhos móveis e redes sociais, onde diversos atores agregados na cadeia da comunicação informática podem participar da coleta de informações do usuário, além do operador do site onde ele originalmente ingressa.
O novo regulamento (7), portanto, clarifica algumas das regras da Lei, especialmente no que concerne às tecnologias de localização geográfica e applets (8) para dispositivos móveis (aparelhos celulares), estabelecendo o seguinte:
a) que no conceito de «informação pessoal» (personal information), para fins de aplicação da COPPA, incluem-se dados de localização geográfica, fotografias e arquivos de áudio e vídeo (que contenham voz ou imagem de crianças);
b) que os terceiros que integram os sistemas de advertising networks também se submetem às regras da COPPA;
c) que a coleta de informações de crianças através de «plug ins» (9) instalados através do site, também necessita do consentimento dos pais;
d) que o consentimento dos pais, exigido antes que se possa realizar qualquer coleta de informações de crianças, pode ser obtido por outros meios que permitam a verificação da identidade deles, como cartões de identificação expedidos pelo governo, videoconferência e sistemas de pagamento on line;
e) que os chamados «persistent identifiers», a exemplo de números IP (IP adresses) e senhas de aparelhos móveis, também são considerados informações protegidas pela Lei;
f) que os operadores de websites direcionados ao público infantil devem adotar procedimentos seguros para o armazenamento e retenção dos dados de crianças, que só devem ser armazenados pelo tempo razoavelmente necessário para a execução de uma determinada atividade.
Embora com todas essas precauções adicionais, o novo regulamento da Federal Trade Comission ainda é considerado insuficiente para a segurança e proteção dos dados privados de crianças, segundo alguns (10). Congressistas americanos, desde 2010, vêm discutindo a necessidade de uma completa revisão, através da introdução de um novo feixe de normas com salvaguardas adicionais para crianças e também adolescentes. A primeira discussão reside no limite de idade para aplicação da Lei. Tradicionalmente, as crianças até 12 anos de idade são vistas como mais suscetíveis de práticas enganosas e, portanto, requerem maior proteção. Todavia, a proteção contra práticas massivas de coletas de dados deve ser estendida também aos adolescentes, em razão do radical aumento na utilização da rede mundial de comunicação. Estudos mostram que atualmente 93% das crianças americanas com idade de 12 a 17 anos têm acesso diariamente à Internet e 61% delas acessam a rede diariamente. Além disso, pesquisas recentes revelaram que 71% dos adolescentes possuem perfis em redes sociais (em sites como Facebook e Myspace) (11). O dramático aumento do acesso à Internet por crianças e adolescentes, sobretudo na forma de participação em redes sociais, aumenta os riscos de uso indevido de suas informações.
Imbuído desse sentimento de maior proteção para os dados de crianças e adolescentes na Internet, o congressista Ed Markey (Democrata de Massachussets), juntamente com o seu colega Joe Barton (Republicano do Texas), apresentou o projeto de Lei conhecido como »
Do Not Track Kids Act«, em maio do ano passado (2011), numa tentativa de ampliar as normas de protetivas (12). Além de elevar a idade das pessoas submetidas à proteção legal (adolescentes até 17 anos), o projeto pretende proibir a coleta de informações de menores para fins de marketing. Um dos pontos chaves do projeto reside na obrigação de os sites comerciais voltados para o público infantil instalarem uma função que permita apagar automaticamente informações pessoais de menores. Em outro artigo, esmiuçarei em maiores detalhes os demais aspectos do projeto.
A preocupação com a segurança dos dados pessoais e informações que crianças e adolescentes deixam em sites na Internet é justificável. Cada vez mais constantemente, elas publicam suas preferências e ações, permitindo que terceiros vejam, copiem e divulguem esses dados. O que elas dizem ou fazem pode afetar a reputação delas, de uma maneira não imaginada quando praticam os atos. A vida digital não é somente pública, mas também permanente, no sentido de que os passos dados através da rede mundial de comunicação criam uma espécie de rastro persistente. A publicação de uma simples foto que retrate uma brincadeira ou situação de relaxamento pode ressurgir muitos anos depois e, então, ser interpretada de outra maneira, em prejuízo da imagem do indivíduo. Por outro lado, as pessoas, e em especial crianças e adolescentes, não procuram ter conhecimento da política de privacidade dos sites, que muitas vezes é alterada sem que o usuário tenha sido previamente notificado.
Isso explica a iniciativa dos legisladores norte-americanos, de modo a tornar os controladores de websites responsáveis pela maneira como coletam e usam informações pessoais de crianças. Eles buscaram um adequado balanceamento entre os benefícios que a Internet pode proporcionar como ferramenta educacional e os riscos que oferece à privacidade e segurança das crianças, sujeitas a práticas comerciais enganosas e outros abusos muito mais graves.
Lá nos EUA a população elegeu a proteção das informações das crianças na Internet como prioridade nacional. Aqui no Brasil ainda estamos preocupados no momento com o julgamento do «mensalão» e o esforço enorme que a imprensa e alguns poucos homens públicos estão fazendo para, pela primeira vez na história deste país, levar políticos corruptos para a cadeia. Quando ultrapassarmos esse marco histórico, com a prisão dos mensaleiros (se isso de fato vier a ocorrer), talvez possamos nos preocupar em adotar medidas legislativas similares à COPPA.
(2) O texto completo do COPPA pode ser encontrado em: http://www.coppa.org/coppa.htm
(3) Mas que entrou em vigor somente em 21 de abril de 2000.
(4) Cookie (do inglês, literalmente: biscoito) é um pequeno aplicativo geralmente agregado ao progama navegador que permite guardar as informações sobre páginas eletrônicas visitadas e as preferências do internauta.
(5) Adware é qualquer programa que executa automaticamente, mostra ou baixa publicidade para o computador do internauta depois de instalado ou enquanto a aplicação é executada. Esse tipo de anúncio geralmente aparece na forma de um pop-up. Alguns programas adware têm sido criticados porque ocasionalmente possuem instruções para captar informações pessoais e as repassar para terceiros, sem a autorização ou o conhecimento do usuário. Esta prática é conhecida como spyware, e tem provocado críticas dos experts de segurança e os defensores de privacidade. Porém existem outros programas adware que não instalam spyware (cf. Wikipedia).
(6) Uma empresa de advertising network ou atua conectando fornecedores de produtos ou serviços com proprietários de websites interessados em hospedar a publicidade. Geralmente, usam um servidor central para gerenciar as publicidades dirigidas aos consumidores, possibilitando o marketing direcionado, bem como monitorando o progresso da campanha publicitária, através da contagem de acessos (clicks) à publicidade (geralmente em forma de banners) colocada nos sites. Os servidores remotos de anúncios digitais (remote ad servers) podem controlar banners e outros mecanismos de publicidade on line em diferentes sites.
(7) http://www.ftc.gov/os/2012/12/121219copparulefrn.pdf
(8) Applet é um software aplicativo que é executado no contexto de outro programa (como por exemplo um web browser), executando funções bem específicas. Os Applets geralmente têm algum tipo de interface de usuário, ou fazem parte de uma dentro de uma página da web. Geralmente são desenvolvidos para aparelhos móveis que suportam o modelo de programação de applet. O termo foi introduzido pelo AppleScript, em 1993. AppleScript é uma linguagem de script que age sobre a interface do sistema operacional da Apple (Mac OS X), onde é possível realizar diversas mudanças e alterações de funcionamento e inclusive mesclar ferramentas e funções de um programa para outro (cf. Wikipedia).
(9) Um plugin ou módulo de extensão (também conhecido por plug-in, add-in, add-on) é um programa de computador usado para adicionar funções a outros programas maiores, provendo alguma funcionalidade especial ou muito específica. Geralmente pequeno e leve, é usado somente sob demanda. Uma aplicação pode utilizar tal técnica por diversos motivos, como permitir que desenvolvedores de softwares externos estendam as funcionalidades do produto, suportem funcionalidades antes desconhecidas, reduzam o tamanho do programa ou, até mesmo, separem o código fonte de diferentes componentes devido a incompatibilidade de licenças de software (Cf. Wikipedia).
(10) Ver a propósito, o excelente trabalho acadêmico de Lauren A. Matecki, intitulado Update: COPPA is Ineffective Legislation! Next Steps for Protecting Youth Privacy Rights in the Social Networking Era, publicado na Northwestern Journal of Law & Social Policy, Volume 5, Issue 2, 2010. Disponível em: http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njlsp/vol5/iss2/7
(11) Segundo notícia divulgada pelo National Center for Missing and Exploited Children, acessível em: http://www.missingkids.com/missingkids/servlet/NewsEventServlet?LanguageCountry=en_US&PageId=3166
(12) Um sumário e o texto completo do projeto podem ser encontrados em: http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d112:h.r.1895